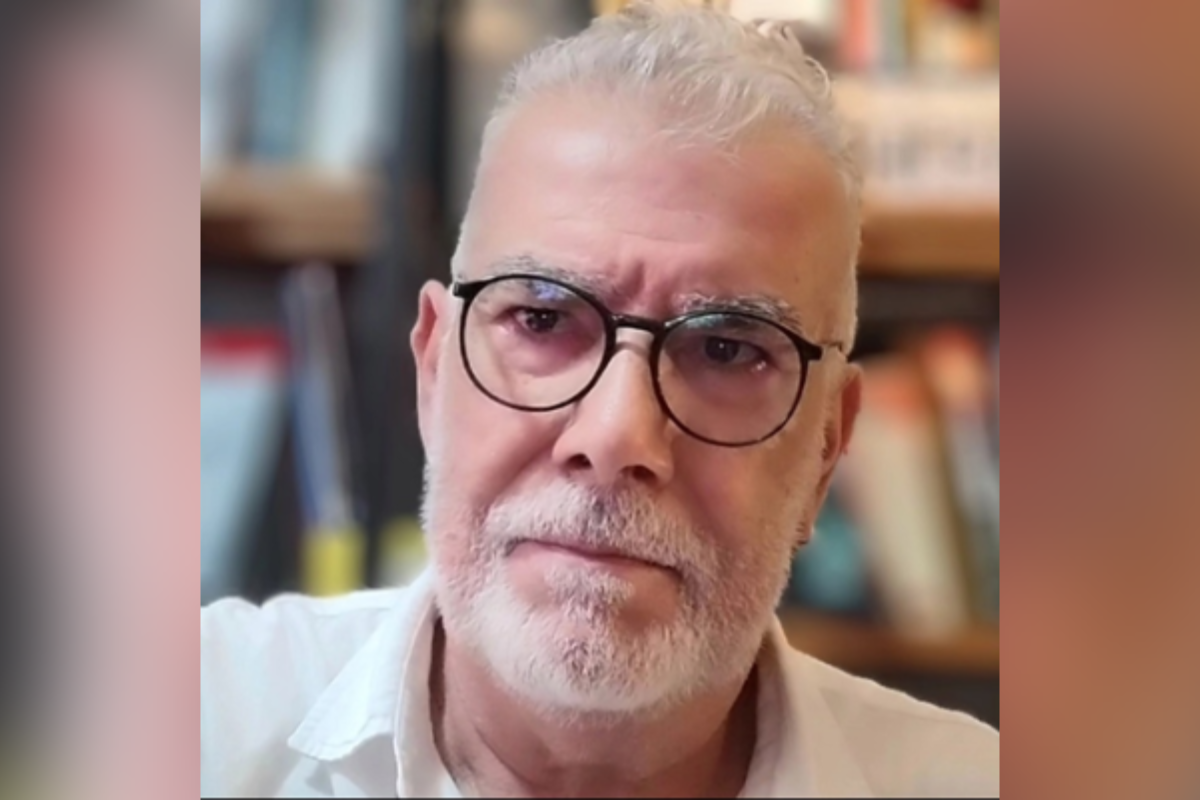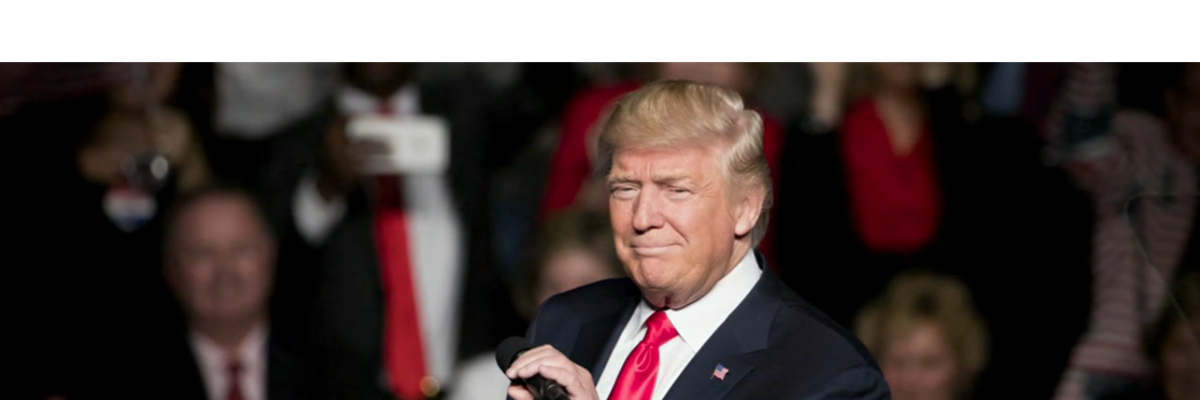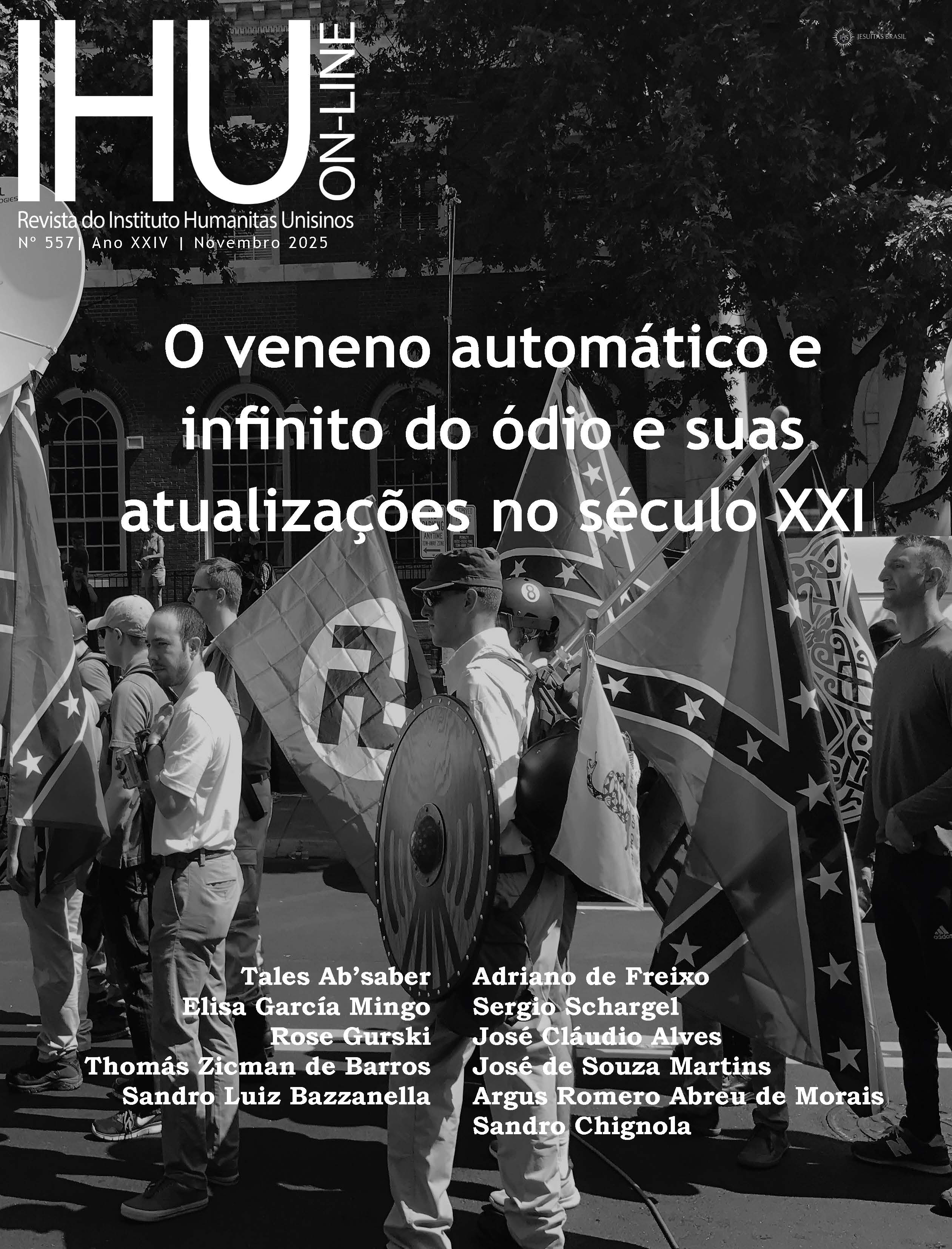08 Novembro 2025
"A tragédia, como nos lembra Alípio Freire, é que sobrevivemos à ditadura, mas ela também sobreviveu, sobretudo nas periferias. Superá-la é um desafio coletivo e urgente. E, para encará-lo, é preciso estar certo de que não há salvadores supremos", escreve Gabriel Miranda.
Gabriel Miranda é cientista social, professor do Instituto Federal do Pará (IFPA, Parauapebas, Brasil) e pesquisador visitante na Faculdade de Filosofia da Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU, Jena, Alemanha). Por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), obteve os títulos de doutor em Psicologia (2022), mestre em Psicologia (2018), licenciado em Ciências Sociais (2019) e bacharel em Gestão de Políticas Públicas (2015). Durante o ano acadêmico 2019-2020, foi estudante livre de doutorado na École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris, França) e, ao longo do primeiro quadrimestre do ano acadêmico 2022-2023, foi investigador visitante no Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social da Universidad de Salamanca (USAL, Salamanca, Espanha). Além disso, entre agosto de 2022 e julho de 2023, realizou Pós-Doutorado no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Publicou, pela LavraPalavra Editorial, os livros Necrocapitalismo: ensaio sobre como nos matam (2021) e Em defesa da dialética: ensaios sobre o Brasil (2023).
Eis o artigo.
Se a imagem vendida ao exterior ao longo do último século de um Brasil caracterizado pelo futebol, pela feijoada e pelo samba não se constitui propriamente como uma mentira, trata-se, no mínimo, de uma meia verdade, ou, ainda, de uma versão bastante simplificada e reducionista a respeito do que é o Brasil. Tal imagem mais serve para mascarar do que para explicar o que somos e aquilo que, de fato, nos constitui como nação.
Enquanto cientista social e estudioso do fenômeno da violência urbana, as lentes dos óculos que uso não me permitem analisar o país senão por aquilo que lhe está presente desde a sua fundação, muito antes da feijoada, do futebol e do samba se tornarem sinônimos da nossa identidade nacional. Refiro-me aqui à violência multiforme que nos marca desde o mau encontro com o colonizador, em 1500. E é a partir disso, isto é, da tomada da violência como elemento constitutivo da nossa formação social e subjetividade, que pretendo esboçar algumas notas, ainda no calor do momento, a respeito da megaoperação mortífera das polícias fluminenses nos Complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro de 2025.
De início, algo precisa ser informado de maneira categórica: a deliberada política de extermínio que hoje recebe holofotes pelo seu caráter mortífero e soma, até o momento, segundo os números declarados, 121 assassinatos, não é um ponto fora da curva do modelo de segurança pública adotado no Brasil. Mas o seu padrão de reprodução, a sua essência.
Enquanto projeto inconcluso de nação, ainda não superamos, no plano da segurança pública, a construção ficcional de inimigos e o extermínio desses como remédios para as mazelas sociais do país. Evidente que, conforme registra a história, tais remédios são amargos e não surtem o resultado esperado. E, ao asseverar isso, não se está excluindo o dado de que as chamadas facções criminosas representam, de fato, um problema a ser enfrentado, mas questiona-se a responsabilidade atribuída a elas na definição dos principais problemas da nação e, sobretudo, as táticas empregadas para enfrentar esses grupos criminosos.
Ora, para os que ocupam a máquina estatal, afirmar que os problemas das periferias urbanas, do sistema penitenciário (ou, ainda, do Brasil) são as facções criminosas é uma tarefa cômoda. Ao fazê-lo, cria-se um bode expiatório, um inimigo interno a ser destruído e, com isso, não se encaram os reais problemas da nação, como a desigualdade social, a superexploração do trabalho, a regressividade da carga tributária e o conjunto de direitos sociais não universalizados. Afinal, dentro da lógica daqueles que assumem esse discurso, nenhuma dessas questões é mais prioritária do que o enfrentamento às facções. Mas não se trata de enfrentamento com inteligência. Por outro lado, trata-se de operações sanguinárias que matam aqueles que ocupam as bases do empreendimento capitalista de produção e comércio de drogas ilícitas. Assassinatos e chacinas que não tocam nas estruturas de poder do tráfico de drogas.
O que insisto, pelo menos desde a publicação do livro “Juventude, crime e polícia: vida e morte na periferia urbana”, é que as facções são um produto da própria lógica capitalista de reprodução do capital. São, além disso, empreendimentos amparados pelo Estado, que mantém no campo do proibicionismo a questão das drogas e garante, assim, a principal atividade econômica desses coletivos criminais armados. Do ponto de vista operacional, para a indústria de drogas ilícitas, as 121 mortes decorrentes da referida operação no Rio de Janeiro são irrelevantes. Trata-se de soldados rasos que podem facilmente ser substituídos por outros, tendo em vista o contingente de jovens que, dadas as condições materiais de sua existência, veem limitadas as suas possibilidades de inserção no mundo do trabalho e acabam por engrossar as fileiras do comércio varejista de drogas. Mas, então, se essa megaoperação assassina e midiática de nada serviu para enfrentar o tráfico de drogas e armas nas periferias, a que ela serve?
Ainda que tal chacina, cinicamente denominada de Operação Contenção, de modo algum atue na redução da violência e da insegurança, há aqueles que compram essa tolice.
E os comentários nas redes sociais atestam que não são poucos os que ou acreditam se tratar de uma medida efetiva no combate à criminalidade ou simplesmente a apoiam por puro deleite no extermínio dos corpos historicamente marginalizados em nosso país. Precisamente por isso, tal operação foi chancelada pelo governador do Rio de Janeiro: pois produz capital político-eleitoral para ele e seu grupo de aliados.
Isto é, a morte, disfarçada de maior controle estatal da criminalidade, gera capital político, ainda que "excessos" sejam cometidos e diversas pessoas sem qualquer relação com o crime tenham sido vitimadas. Afinal, o Estado não irá assumir a culpa pelas mortes ou pelos demais transtornos causados no cotidiano e na vida das pessoas que vivenciaram o cenário de guerra produzido pela Operação Contenção. Ao contrário, como de praxe, transferirá a culpa às facções, na tentativa de que essa manobra discursiva enseje ainda mais legitimidade a ações correlatas das polícias.
Disso deriva a importância de seguir ocupando o espaço público, nas ruas e nas redes, buscando construir um outro modelo de segurança pública. Um modelo que, essencialmente, não coloque em polos distintos a insegurança urbana e a insegurança social que macula a vida de crianças e jovens nas periferias do país, tornando-os alvos fáceis da violência das facções e da polícia. Esse projeto de política de segurança pública que anseia nascer não deverá temer os poderosos, mas, ao contrário, enfrentá-los. Igualmente, não deverá ver os Direitos Humanos como uma excrescência, mas como um fundamento de sua prática.
Criticar a política de extermínio expressa no Rio de Janeiro (mas não apenas) e defender a garantia de direitos da população – inclusive daqueles que cometeram delitos – não se configura como uma oposição ao combate à criminalidade. Ao contrário, o que está em questão é precisamente jogar luz na ineficácia do atual modelo de combate à criminalidade, que viola a dignidade e a vida não apenas daqueles inseridos no comércio ilegal de drogas, mas também de policiais colocados nesse front e demais moradores da periferia, território privilegiado das operações policiais – ainda que, por exemplo, a maior apreensão de fuzis que já ocorreu no Rio tenha sido no Méier sem o disparo de um único tiro [1].
Da maneira como a atual política de segurança se organiza, as vítimas, a exemplo do massacre que motiva a escrita deste texto, são pobres, moradoras da periferia e quase todas negras. São os ninguéns, que valem menos do que a bala que os mata, como nos lembra o saudoso escritor uruguaio Eduardo Galeano. Mas como matar e enfileirar corpos sem gerar comoção, sem produzir revolta social, sem construir um luto coletivo? Para que esse empreendimento se torne exitoso, há que primeiro matar determinados sujeitos em vida: retirar deles o status de cidadão, de possuidor de direitos, de pessoa, de humano. Há que torná-los ninguém e criar uma linha intransponível entre aquele que merece viver e aquele que não apenas pode ser largado à própria sorte, mas que deve morrer.
Assim, por meio de processos contínuos e com raízes coloniais, transforma-se simbolicamente um conjunto de sujeitos marcados etnicamente, socialmente e economicamente não em compatriotas e cidadãos, mas em corpos matáveis. E aqui, sinceramente, pouco importa a denominação: matáveis, descartáveis, homo sacer etc. Importa a análise do real: no Brasil, há sujeitos que são lidos socialmente como inferiores e, a eles, o Estado, enquanto gestor do capitalismo, atua com mãos de ferro: na violência obstétrica, no cerceamento da manifestação da fé não cristã, na negação do acesso a políticas sociais e, evidentemente, na atuação não apenas das polícias, mas de todo o sistema de justiça.
A respeito desse processo de desumanização do Outro, a história tem bastante a ensinar. A criação de inimigos ficcionais mata em vida aqueles que, posteriormente, terão suas mortes biológicas legitimadas, seja por serem muçulmanos, judeus, comunistas ou “bandidos”. Afinal, como canta o hino dos reacionários, "bandido bom é bandido morto" – ainda que aqueles que bradam tal sentença não saibam precisar muito bem qual a classificação de bandido na qual eles se ancoram. Como mencionado em outra ocasião, para a justiça burguesa e o senso comum, mais importante do que o crime é aquele que o comete. Nesse sentido, na sociabilidade do capital, aos pobres, a carapuça de bandido veste melhor e, por isso, esses mesmos sujeitos se encontram mais vulneráveis ao hino dos reacionários.
A chacina no Rio de Janeiro nos ensina que 1492 e o massacre colonial ainda estão presentes. Ensina que Hitler está aqui e, infelizmente, caminha entre nós. A Palestina é aqui. Histórica e geograficamente, a morte se constitui como uma constante na história do capitalismo. Às vezes, como o seu principal combustível. Afinal, não podemos perder de vista que o desenvolvimento da Europa e a consolidação do projeto capitalista-moderno apenas foi possível graças ao sangue de crianças derramado na periferia do sistema-mundo, dizimadas com suas famílias em processos de ocupação territorial, trabalho escravo e rapinagem de recursos.
Marx, seguindo Hegel, estava certo ao afirmar que a história se repete. Porém, infelizmente, não apenas duas vezes. O ciclo (e aqui me permitam a adjetivação) maldito do capital se repete todos os dias, perpetuando a fome, a morte em vida e a morte biológica daqueles considerados sujeitos de menor importância para a ordem do capital. Não é o caucasiano que morre no bairro nobre em decorrência de uma intervenção policial. É o pobre, quase sempre negro, que morreu "por estar no lugar errado e na hora errada" ou "por estar envolvido com o crime". Percebam o cinismo liberal desses argumentos recorrentemente empregados para justificar a morte de alguém: a responsabilidade da morte é retirada do algoz e transferida à vítima.
Mas, como é importante registrar, este texto não trata da morte enquanto uma categoria abstrata. Por outro lado, aborda o morticínio de determinados grupos que, dentro da lógica de reprodução capitalista, contribui ativamente para atingir os seguintes objetivos: a) gerar demanda para a indústria bélica; b) dar resposta a um grupo social que clama por políticas de extermínio e, assim, produzir capital político-eleitoral; e c) a partir de ações inócuas, manter blindados os grandes esquemas de tráfico de armas e drogas.
Conforme insisto há alguns anos, o capitalismo é mais do que um modo de produção de mercadorias, é também uma forma de organização da vida e da morte. Para nós, da classe trabalhadora, sobretudo no Sul Global, a morte é aquilo que ele tem de melhor a oferecer: seja por meio de um tiro na cabeça ou, de maneira paulatina, em trabalhos precarizados que sugam nossa energia vital. Mas é evidente que esses processos de mortificação não são oferecidos de maneira homogênea. No Brasil, aqueles que mais sofrem os efeitos nocivos do capital e as principais vítimas desse extermínio têm cor, endereço, classe social e idade.
Enfrentar as facções perpassa não a exacerbação de um Estado penal e hiperautoritário, mas o incentivo à construção de um Estado forte que possa investigar de forma autônoma as redes internacionais de tráfico de drogas e armas. Para isso, faz-se necessário alterar primordialmente três coisas: o foco, a tática e o local dessas operações. Ora, alterar o foco do micro para o macro significa não ter como alvo final o varejista do comércio ilegal de drogas, mas os grandes empresários desse negócio. Por sua vez, substituir a tática de combate da violência sanguinária e desproporcional por operações alicerçadas em inteligência policial pautada em métodos de investigação permitiria reduzir consideravelmente o derramamento de sangue e obter resultados efetivos. Por fim, os territórios onde ocorre essa disputa, mal chamada de guerra às drogas, não podem mais seguir a lógica racista e classista de ataque às áreas mais vulnerabilizadas do espaço urbano. Afinal, os grandes chefes da rede empresarial de produção, comércio e circulação de drogas ilícitas não se encontram nas periferias. Há que cortar o mal pela raiz.
E, a fim de antecipar um argumento reiteradamente utilizado, respeitar os Direitos Humanos não é agir de modo complacente com o crime. Isso fazem os deputados brasileiros que votaram a favor da PEC da Blindagem. Uma política de segurança pública pautada na garantia de Direitos Humanos é o que, talvez, pudesse ter evitado o nascimento das principais facções criminosas brasileiras, que surgiram sob a tutela do Estado nos presídios, frutos das violações de direitos que ali se orquestravam. Uma política de segurança pautada na garantia dos Direitos Humanos evita que ciclos de violência e vingança se perpetuem, evita que famílias sejam destruídas e tenham que viver suas vidas com a ferida do assassinato sumário e do desaparecimento de algum familiar. Evita, por fim, que justiça se confunda com vingança.
A tragédia, como nos lembra Alípio Freire, é que sobrevivemos à ditadura, mas ela também sobreviveu, sobretudo nas periferias. Superá-la é um desafio coletivo e urgente. E, para encará-lo, é preciso estar certo de que não há salvadores supremos. Salvemo-nos, portanto, a nós mesmos, em organizações coletivas que pautem incessantemente a desmilitarização da polícia, o fim da política proibicionista de drogas – que alimenta as facções – e o fim das políticas de austeridade que limitam o orçamento dos governos com políticas sociais de saúde, educação, lazer, assistência social e segurança. Assim, na tentativa de canalizar em ação política a revolta que o massacre ocorrido na capital fluminense causa, encerro este texto com um poema-provocação retirado do livro “Escritos de amor e outros versos” (editora d3srazão, 2020):
Brasil
Um Estado sem nação
mas com três tipos de gente
os que matam, os que morrem
e aqueles que não se importam
Até quando?
Nota
[1] Trata-se da Operação Lume, realizada em 2019, na qual foram encontrados 117 fuzis na casa de Alexandre Mota de Souza Souza, amigo de Ronnie Lessa, condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Leia mais
- Massacre no Rio de Janeiro: “O Estado, nessa concepção, só existe para matar”. Entrevista com Michel Gherman
- Crimes contra a democracia são a efetivação do bolsonarismo visando a morte e a destruição como projeto. Entrevistas especiais com Michel Gherman, Piero Leirner e William Nozaki
- Terceiro governo Lula “tem mais cara de projeto de país”. Entrevista especial com Michel Gherman
- Gaza é o Rio de Janeiro. Gaza é o mundo inteiro. Artigo de Raúl Zibechi
- Periferias: Nossa Gaza em câmera lenta? Artigo de Ricardo Queiroz Pinheiro
- Massacre no Rio de Janeiro: “Quanto tempo uma pessoa precisa viver na miséria para que em sua boca nasça a escória?”. Entrevista especial com José Cláudio Alves
- Rio de Janeiro: o desfile macabro da barbárie na passarela de sangue da Penha. Entrevista especial com Carolina Grillo
- Identificada em restaurante, professora da UFF sofre ameaças de internautas após crítica a massacre no Rio
- Professora atacada por Gayer e Nikolas é ameaçada na web: “Dá uma pedrada nela”
- O massacre no Rio. Artigo de Frei Betto
- Massacre no Rio de Janeiro: a banalização do extermínio reforça o populismo penal e o racismo estrutural. Destaques da Semana no IHUCast
- 'Em poucos segundos jornalista derrubou por completo o circo do Cláudio Castro!' - X - Tuitadas
- Após megaoperação, Cláudio Castro é aplaudido de pé em missa na Barra da Tijuca
- O que está por trás do "Consórcio da Paz" de estados aliados
- "A 'visita' dos Governadores foi para montar um Consórcio da Guerra, não um Consórcio da Paz. Essa operação foi concebida para ser mais um elemento político do processo do 'golpe continuado', que ainda está em curso no país". X - Tuitadas
- O que diz o PL antifacção enviado por Lula ao Congresso
- Ação no RJ “coloca em questão o próprio Estado Democrático de Direito”. Entrevista com Pablo Nunes
- Massacre do Rio: o dedo da Faria Lima. Artigo de Ricardo Queiroz Pinheiro
- Massacre como o ocorrido no Rio de Janeiro pode ser considerado parte de política de segurança pública? Artigo de Cândido Grzybowski
- O Comando Vermelho, grupo carioca focado no narcotráfico, conta com 30 mil membros e está em expansão
- O desastre de uma megaoperação no Alemão e na Penha de um governo que terceiriza o seu comando. Artigo de Jacqueline Muniz
- Sensação de insegurança e medo leva Rio a noite de silêncio com bairros boêmios vazios
- Do CV ao PCC, como opera o crime organizado no Brasil?