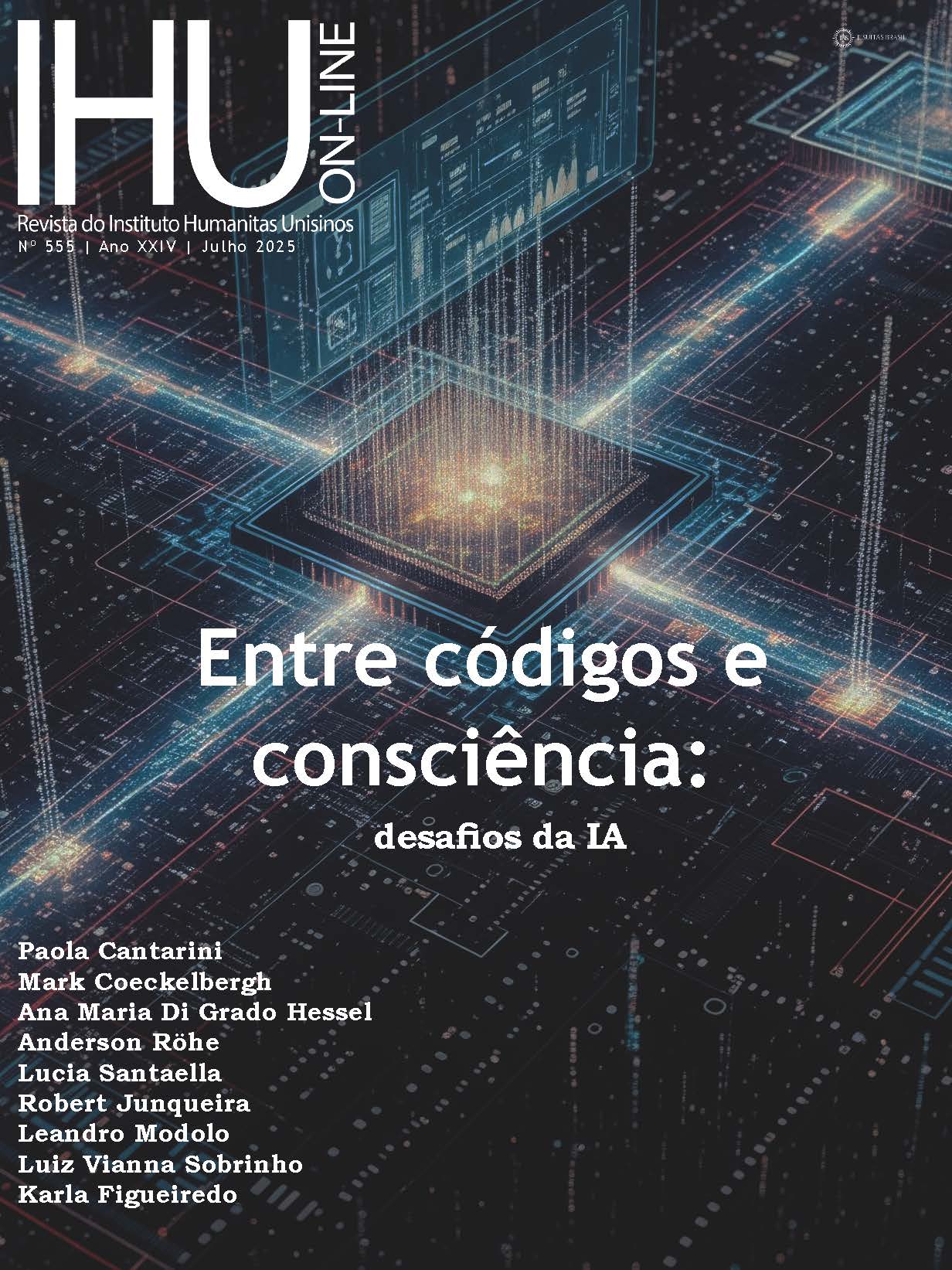04 Setembro 2025
Em um contexto de crescente autoritarismo global, surgem perguntas inevitáveis: Qual é o papel do Estado hoje? Como a violência e a governamentalidade se interseccionam? Os comuns mantêm um potencial emancipatório? Estas e outras questões foram o foco de um intenso intercâmbio entre o filósofo Pierre Dardot e um público de acadêmicos e estudantes do norte da Argentina, em um encontro realizado em maio na Universidade Nacional de Tucumán. A conversa entrelaçou reflexões críticas sobre as formas contemporâneas de poder e a resistência que elas provocam.
Pierre Dardot, professor da Universidade Paris-Nanterre, é reconhecido por seu trabalho em parceria com Christian Laval. Com A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal (Boitempo, 2016), eles reativaram o arcabouço biopolítico de Foucault para analisar a evolução do neoliberalismo até sua crise atual. Aí, redefiniram o neoliberalismo para além da política econômica, retratando-o como uma racionalidade dominante que permeia todas as dimensões da vida, universalizando a competição e moldando os indivíduos como “empreendedores de si mesmos”.
Este texto fundacional foi seguido por outros igualmente decisivos, como Comum. Ensaio sobre a revolução no Século XXI (Boitempo, 2017), no qual elaboram a noção de racionalidades alternativas enraizadas em práticas comunitárias, e A escolha da guerra civil. Uma outra história do neoliberalismo (Elefante, 2021), uma crítica genealógica da lógica militarizada do neoliberalismo. Seus trabalhos também se estenderam para a América Latina – especialmente para o Chile – tornando-os um ponto de referência essencial para a compreensão das transformações políticas e sociais da região.
A entrevista é de Dolores Marcos, Gustavo Robles, María José Cisneros e Alejandro Ruidrejo, publicada por Viento Sur, 30-08-2025. A tradução é do Cepat.
Dolores Marcos é professora de Filosofia Social e Política na Universidade Nacional de Tucumán.
Gustavo Robles é pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Passau, Alemanha, e membro do IRGAC (International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies).
María José Cisneros é professora de Pensamento Latino-Americano na Universidade Nacional de Tucumán.
Alejandro Ruidrejo é professor de Filosofia Contemporânea na Universidade Nacional de Salta, Argentina.
Eis a entrevista.
Direitos coletivos para além do Estado?
Dolores Marcos: Professor Dardot, com seu trabalho aprendemos a pensar o neoliberalismo como uma racionalidade que não apenas reorganiza a economia, mas também reconfigura as relações sociais e as subjetividades. Uma racionalidade que, além disso, corrói a democracia e os direitos sociais, ou seja, os próprios fundamentos da igualdade. O atual governo argentino demonstra isso claramente: combina neoliberalismo extremo com ultraconservadorismo, que se traduz em violência estatal, repressão a protestos e ataques sistemáticos aos movimentos sociais.
Mas a história argentina também é marcada por resistências. Durante a ditadura, por exemplo, as Mães da Praça de Maio ampliaram a luta pelos direitos humanos, e essas lutas se expandiram posteriormente para questões trabalhistas, territoriais e de gênero. Você argumenta que o Estado não pode ser um instrumento de libertação e que é necessário redefinir os direitos para além da cidadania liberal, rejeitando tanto o fundamentalismo de mercado quanto a dominação estatal.
Agora, diante da atual espoliação violenta de direitos, podemos nos dar ao luxo de ignorar o Estado? Não deveríamos, taticamente, envolvê-lo na defesa dos direitos enquanto construímos contraestratégias que vão além da democracia liberal, sem cair na idealização do Estado de bem-estar social? Você acha possível equilibrar essa defesa urgente do presente com projetos mais amplos de construção de alternativas?
Pierre Dardot: Para responder a essa pergunta, precisamos retornar à genealogia do direito, de modo especial à ideia de cidadania fundada na lei. Nesse contexto, a proposta de um pacto tático entre movimentos sociais, forças emancipatórias e Estado é problemática: não há linguagem comum nem horizonte verdadeiramente transformador. Se nos limitarmos a recuar em direção à defesa de direitos adquiridos, não deteremos nem a agenda de Milei nem a da extrema-direita global.
Essa abordagem defensiva se baseia em uma premissa equivocada: pensar que o reagrupamento em torno de direitos legais e o consenso pode garantir um apoio social mais amplo diante de ameaças autoritárias. Mas uma estratégia puramente defensiva nunca é suficiente para enfrentar os conflitos profundos que alimentam a política reacionária. Se entendermos a cidadania como um escudo jurídico estático, e não como um terreno de luta, acabamos entregando o campo ideológico à extrema-direita. E poderia ser pior: cada contestação judicial somente reforça a radicalização antissistema de figuras como Trump ou Milei.
Para sair desse impasse, precisamos reconhecer que os direitos são uma construção histórica. Primeiro vieram os direitos civis, depois os direitos políticos, depois os direitos sociais e, a partir da década de 1970, expandiram-se para incluir os direitos de gênero, o feminismo e a proteção das minorias. Essa jornada introduziu uma dimensão coletiva fundamental, que transformou os direitos de simples garantias individuais em verdadeiras ferramentas de emancipação coletiva. Pensemos nos movimentos trabalhistas lutando pela democracia no trabalho, nas comunidades indígenas defendendo autonomia territorial, nos coletivos feministas lutando por justiça reprodutiva ou nos ativistas LGBTQ+ reivindicando reconhecimento: todos demonstram como os direitos se tornaram veículos de empoderamento coletivo.
O processo constitucional chileno (2020-2023) trouxe essa tensão à tona. Foi a primeira convenção do mundo com paridade de gênero e forte representação indígena, e propôs enormes inovações: reconhecimento plurinacional dos povos indígenas com autonomia territorial e participação política, paridade em todas as instituições estatais, direitos ambientais que davam personalidade jurídica aos ecossistemas e direitos trabalhistas concebidos como proteções coletivas em vez de individuais. Essa ambição desencadeou uma reação conservadora. A campanha do “Rechazo” se baseou no medo dos direitos coletivos. O caso chileno nos deixa com um dilema claro: ou recuamos para o individualismo liberal – como refletido na atual reformulação conservadora da Constituição –, ou avançamos com lutas coletivas que reimaginam os direitos como instrumentos de poder popular.
A defesa dos direitos coletivos não se resume a fazer reivindicações legais: trata-se de exigir justiça social real. Essas lutas desafiam a ficção neoliberal de que a igualdade é alcançada apenas através de direitos individuais e mostram como os sistemas jurídicos, que se apresentam como “neutros”, na verdade protegem privilégios. Milei responde a essas demandas com um roteiro repetitivo: ele diz que os direitos coletivos violam a liberdade individual, a propriedade privada e a ordem espontânea. É o manual clássico da extrema-direita global.
É por isso que a justiça social é indispensável: porque coloca os direitos coletivos no centro e nos recorda que a emancipação não pode ser alcançada apenas por meio de demandas individuais. Na Argentina, as lutas pós-ditadura – pelos direitos trabalhistas, direitos à terra, direitos das mulheres e direitos dos povos indígenas – deixam isso claro: mudanças transformadoras sempre exigiram ação coletiva.
Quando falamos do Estado como um “campo de batalha”, nos referimos precisamente ao espaço que os movimentos sociais vêm disputando desde 1983. Mas uma distinção importante deve ser feita: um campo de batalha e uma arma são coisas completamente diferentes. O Estado pode e deve ser um terreno de conflito, mas devemos encará-lo pragmaticamente, não com abstrações. Perguntas como “o que é o Estado?” são muito genéricas. O que importa é ver que forma concreta ele assume hoje e como pode ser efetivamente disputado.
Nessa perspectiva, garantir direitos coletivos garantidos pelo Estado pode abrir caminho para mudanças estruturais. Mas a transformação exige uma dupla pressão: dentro das instituições e, ao mesmo tempo, uma mobilização apoiada de baixo para cima. Os movimentos sociais devem liderar essa ofensiva e se relacionar com o Estado com pragmatismo: nem cair no purismo anarquista, que deixa o poder institucional nas mãos dos inimigos, nem no instrumentalismo estatista, que confunde ocupar cargos com ter poder real. A conclusão é clara: quando os movimentos abandonam a luta pelos direitos coletivos e se limitam à defesa de direitos individuais, eles não evitam o conflito; o que fazem é garantir que seus adversários imponham as regras do jogo.
A racionalidade política da violência
Gustavo Robles: Parece que estamos entrando em uma nova fase da crise do neoliberalismo, marcada por uma radicalização da direita. Trata-se de uma guinada autoritária dentro da reconfiguração política global que começou após a crise de 2008 e, na última década, foi consolidada pelos chamados populismos de direita. Diferentemente do neoliberalismo tecnocrático ou dos populismos soberanistas, esta fase é caracterizada pela violência desenfreada – o que você chama em seu livro de “escolha da guerra civil”. Essa violência se manifesta tanto em conflitos abertos (o genocídio na Palestina, os bombardeios no Oriente Médio, as guerras na África, as fronteiras militarizadas da Europa) quanto em crueldades políticas e simbólicas (o niilismo de Trump, a política da motosserra de Milei, os espetáculos punitivos de Bukele).
Hoje, a violência atua simultaneamente como meio e mensagem: ela não precisa mais de justificativa jurídica ou cobertura diplomática. Minha pergunta é: se a racionalidade neoliberal moldava os sujeitos através do individualismo empreendedor, como você e Laval mostraram em A nova razão do mundo, como são produzidas agora as subjetividades que reivindicam sua própria opressão por meio da crueldade espetacularizada? Que arcabouço analítico nos permitiria compreender essa nova violência para além da mera indignação moral? E, sobretudo, como essa violência reconfigura nossas formas de convivência e possibilita novas subjetividades autoritárias?
Pierre Dardot: Esta questão tem particular importância para mim e para Christian Laval, especialmente a partir do nosso livro de 2009, A nova razão do mundo. Para compreendê-la, precisamos retornar ao verdadeiro terremoto intelectual que a publicação das palestras de Foucault, O nascimento da biopolítica, em 2004, causou na França. Ler aquele texto na época foi um choque enorme, porque o discurso dominante – especialmente na esquerda francesa – continuava a descrever o neoliberalismo como puro e simples darwinismo social, como se fosse uma selva. As palestras de Foucault desafiaram diretamente essa caricatura.
Esse encontro com Foucault nos levou ao seu conceito de governamentalidade, que continua incrivelmente útil para pensar as formas atuais de poder. O que ele entendia por governamentalidade? Basicamente, a arte de dirigir os indivíduos indiretamente, de fazê-los agir como você quer, sem ter que lhes dar ordens explícitas ou impor-lhes nada diretamente. Em 1979, quando ele proferiu essas palestras, os governos europeus estavam apenas começando a adotar essa racionalidade neoliberal. Curiosamente, Foucault já era capaz de enxergar distinções-chave naquela época, insights que são essenciais hoje para compreender e questionar o que estamos vivenciando.
No entanto, entre 2015 e 2017, assistimos a uma mudança fundamental: o neoliberalismo abandonou sua fachada gerencial e começou a assumir formas cada vez mais autoritárias, permitindo que a violência se expressasse de forma muito mais direta do que no período que analisamos em A nova razão do mundo. Isso nos forçou a repensar tudo e recalibrar a análise em A escolha da guerra civil (2021). Ao longo do caminho, descobrimos uma coisa que havíamos ignorado: desde a década de 1930, figuras centrais do neoliberalismo já justificavam a violência contra movimentos democráticos, que viam como uma ameaça à governabilidade.
Pessoalmente, após várias viagens ao Chile, fiquei profundamente surpreso ao ver que no curso de Foucault de 1979 não havia nenhuma referência à ditadura de 1973. Nem nós mesmos mencionamos Pinochet em A nova razão do mundo, escrito décadas após o golpe. Isso era um problema, porque o regime de Pinochet exigia outro enquadramento: não podia ser analisado usando a categoria de governamentalidade de Foucault. Esse conceito só se tornou útil depois de 1989, quando a ditadura terminou e surgiu um tipo de governamentalidade semelhante àquele que havíamos estudado.
Trabalhando com o grupo do Laval, revisitamos a história do neoliberalismo e compreendemos a centralidade da violência na racionalidade que domina o nosso presente. Um mergulho mais profundo nessa análise nos levou a redescobrir textos-chave, como Liberalismo (1927), de [Ludwig] von Mises, que justificava abertamente a violência contra as massas. Em meio à Viena Vermelha, sitiada por batalhões de trabalhadores, Von Mises – um dos pais do neoliberalismo – chegou inclusive a legitimar o fascismo italiano da década de 1930 como uma espécie de refúgio provisório para a civilização contra a “barbárie” dos trabalhadores. Uma lógica binária permanece em vigor e persiste até hoje: propriedade privada igual a civilização, demandas sociais igual a barbárie. E essa lógica reaparece como justificativa para a violência no nosso presente.
Esse contexto histórico nos ajuda a compreender declarações perturbadoras como a recentemente feita por Milei, invertendo a teoria da exploração para afirmar que, na verdade, são os trabalhadores que exploram os capitalistas. Isso não é nenhuma novidade, mas a reativação de antigas justificativas para a violência. É por isso que digo que a categoria de governamentalidade não é mais suficiente. Hoje precisamos falar de contrarrevolução: o que vemos não é conservadorismo, mas uma ofensiva sistemática que visa apagar décadas de conquistas sociais. Estamos testemunhando uma verdadeira “escolha da guerra civil” contra direitos coletivos duramente conquistados. Isso vai muito além da política conservadora; é mais radical, mais perigoso e nos obriga a reconhecer as raízes históricas da violência no neoliberalismo. Essa é a trajetória que tentamos iluminar em A escolha da guerra civil.
O comum contra o Leviatã
María José Cisneros: Em seu livro de 2014, Comum (em coautoria com Laval), você mostrou que resistir ao neoliberalismo requer muito mais do que medidas defensivas: requer organizar-se em torno do comum através de práticas constituintes capazes de transformar as instituições em formas de autogoverno radical. Longe de ser uma abstração, esse princípio inspirou lutas anticapitalistas em todo o mundo.
Na Argentina, desde 2001, o comum floresceu em movimentos da economia popular e, em seguida, se expandiu com coletivos feministas e dissidentes que articularam lutas antipatriarcais, anticoloniais e anticapitalistas, construindo relações sociais alternativas. Não é de surpreender, portanto, que o governo Milei, obcecado pela firme defesa do mercado, ataque esses movimentos e os despreze como “gestores da pobreza” ou buscadores de “privilégios”.
Isso levanta questões urgentes: podem as práticas do comum ir além da reforma institucional e imaginar futuros inteiramente novos? Quais exemplos atuais melhor servem para enfrentar o autoritarismo? Onde estão seus limites? Como podem interagir com a política institucional – partidos, sindicatos, Estado – ou mesmo transformá-la? É possível que essas estruturas tradicionais se tornem espaços do comum, apesar de suas contradições?
Pierre Dardot: Uma das principais limitações das iniciativas baseadas no comum é o seu isolamento: muitas vezes operam desconectadas umas das outras. Na Argentina, em 2001, havia uma forte coordenação, mas hoje o panorama é diferente, e o mesmo se aplica à Europa. Mesmo assim, as tentativas de estabelecer conexões aparecem repetidamente à margem dessas experiências. E é importante enfatizar que o comum não se limita a cooperativas ou pequenas instituições locais: ele também se desenvolve dentro dos movimentos sociais; está sempre ancorado em contextos sociais específicos.
Um exemplo recente na França ilustra bem isso: diante do fechamento iminente de uma fábrica essencial para uma comunidade, a CGT – o principal sindicato do país – formou uma aliança sem precedentes com quatro organizações ambientalistas. Foi a primeira convergência real entre sindicatos e movimentos ambientalistas. A luta contra as demissões assumiu, assim, uma dimensão ecológica. E isso é importante porque mostra uma maneira concreta de superar a fragmentação, justamente aquilo que os adversários buscam impedir, bloqueando a coordenação e as alianças. A incorporação de preocupações ambientais pelo sindicato em sua agenda é, portanto, um passo muito significativo.
Quanto aos partidos políticos e ao Estado – deixemos os sindicatos de lado por um momento –, há um limite estrutural difícil de superar: os partidos foram formados em torno dos objetivos e da lógica do Estado. É por isso que não podemos esperar que se tornem verdadeiros “campos de batalha” contra líderes como Milei, como talvez tenha acontecido em contextos como o da Argentina em 1983. A metáfora do campo de batalha não deve ser estendida aos partidos: sua lógica é monopolizar a política como uma questão puramente estatal. E isso se aplica tanto àqueles que agem de fora do Estado com o objetivo de conquistá-lo quanto àqueles que trabalham de dentro para defendê-lo.
Transformar os partidos em espaços de confronto exige uma coragem extraordinária. O caso do Podemos na Espanha é um bom exemplo: nasceu em 2015 como um partido diferente, “orientado para o processo” e com a promessa de democratização interna. Mas, em 2017, já havia se desviado para o populismo nacionalista. Inicialmente, abriu espaços para a participação popular e incorporou coletivos diversos, mas as disputas pela liderança e a profissionalização política acabaram prevalecendo, assimilando-o à lógica tradicional. Sua aliança com o PSOE de Sánchez confirmou essa dinâmica de subserviência ao Estado em vez de mudança transformadora.
Algo semelhante está acontecendo agora na França com a nova Frente Popular após as eleições de 9 de junho de 2024, que dissolveram a Assembleia Nacional. No início, demonstrou a disposição de unir todos os partidos progressistas e de esquerda – ecologistas, socialistas e muitos outros grupos –, mas manter essa unidade parece improvável em meio a uma campanha presidencial marcada por múltiplas candidaturas e agendas concorrentes.
Governar pelo cuidado
Alejandro Ruidrejo: Você mencionou a ausência de referências de Foucault à experiência neoliberal chilena. Gostaria de conectar essa omissão a uma coisa: nas poucas ocasiões em que Foucault se deteve em experiências políticas ou de governança na América Latina, aparece sua breve análise das Missões Jesuítas do Paraguai. Essas chamadas repúblicas comunistas cristãs foram um verdadeiro desafio ao pensamento neoliberal – de Von Mises a Louis Baudin e muitos outros, foram interpretadas como um problema. A ratio gubernationis jesuíta das missões desafiou diretamente a racionalidade neoliberal.
Seguindo essa linha, a figura do Papa Francisco também emerge das mudanças no jesuitismo e no poder pastoral na América Latina, mantendo uma voz crítica ao neoliberalismo. Em nosso país, ele também se tornou uma referência em torno da qual se aglutinaram organizações sociais e perspectivas críticas sobre as formas como somos governados. Acredito que houve um bloqueio nas genealogias do poder pastoral, um bloqueio que perdura até hoje e afeta tanto as formas de governo quanto o próprio exercício da crítica. Qual a sua opinião sobre tudo isso?
Pierre Dardot: Em Segurança, território, população (Martins Fontes), Foucault dedica vários capítulos ao poder pastoral e traça sua genealogia a partir dos séculos IV e V, quando se institucionalizou junto com a Igreja. Diferentemente das primeiras comunidades cristãs, este modelo – encarnado na figura do bispo como pastor – implicava um cuidado individualizado do rebanho: cada ovelha recebia uma atenção particular. O importante é que Foucault mostra como esse poder combina duas lógicas: uma individualizante, que se adapta a cada caso, e uma integradora, que garante a coesão do conjunto. E ele enfatiza repetidamente que seu objetivo final era a salvação das almas.
No entanto, esse conceito é profundamente distorcido em sua apropriação política moderna. Durante a ditadura chilena, por exemplo, a Opus Dei utilizou imagens pastorais para justificar a repressão, pervertendo completamente seu significado original. Enquanto os jesuítas na América Latina – certamente com um papel ambivalente – às vezes encarnavam um pastoralismo protetivo (como nas missões paraguaias do século XVII), a realidade atual é diferente. A apropriação moderna do poder pastoral pelo Estado não tem mais nada a ver com essas práticas dos jesuítas.
A Igreja devastada não cumpre mais esse papel. Hoje, o Estado assume o poder pastoral por meio de instituições como a medicina, a psiquiatria e a educação: mecanismos de controle social e gestão material completamente desconectados da salvação espiritual. A relação Estado-cidadão se organiza agora como um poder pastoral transformado, combinando individualização serializada com integração.
O caso do autismo exemplifica bem isso, tanto na Argentina como na França – e é algo que Foucault intuiu em seus trabalhos posteriores. Observa-se que o discurso neoliberal celebra certos autistas, especialmente aqueles com Síndrome de Asperger, como se fossem gênios, “superiores” em competitividade intelectual, ao passo que silencia sobre aqueles com dificuldades de linguagem ou raciocínio. Na Argentina, a pedagogia é mais diferenciada; na França, porém, predomina o modelo da igualdade formal, onde os alunos autistas são obrigados a fazer o mesmo que os neurotípicos. E aí se vê a armadilha: essa apropriação neoliberal do discurso antidiscriminação acaba gerando uma violência sutil, porque a uniformidade imposta expulsa.
O resultado? Muitas pessoas autistas são expulsas do ensino regular e acabam confinadas em instituições para “autistas violentos”, cuidadas por profissionais treinados em técnicas de sujeição. Por trás da retórica da inclusão, esconde-se um tratamento que beira a criação animal – um sistema discriminatório que Foucault teria reconhecido imediatamente. O poder pastoral se apresenta como benevolente, mas sua análise revela seu reverso: um regime estatal que exerce novas formas de violência através de mecanismos de controle disfarçados de cuidado.
Leia mais
- Pierre Dardot e Christian Laval. Artigo de Youness Bousenna
- “O neoliberalismo é um totalitarismo invertido”. Entrevista com Alain Caillé
- “A verdadeira face do neoliberalismo é a do Estado que se tornou fiador dos bancos”. Entrevista com Pierre Dardot
- “A subjetivação neoliberal leva ao medo da democracia radical”. O Chile visto por Pierre Dardot
- Anatomia do novo neoliberalismo. Artigo de Pierre Dardot e Christian Laval
- No tecnofascismo contemporâneo, o neoliberalismo é um ponto de partida, não de chegada. Entrevista especial com Felipe Fortes
- O que o neoliberalismo já não explica: sobre cegueiras conceituais, lutas em curso e a necessidade da reinvenção democrática. Artigo de Felipe Fortes
- Entre a extrema-direita e o conservadorismo radicalizado. Entrevista com Natascha Strobl
- “Milei é um populista de extrema direita, um louco ideológico”. Entrevista com Federico Finchelstein
- A ascensão da extrema direita. Artigo de Alejandro Pérez Polo
- Esquerda deve ter estratégias de comunicação para vencer extrema direita, diz pesquisadora
- Intelectuais alertam sobre o avanço da extrema direita
- Argentina. Mudança: consequências e questões. Artigo de Washington Uranga
- Um fascismo renovado percorre a Europa
- Um desafio para a Europa: Giorgia Meloni e seu partido de extrema-direita, Fratelli D’Italia
- O mapa mundi se povoou de ultradireitistas. De Le Pen e Salvini na Europa, passando por Duterte, nas Filipinas, até Bolsonaro, no Brasil
- “O neoliberalismo é um modo de totalitarismo”. A psicanalista Nora Merlin e o novo paradigma político