16 Janeiro 2018
“A intenção do livro do Apocalipse é a de nos fazer levantar a cabeça para o fim da história, que não é o desembarque em um abismo destrutivo, mas sim um êxito de redenção, libertação e salvação, mesmo que agora estejamos atolados no pântano fervente e ensanguentado do mal, da violência e da injustiça.”
A opinião é do cardeal italiano Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, em artigo publicado por Il Sole 24 Ore, 14-01-2018. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
Eu acredito que, para muitos leitores – e isso também vale para mim –, Joseph Rudyard Kipling, o escritor nascido em Bombaim em 1865 e falecido em Londres em 1936, está cravado na memória pelo seu “Livro da selva” (na verdade, tratava-se de dois “livros” publicados em 1894-1895), com aquele inesquecível Mowgli, o “filhote de homem” criado por uma loba.
Na realidade, a sua produção literária foi muito mais ampla, tanto que foi submetida a uma crítica ferrenha, porque ele era considerado por algumas como o corifeu da pax britânica imperialista.
Ora, na sua imponente bibliografia [...],também nos deparamos com um conto cujo título, The Mark of the Beast [A marca da Besta], confirma mais uma vez como a Bíblia é central na história da cultura ocidental (o famoso “grande código”, como dizia William Blake após o renomado ensaio homônimo de Northrop Frye).
Pois bem, quem tem um certo costume com o “código” das Sagradas Escrituras imediatamente reconhece naquele título uma referência ao livro do Apocalipse, onde há uma monstruosa Besta, símbolo talvez da Roma imperial perseguidora dos cristãos (a obra deve ser posta provavelmente no fim do século I, sob o duro regime do imperador Domiciano).
No capítulo 13, afirma-se: “A Besta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca (cháragma, em grego, uma espécie de “caráter” gravado) na mão direita ou na fronte (...) isto é, o nome da Besta ou o número do seu nome” (versículos 16-17).
Reencontro a referência ao conto de Kipling e à sua reformulação narrativa em um breve comentário sobre o Apocalipse de recorte espiritual e existencial, preparado por um escritor e jornalista, Giampiero Comolli, que há muito tempo promove “seminários de meditação”.
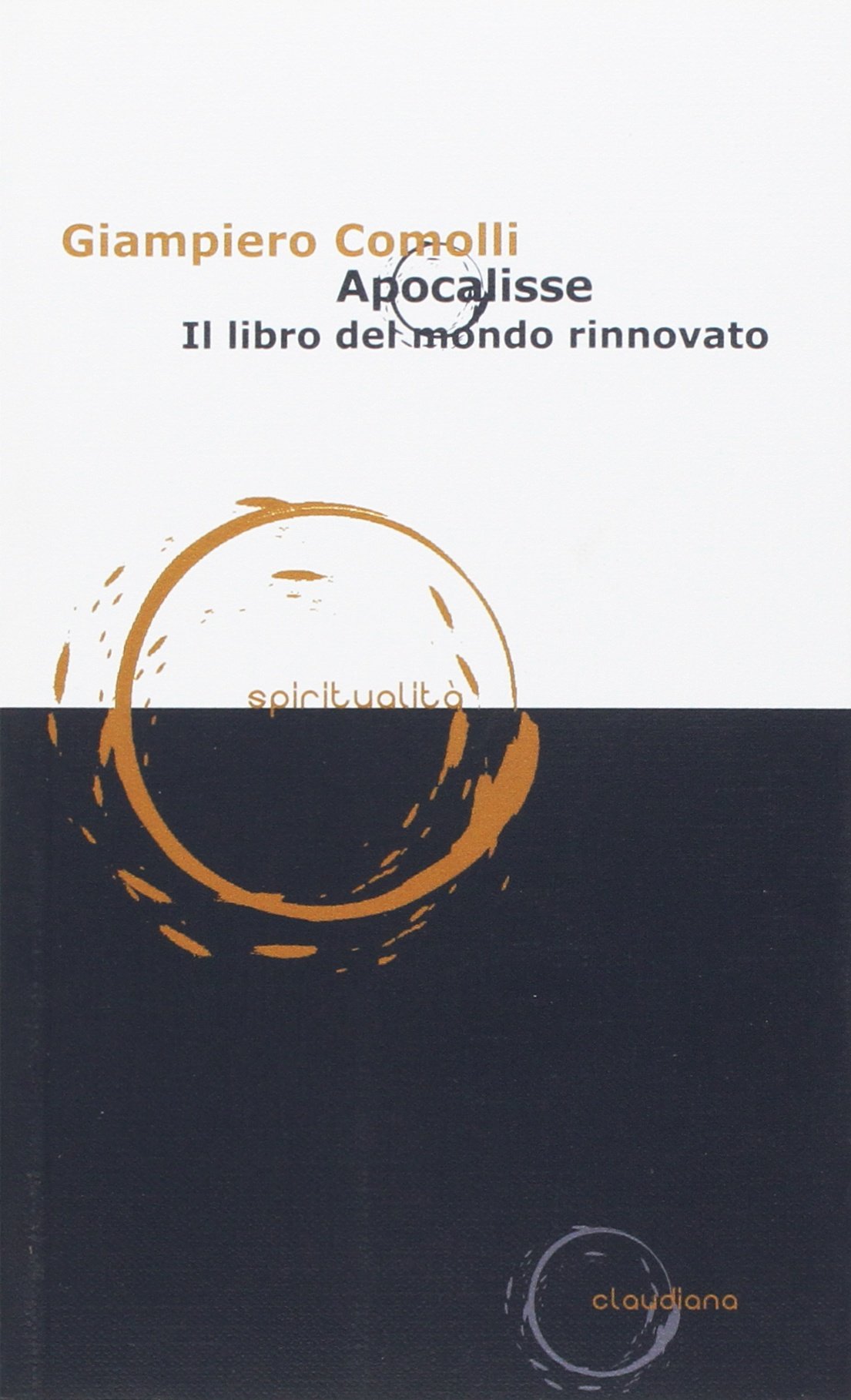
À primeira vista, pareceria pouco adequado a uma atmosfera de silenciosa quietude reflexiva um texto aparentemente tão bombástico, semelhante a uma palingênese para coro, solistas, orquestra (há ainda um setenário de trombetas), riscado com luzes estroboscópicas, com aparatos simbólicos desenfreados, com cenografias impressionistas e atravessado por uma tensão veemente.
São Jerônimo, o grande tradutor latino e intérprete da Bíblia, já não hesitava em escrever que, “no Apocalipse, as palavras são tantas quanto os mistérios (...) e sob cada palavra escondem-se muitas verdades”. Tudo isso contribuiu para tornar esse livro, no senso comum, um monumental horóscopo de desastres e catástrofes e um palimpsesto de mistérios.
Na realidade – e Comolli aponta para isso – essa “revelação” (este é o significado do termo grego apokálypsis) “abre em nós, versículo após versículo, inesperados horizontes de confiança e de alegria, até mesmo de bem-aventurança”. Sim, porque, enquanto somos levados pela mão através das epifanias satânicas do mal da história às quais não é possível escapar, configura-se progressivamente aquela meta final da obra, que não é o lago de fogo infernal, mesmo que real e realista, mas sim a transfiguração da Jerusalém nova e celeste que se instala na trama das vicissitudes humanas, redimindo-as.
Sob essa luz, é correto o recorte hermenêutico que tinha sido intuído por aquele grande diretor que foi Andrei Tarkovsky, que se sentiu tentado a criar um filme sobre o Apocalipse: “Seria errado pensar que essa obra, talvez a maior criação poética que já existiu sobre a Terra, contém apenas a ideia da punição. O mais importante contido nela, em vez disso, é a esperança”.
Outras vezes, resenhamos comentários ou ensaios sobre esse escrito “profético” (é assim, de fato, que ele se autodefine) e sempre desmistificamos a ideia de que ele quer definir o fim do mundo. A sua intenção, em vez disso, é a de nos fazer levantar a cabeça para o fim da história, que não é o desembarque em um abismo destrutivo, mas sim um êxito de redenção, libertação e salvação, mesmo que agora estejamos atolados no pântano fervente e ensanguentado do mal, da violência e da injustiça.
Precisamente por isso, é decisivo decifrar a extraordinária gramática simbólica das páginas apocalípticas, soprando delas a tradicional coloração interpretativa exclusivamente aterrorizante, à la Apocalypse Now.
É isso que faz, em um precioso ensaio, um importante exegeta canadense, Jean-Pierre Prévost: a partir da infindável paleta de símbolos oníricos, cósmicos, históricos, cromáticos, zoomórficos, numéricos (entre cardinais, ordinais, fracionários, contam-se 283!), ele cria um verdadeiro léxico de mais de 60 vocábulos, começando justamente por aquela marca que contém “o nome e o número da Besta”.
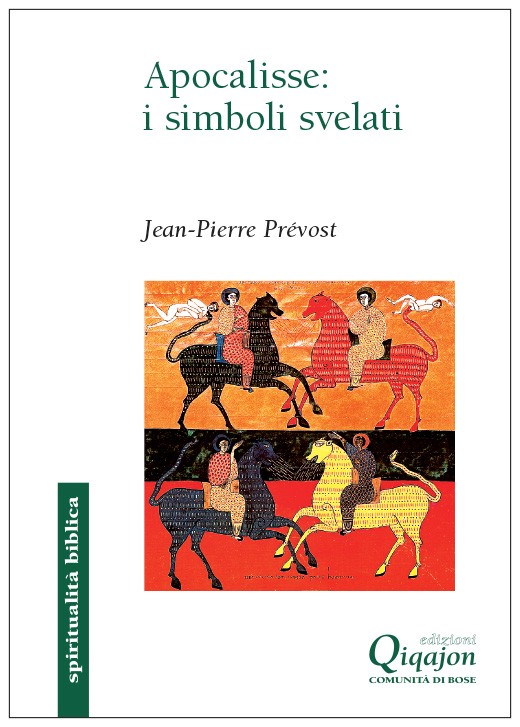
E é sempre João, o Vidente do Apocalipse, que nos indica aquela cifra, isto é, o célebre 666. Prévost desdobra todo o aparato exegético que se esforçou para identificar o significado daquele número bastante sombrio, se é verdade que, para a Bíblia, o 7 é o emblema da perfeição e da plenitude. Um exercício que se complica, porque, na práxis antiga, cada letra do alfabeto era emparelhada a um número, de modo a poder criar um caleidoscópio numérico criptotextual.
O estudioso mostra, então, todas as combinações possíveis, incluindo aquela mais conhecida que entrevê o nome “Nero César” através de uma complexa equivalência rítmica nas correspondências numéricas das letras hebraicas daquele nome, ou seja, NRWN QSR (mas o livro está escrito em grego...). Deixamos que os leitores descubram a opção de Prévost, tão realista e fluida a ponto de parecer talvez decepcionante aos seus olhos...
Mas a viagem proposta nessa floresta de símbolos revela muitas outras surpresas em uma fantasmagoria de imagens apenas aparentemente comuns, como os gafanhotos, os cálices, os chifres, a espada, a estrela, o terremoto, o trovão, a prostituta e assim por diante. Sobre esta última, somos indiretamente levados de volta para a Besta a partir da qual partimos e da qual ela é um pouco um sinônimo simbólico: pense-se que, nas 46 vezes em que o termo grego theríon (“besta”) se repete em todo o Novo Testamento, nada menos do que 39 estão inseridas no Apocalipse.
A matriz metafórica emerge ainda no livro bíblico de Daniel, uma das fontes do Vidente, e é assim explicitada por Prévost justamente com base no capítulo 13 que já referimos: “A Besta está firmemente ancorada na história do poder político e econômico do século I dominado pela Roma imperial, sedenta de poder e de sangue, pronta para impor a sua ‘marca’ tanto no plano econômico, quanto no plano ideológico. Neste último plano, João contesta radicalmente as pretensões da Besta a um estatuto divino, qualificando-as como blasfemas”.
- Giampiero Comolli. Apocalisse. Il libro del mondo rinnovato. Turim: Claudiana, 224 páginas.
- Jean-Pierre Prévost. Apocalisse: i simboli svelati. Bose (Biella): Qiqajon, 192 páginas.
Leia mais
- A inteligência fascinada pela mística. Artigo de Gianfranco Ravasi
- A ''santa esposa'' de Lutero. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Lutero, o místico. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Violência contra mulheres; Ravasi: necessita-se uma mudança cultural
- Diaconisas há longos séculos. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Francisco Suárez, doctor eximius. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Os caminhos que unem crentes e não crentes. Artigo de Gianfranco Ravasi
- Evangelização e "inculturação". Artigo de Gianfranco Ravasi




