Elmar Salmann, um monge beneditino alemão da Abadia de Gerleve, na Vestfália, é um ícone vivo da teologia sapiencial. Sob os seus 40 anos de ensino no Anselmianum e na Gregoriana, formaram-se dezenas de jovens teólogos que, em seus escritos, são imediatamente reconhecíveis pelos traços derivados de seu pensamento. Um pensamento sapiencial, sim, mas que também se fundamenta na originalidade, na criatividade, na ironia e em um apaixonado gosto pelo paradoxo. Ingredientes que fizeram do Pe. Salmann uma das vozes mais renomadas da teologia contemporânea.
No dia 16 de maio, muitos de seus ex-alunos se reuniram na sala capitular do Ateneu Santo Anselmo para celebrar, em um evento organizado pelo reitor, Bernhard Eckerstorfer, OSB, o 75º aniversário natalício do Pe. Salmann, com as contribuições do abade primaz beneditino Gregory Polan, do Mons. Armando Matteo, secretário do Dicastério para a Doutrina da Fé, e da teóloga Isabella Bruckner, professora em Santo Anselmo e Prêmio Rahner 2022.
À margem desse encontro, o Pe. Salmann aceitou dialogar amplamente com o L’Osservatore Romano. O que ao longo dos anos tornou o Pe. Salmann particularmente apreciado no mundo acadêmico e teológico, junto com a profundidade e a originalidade de suas reflexões, é sem dúvida o colorido, ao mesmo tempo espirituoso, elaborado e irônico da sua linguagem, que ele não deixou de usar também neste diálogo.
A entrevista foi concedida a Andrea Monda e Roberto Cetera, e publicada por L’Osservatore Romano, 14-06-2023. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
A entrevista foi publicada no Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 17-06-2023,
Pe. Salmann, já se passaram alguns anos desde que você se aposentou do ensino e, tendo retornado a seu mosteiro, saboreia as oportunidades públicas. Por isso, estamos curiosos para lhe interpelar sobre três questões fundamentais, de algum modo: como está o mundo, como está a Igreja e... como está você?
[O teólogo sorri, de coração, e pergunta]: E por qual ordem começamos?
Comecemos pelo mundo; um mundo que está mudando a uma velocidade inusitada e em profundidade. Sobretudo, perguntamo-nos sobre aquela que nos parece ser a mudança mais importante, muito além da globalização ou da digitalização, isto é, a mudança antropológica. Em uma recente entrevista ao nosso jornal, o cardeal Hollerich disse: “Temo que a nossa pastoral fale a um homem e a uma mulher que não existem mais”.
Eu concordo muito com essa afirmação. Digo-lhes mais: estamos confinados a uma total insignificância no mundo ocidental atual. Obviamente, meu ponto de observação é muito parcial, mas me esforço para acompanhar e compreender as vicissitudes dos tempos que vivemos, da profunda mutação da sociedade e, diria, do “tecido” humano. Gostaria de ser preciso neste ponto: não tenho a pretensão de ter razão, mas sim de oferecer perspectivas, de ampliar o leque das nossas intuições.
Retrocedo um pouco, ao início da natureza contraditória dos tempos atuais. Assim como para um dos famosos diretores de vocês, volta à minha mente a lembrança quando eu era um jovenzinho, nos tempos da invasão russa da Hungria e do estado inerme do Ocidente naquela ocasião histórica. E, mais tarde, em 1968, aquela outra contradição histórica: os jovens tchecos que, com as próprias mãos, enfrentavam os tanques soviéticos pelas ruas de Praga, e, por outro lado, os jovens ocidentais que, ao contrário, nas universidades europeias, louvavam Mao Tsé-Tung.
Contradições que às vezes convergiam na inspiração e no estilo. A diversidade e o impacto (ausente?) de mundos incompatíveis que não se olham: isso sempre me atraiu e me assustou. Assim como uma constelação totalmente assimétrica nos inícios da minha estada em Roma: vi passar uma enorme manifestação sindical, um milhão de pessoas na Piazza San Giovanni contra a abolição da “escala móvel” [sistema de ajuste automático dos salários de acordo com o aumento do custo de vida, que vigorou de 1977 até o fim dos anos 1990]. Fiquei muito perturbado, abalado, com a paixão extrema que os manifestantes demonstravam em defender uma instituição que só o bom senso já pedia para modificar.
Ainda não havia me recuperado da perturbação quando me encontrei, de tarde, de uma forma totalmente diferente nos arredores do Vaticano. Ali também me deparei com uma multidão barulhenta – certamente menor e mais moderada – com a mesma intensidade. A ocasião era a dedicação do mundo a Nossa Senhora de Fátima. A coexistência desses dois mundos no mesmo dia e na mesma cidade me fez refletir. Como fenomenólogo, sentia-me estimulado por esses eventos, muitas vezes assustado, às vezes animado, sempre desafiado.
Com a mesma abordagem curiosa, acompanhei a grande temporada do Concílio Vaticano II. Com um olhar desencantado, pois, quando jovem, eu não pertencia tanto ao ambiente eclesial, nunca fui coroinha nem catequista, decidi estudar teologia somente no fim do Ensino Médio da época. E, para ser sincero, creio que, mais do que a minha vontade, quem desempenhou um papel nessa escolha foi um daqueles movimentos extemporâneos e paradoxais que o Espírito Santo usa muitas vezes: foi a ideia da Trindade que me atraiu. A própria Igreja não deixava de evoluir em uma aparente distonia de imagens: da figura austera e hierática, que parecia ter saído de um livro de Thomas Mann, de Pio XII, à do camponês bonachão e rechonchudo de Roncalli (é assim que me lembro do dia de sua eleição, na frente da televisão, no bar).
Cada papa é um unicum, com um estilo próprio. E isso certamente é uma riqueza. No fundo, é uma história que se repetiu também 10 anos atrás.
Exatamente. É isso mesmo. Essas mudanças de ritmo são bastante saudáveis. Digo isso também do ponto de vista da minha experiência como monge. Um convento sábio sempre elege um abade que tenha características opostas a seu antecessor. Porque a mudança é sempre positiva, e não se deve ter medo dela. Mas voltemos à pergunta inicial.
O que há de peculiar nos tempos atuais à luz de todas essas mudanças que vivemos nos últimos 60 anos? Parece-me que chegamos a um fim de linha, a um limiar, a um limite do estilo de vida que o ser humano assumiu nas últimas décadas. É o estilo daquilo que eu defino como “homem democrático”, que não é uma mera forma política, mas a índole intrínseca do estilo do ser humano contemporâneo. O homem democrático é aquele que democratiza tudo, que, ao representar uma constelação de minorias e de direitos correlatos, acaba minando, em sentido oposto, as bases da democracia, como forma organizada da vida civil.
Assim, por exemplo, os partidos se (con)fundem nos movimentos, como ensinam as experiências de Berlusconi ou do Cinque Stelle na Itália, de Macron e do En Marche na França, do Podemos na Espanha e dos Grünen ou da extrema direita na Alemanha. O outro lado dessa fluidez organizacional é o surgimento dos “homens fortes”: Trump, Erdogan, Morawiecki, Orbán, Xi Ping, só para citar alguns. Ou seja, o homem democrático ao mesmo tempo leva a cumprimento, mas também consome e destrói a ordem democrática. Nos anos 1990, acreditava-se que a democracia dos direitos era o trunfo da política, mas essa ideia só gerou uma cultura marcada pelo maniqueísmo, que prejudicou a democracia.
E não só ela, porque esse maniqueísmo que surgiu entre os partidos e nos partidos estendeu-se depois à cultura e à sociedade, provocando aquela polarização global que é a verdadeira marca dos nossos tempos. Um maniqueísmo e uma polarização que contagiou também os bispos e a Igreja. Não por acaso a tendência ao totalitarismo permeia grande parte do mundo, independentemente das diversas condições históricas e sociais.
Surpreende-me – e me confirma – o caso de Israel, que é paradigmático desse fenômeno: a única democracia do Oriente Médio, mas que corre o risco da implosão diante das investidas combinadas da polarização e do autoritarismo. Estamos diante de um fenômeno planetário, que, como tal, deveria nos desafiar seriamente. E nos questionar como o homem democrático pode inverter a perspectiva e reconstruir uma forma institucional baseada na representatividade.
A mesma dicotomia é atravessada pela religião: somos agnósticos e espirituais. Os dois perigos contra os quais o Papa Francisco continuamente nos adverte: o neopelagianismo e o neognosticismo. Para os quais a religiosidade comum oscila do sincretismo orientalizante ao rigorismo fanático, e assim por diante, passando por uma amostragem espiritual de supermercado. E aqui também a questão é como o ser humano, agnóstico ou espiritualizante, pode reencontrar uma formatação institucional para que a religião possa se expressar. Hoje, porém, ainda estamos na fase destrutiva.
Pensem nas perplexidades já dominantes quanto à forma ontológica, jurídica e mística dos sacramentos. A práxis sacramental está prestes a afundar. Mas o que colocar em seu lugar? Não sabemos. São problemas sérios para o mundo e para a Igreja. E são problemas sérios também para o “homem democrático” individual. Pensem no culto da “grande saúde”, no mito da longevidade; ainda somos filhos aos 70 anos, como Armando Matteo descreve satisfatoriamente em seus livros. Estamos tão saturados e exaustos que a palavra “redenção” vem à mente apenas um minuto antes de morrermos. Há um desespero generalizado atrás da tela, do véu, da perene vitalidade. O mito do fitness e da eterna juventude esconde uma angústia existencial, que se expressa, por exemplo, no debate sobre a eutanásia e sobre o fim da vida. Danificamos a vida, e a vida agora está se vingando.
O fato é que o nosso moralismo eclesial não ajuda a entrar na carne ferida dessa angústia. A mesma dinâmica de pensamento vale para a ecologia: perdemos a escatologia e agora a recuperamos sob a forma de uma catástrofe culposa. Queremos remediar a catástrofe com meios que nunca serão suficientes, e isso cria um misto de fanatismo e de resignação desconsolada. E o mesmo vale para a justiça: o homem democrático quer fazer justiça à singularidade de cada um e à igualdade de todos. Mas ninguém pode sustentar essa pretensão, esse dogma de 1968, que era um casamento entre o liberalismo e o socialismo, e nos encurralou em sua natureza contraditória.
E, mais uma vez, o mesmo vale para a sensibilidade. Um termo que, nos anos da minha juventude, soava quase como uma ofensa. Enquanto hoje é um imperativo sermos sensíveis à sensibilidade de cada um, de cada minoria e contraminoria. Que fique claro, é uma grande conquista da humanidade, que decorre de uma nova historiografia introduzida pela escola de Frankfurt e pelo trauma da Shoá. Mas a questão é que hoje cada um se sente minoria e vítima de alguma coisa. Em suma, venceram as minorias, de modo que não existem mais maiorias: a democracia se destrói por conta própria, devido ao homem democrático, que se vangloria da representatividade de cada um e odeia a mediação.
Então, se essa é a sua visão do mundo atual, passemos para a segunda questão: como estão as religiões hoje, como está a Igreja?
Há um nexo imediato entre o que eu disse até agora e o estado das religiões. Se, nos anos da minha juventude, a Igreja institucional no Ocidente representava o paradigma, o horizonte da cultura e da política – mesmo de quem se opunha a ela –, hoje ela está caindo inexoravelmente em um abismo. Estávamos no auge da valorização social. Hoje, somos considerados de ínfima relevância, estamos caindo no esquecimento da vida cotidiana.
O Papa Francisco evidenciou isso sem meias palavras. A cristandade acabou. E talvez isso também seja providencial, porque nos oferece uma oportunidade de purificação...
Exatamente. O papa tem razão. Somos condenados ou talvez beneficiados pela marginalidade. Estamos em busca de outra práxis. Mas qual? É fácil dizer. Difícil é identificá-la. Talvez impossível. Senão para o Espírito. Como viver uma religião que tem a pretensão de ser verídica e verdadeira, aceitando ser ignorados pela maioria dos homens e das mulheres, sem se tornar uma denominação sectária, lamuriosa e autocomplacente? E, mais ainda, que forma de representatividade institucional deveria ter uma nova forma de viver e de se professar cristão? Que forma é preciso reconhecer à liturgia e aos sacramentos, que devem ser, sim, humanos, mas não apenas humanísticos.
E aqui chegamos ao cumprimento objetivo do Vaticano II. Porque o problema já não é implementar o Vaticano II, mas sim inventar algo novo. O estilo dos comentários e da hermenêutica sobre o Vaticano II é um mesmo estilo aberto à vida e ao mundo. A Nostra aetate talvez seja a sua novidade mais evidente. O Concílio certamente levou a uma humanização da mensagem, a uma espiritualização em chave lucana, estamos vivendo a era do terceiro Evangelho, uma passagem dramática e extraordinária que percorreu paralelamente a minha vida. Mas essa humanização não nos tornou mais humanos, isto é, não deu um perfil ao mistério. A Eucaristia hoje é uma “refeição fraterna”, que bom, mas o que fizemos com o Mistério, com a presença real, com a atualização da paixão de Jesus? A tensão à compreensibilidade do Mistério foi impulsionada até o ponto perdê-lo como tal. Assim, o cristão humanizado mina a estrutura dos mistérios e, com eles, o papel da Igreja.
É uma ação paralela ao que eu dizia antes sobre o homem democrático. Passamos do Deus Pai, que é onipotente, para o Jesus que é Senhor e Rei, depois para o Logos que é a abordagem teológica à verdade da Bíblia, e depois para o Cristo quenótico de von Balthasar, e o Deus humano, e depois o Jesus desgrenhado, profeta e revolucionário de 1968, depois ainda ao Irmão que caminha conosco, como nós talvez, sem mais uma aura divina... Tantas imagens de Deus que acompanham a evolução do homem democrático. O mesmo vale para a Igreja: da paróquia, à família paroquial, depois à comunidade. Mas uma paróquia não é uma comunidade: 5.000 pessoas não fazem uma comunidade. Assim como um mosteiro beneditino não é uma comunidade. Pode ter momentos comunitários, certamente desejáveis, mas eu me tornei monge para seguir uma regra de vida, não para entrar em uma comunidade.
Essa sua última afirmação nos suscita ainda uma pergunta: as mudanças epocais, como a que estamos vivendo, sempre tiveram uma presença ativa dos monges que facilitavam o trânsito para o novo com a preservação da riqueza do antigo. Hoje, isso não parece mais viável. O monaquismo institucional também está em profunda crise.
É muito verdadeiro. O monaquismo institucional atravessa uma crise abismal, talvez irreversível. Alguns de nós, de modo humilde e discretamente, realizamos esse processo de acompanhamento do antigo ao novo ainda hoje. Penso, por exemplo, naqueles mosteiros que desempenham um papel de diálogo com o mundo protestante ou também em mim mesmo, no meu pequeno trabalho de acompanhamento dos padres que abandonaram. Mas certamente, em geral, não somos mais as parteiras do novo. Não porque nos faltem as forças, mas simplesmente porque não sabemos o que propor. As novas formas de vida religiosa contemplativa e secular surgidas depois do Concílio também não parecem gozar de uma vida melhor, aliás, às vezes parecem mais anacrônicas do que nós.
Em suma, parece que seu pai foi um bom profeta, de acordo com a conhecida anedota segundo a qual, ao informá-lo de sua decisão de se tornar monge católico, ele respondeu, embora respeitando sua escolha: “Elmar, você está embarcando em um navio que está afundando”, ou não?
(Risos) Sim, isso mesmo! Tenho uma vívida recordação desse episódio. Foi em Villa Celimontana, em abril de 1966. Eu não respondi nada a meu pai. Não por respeito, mas porque eu já sabia que ele tinha razão. Mas, ao mesmo tempo, sentia que tinha que seguir esse caminho. Nada me impediria. É a força ineludível do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todas as vezes que volto a Roma, faço um passeio até a Villa Celimontana, me sento naquele banco que ainda está lá e imagino que estou falando com o meu pai, dizendo: “Sim, você tinha toda a razão… mas eu ainda mais!”.
Essa sua visão do homem democrático que consome a democracia e, paralelamente, do cristão espiritualizante e humanizado remete àquele “Humano, demasiado humano”, de Friedrich Nietzsche. Humanismo demais desumaniza?
Sim, o risco existe. E acrescento que, indo ao limite dessa humanização, não se salva nem o ser humano nem o classicismo. Não se salva a democracia nem o Mistério.
Então, Heidegger tinha razão ao dizer que só um Deus pode nos salvar?
Mas não esqueçamos que Heidegger era um ex-coroinha e filho de um sacristão! Brincadeiras à parte, ele tinha um faro infalível e se preservou em toda a sua natureza enigmática. No entanto, ele tinha um senso do sagrado, criou uma mitologia privada própria, de alguma forma antecipou o movimento que descrevi aqui. O cristianismo entra em crise em nome de uma religião existencialista, ontológica, mitológica, e aqui, ao longo da crista do existencialismo, abre-se uma pista interessante que leva à França, que, do ponto de vista religioso, já passou por muitas das vicissitudes pelas quais estamos passando nos outros países europeus. De alguma forma, os franceses são um laboratório. E isso me leva a pensar em outro problema, que é o da regionalização do cristianismo. Na França, o cristianismo já implodiu e explodiu. Nós ainda estamos na fase da implosão. Nesse sentido, o Sínodo é uma intervenção necessária e emergencial. É uma pena que, no meu país [Alemanha], tenham optado por lhe dar um programa a priori, e esse tem sido seu limite previsível.
Desse ponto de vista, é interessante a proposta de Remi Brague, que em “Il futuro dell’Occidente” [O futuro do Ocidente] deseja um retorno à Romanitas. Os romanos foram extraordinários em saber assumir nações, tradições, religiões, filosofias; assumiam e transformavam. De modo que até mesmo Paulo podia se dizer cidadão romano e, mesmo sendo um rabino fariseu, podia apelar ao imperador. É o espaço do “um ao lado do outro”, que foi a verdadeira fórmula vencedora dos romanos, muito mais do que as conquistas militares. Nesse sentido, acho que devemos recuperar a Romanitas: a hospitalidade como gesto de fraqueza fecunda. A hospitalidade como gesto de desarmamento. Certamente, um gesto que é desafiado pela precariedade e por isso deve ser corroborado pela oração, pela coragem. É preciso mais coragem para hospedar do que para rejeitar. A rejeição é uma expressão de fraqueza.
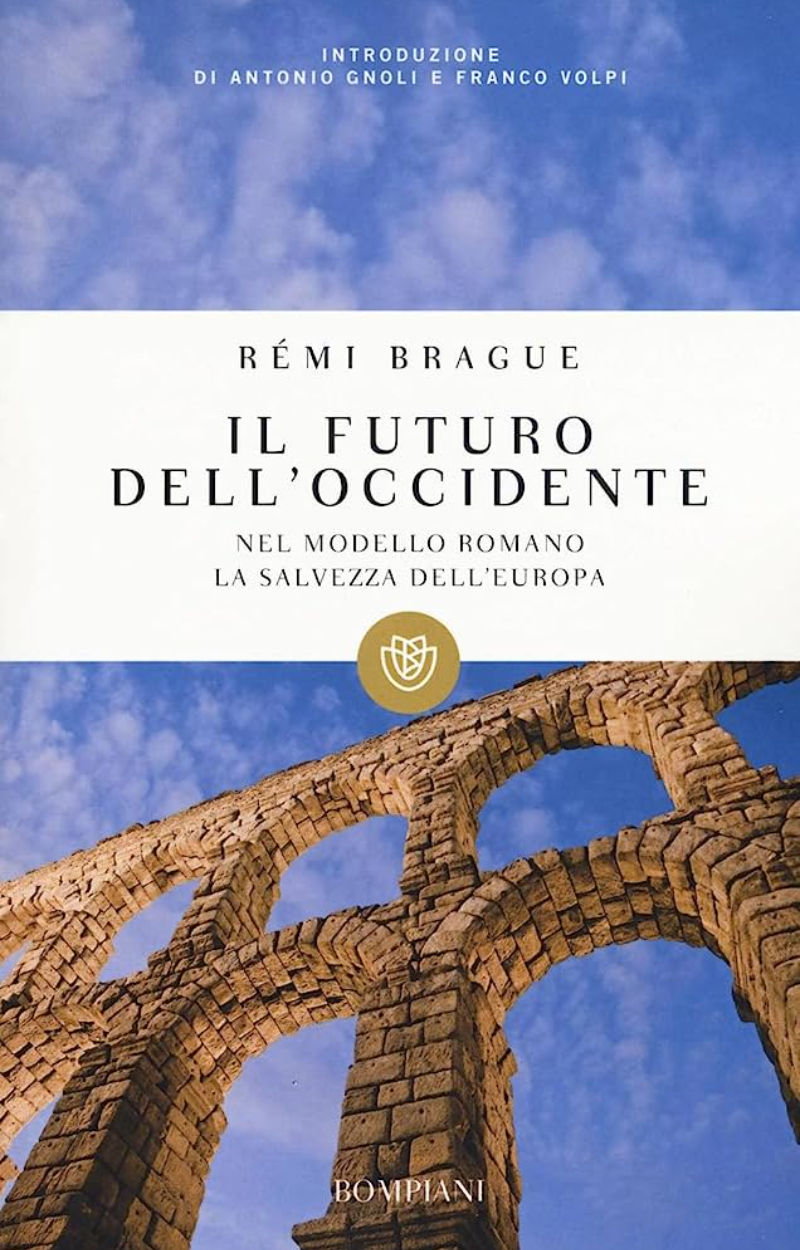
"O Futuro do Ocidente", livro de Rémi Brague (Foto: Divulgação)
Jesus não escreveu nada, não quis ser filósofo de si mesmo, nem professor de dogmática ou de moral. Mas deu um impulso, provocou um escândalo (em alemão, são a mesma palavra: Anstoß), um fermento, e depois deixou o Espírito agir. Sem o Espírito, a Igreja não existiria e não poderia existir hoje. Um estatuto então “romano” e cristão seria uma grande reviravolta para a Igreja, mas também para a humanidade. A Igreja, embora minoritária, voltaria a ser sal da terra.
No fundo, é isso que o Papa Francisco está tentando fazer. É claro que não há garantias, mas nós, assim como ele, confiamos na ação do Espírito. Uma estrutura de cristianismo exposto, em que a “fraqueza” é reconhecida, acolhida, atravessada, para fazer nascer outro tipo de força transformadora. É a nova fronteira da evangelização da sociedade. Ser forte sem ser poderoso. Ser verdadeiro sem ser fanático. Ter um senso de estética sem ser estético. Ter um senso de retidão sem ser moralista. Ser um, mas não sem o outro. Nunca sem o outro, como dizia De Certeau, outro gênio francês cada vez mais atual e precioso hoje, nessa busca para encontrar um comportamento humano de uma minoria que vive dentro de uma nova sociedade.
O Papa Francisco, portanto, é o primeiro capítulo dessa nova aventura do cristianismo?
Certamente sim. É o primeiro capítulo, mas também é forçado a ser o último do velho mundo, porque conciliar o carisma com o governo de uma “empresa” como a nossa é um empreendimento no limite da viabilidade. Só assim podemos compreender também seus aspectos dramáticos. Ele embarcou nessa empreitada, que é uma aposta aberta pascaliana. E temos que apostar com ele, porque não temos outra coisa.
Tudo isso implica inevitavelmente uma reavaliação também dos fundamentos da teologia. De fato, é preciso que todos nós façamos um exercício de verdade, senão ninguém mais nos ouvirá. Abandonar já na leitura fenomenológica aquele léxico um pouco de “conto de fadas”, por um lado edulcorado e, por outro, áspero, que, por exemplo, nos faz dizer que a vida é um dom. A vida não é um dom ou pelo menos não é percebida como tal. É mais correto falar de um “pré-dado”. Se não formos sinceros com os nossos interlocutores, já perdemos essa corrida entre humanismo e religião. Ou pensem no ofuscamento do sacrifício na linguagem teológica atual, como se fosse algo incômodo.
Pelo contrário, Jesus atravessou a dor. Na história dramática da paixão, ele nunca é herói nem vítima, mas, ao mesmo tempo, senhoril e abandonado. Se não considerarmos seu sofrimento com o grito, com sua sede, sua pressão escatológica e metafísica, não compreenderemos a penosidade da nossa limitação. É a partir dessa penosidade que se abre uma fresta para o futuro, “não olhem para mim, sigam em frente, caminhem juntos”, exorta ele a Maria e João na cruz. E abre legitimidade ao consenso. In manus tuas commendo spiritum meum é a confiança, a entrega, que é sinônimo de liberdade. Aquela liberdade ameaçada e vilipendiada hoje pelo mundo em relação ao ser humano.
Assim, chegamos à terceira pergunta: isto é, a você, Pe. Salmann, ao seu percurso. Acho que entendemos que seu olhar teológico se dirige cada vez mais para o oeste, para a França, certo?
Devo reconhecer que, quando estava no Ensino Médio da época, eu já me sentia um pouco francófilo. No ano passado, passei os 50 anos da minha ordenação em silêncio, na surdina. Não “celebrei uma festa”, como é o costume aqui entre vocês na Itália. Porque não há nada para celebrar, no máximo para repensar. E não uma festa. Não por falsa modéstia. Mas Jesus em Emaús não celebra uma festa; em vez disso, ele desaparece aos olhos dos discípulos e deixa o Espírito guiá-los no caminho para o querigma.
Na minha vida, passei por épocas políticas, sociais, culturais, eclesiais, sempre com uma serenidade melancólica, balançando um pouco a cabeça diante de um devir muitas vezes desequilibrante, sempre buscando um estilo que remediasse isso. Um estilo que eu defino como de barqueiro, de intérprete, de defensor da transferência, de uma linguagem eclesial antiga e misteriosa, intrapessoal e psicanalítica, voltada para a troca dos dons, e situado entre a língua e a realidade, vivendo entre as margens do Mistério, que eu conheço em seu classicismo, e as diversas alas do mundo pós-democrático, que eu observo com simpatia crítica. E eu me tornei defensor de um e de outro.
Existem tantos mundos diferentes na Igreja, povo de Deus, e tenho procurado dar-lhes voz e, ao mesmo tempo, buscar toques, músicas que intuam a sabedoria da vida, os mistérios cristãos e o Deus que é invocado, essa invocação criatural. Se eu tivesse que resumir o sentido do meu ensino e do meu trabalho, poderia dizer: tentei contribuir para que o Deus cristão pudesse deixar uma boa impressão na história do pensamento e do agir humanos, e me perguntar por que isso é tão difícil.
Em todos esses adjetivos que lhe foram atribuídos, porém, falta aquele que mais lhe é reconhecido: padre, você que é um aclamado “pai” de uma geração de teólogos.
Bem, sim, é verdade. Eu não sou um irmão. E, ao mesmo tempo, não tenho bigode nem a gentileza do pai. É claro, tento ser gentil, mas de forma senhoril. Mesmo no convento eu chamo quase todo mundo de “senhor”. Sou um homem do “senhor”, digamos assim, um burguês beneditino. Com lampejos de jesuitismo. E talvez de laicidade, porque, sem um olhar de fora, não se faz muito hoje. Uma última coisa. Não renego nada da minha vida e da minha proveniência burguesa e empreendedora.
Todos me perguntam por que deixei o ensino e Roma para me encontrar de novo no convento. Mas essas duas coisas não se opõem, mas se completam. Estou em sintonia com a finitude, com a contingência. Talvez, se eu viver muito, acho que o meu convento desaparecerá; mas isso não me assusta. E também não sou um estoico. Acolho as variações da contingência, como bênção de Deus. A Igreja também é contingente: no céu, não há templos nem sacerdotes. E também não há beneditinos, para o meu grande alívio... E talvez também não há jesuítas, quem sabe. Mesmo que eles sempre reapareçam!