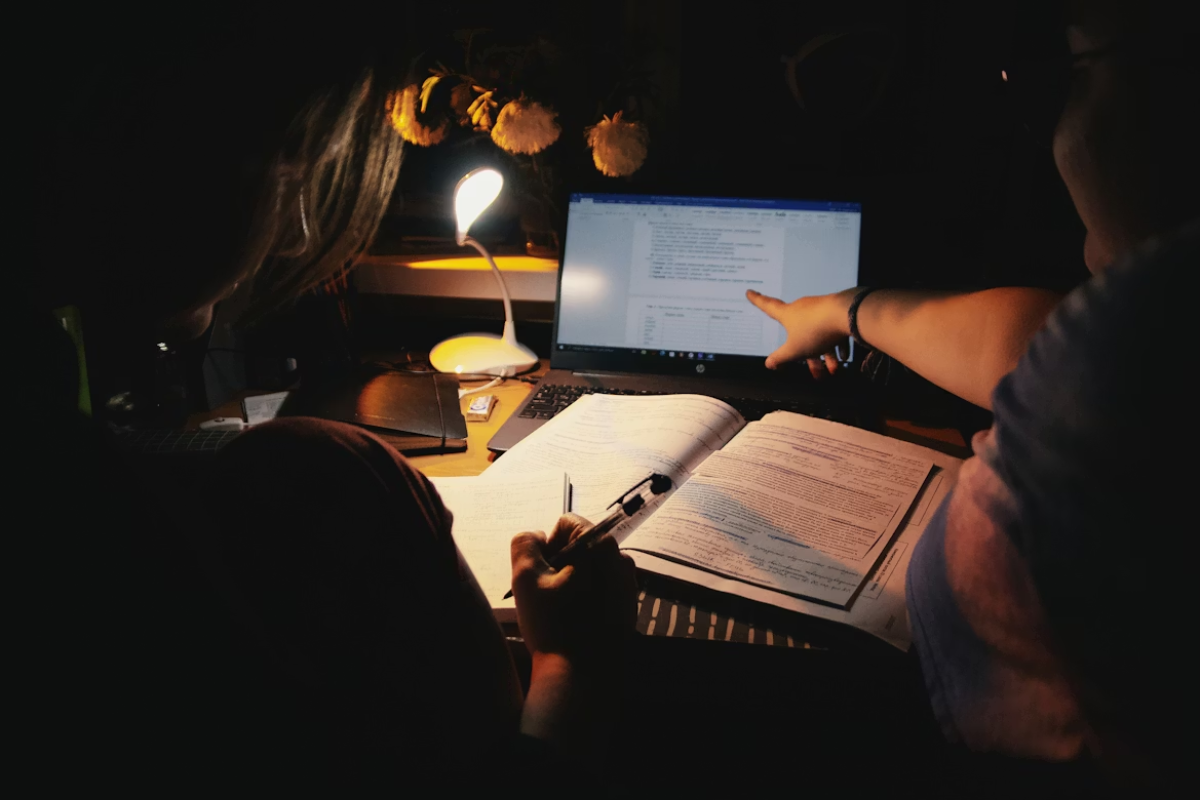01 Julho 2025
“A sinodalidade não é apenas um estilo que se adota, mas a forma própria da Igreja de ser Igreja: uma Igreja que escuta, que discerne, que compartilha, que ama. Uma Igreja que, ao viver sinodalmente, manifesta aquilo que realmente é: ícone da Trindade e sacramento da esperança”, escreve José F. Castillo Tapia, padre jesuíta atuante na Amazônia brasileira junto aos povos indígenas.
Eis o artigo.
A recente alocução do Papa Leão XIV ao Conselho Ordinário do Sínodo (26-06-2025) voltou a sublinhar que “a sinodalidade é um estilo, uma atitude que nos ajuda a ser Igreja, promovendo experiências autênticas de participação e comunhão”. Embora essa fórmula seja muito sugestiva do ponto de vista pastoral, convém esclarecer que a sinodalidade vai muito além de uma simples forma de agir ou de um “modo de falar” da Igreja. Na verdade, a sinodalidade está enraizada na própria natureza trinitária, sacramental e escatológica da Igreja, como tem enfatizado o Magistério e a reflexão teológica contemporânea. Neste artigo, mostraremos que a sinodalidade não é apenas um estilo evangélico, mas uma dimensão constitutiva do próprio ser da Igreja.
Sinodalidade como “estilo” no discurso do Papa (junho de 2025)
Em sua breve saudação aos membros do Conselho do Sínodo, o Papa Leão XIV ressaltou o impulso dado ao processo sinodal: “O legado que nos foi deixado, a meu ver, é sobretudo este: que a sinodalidade é um estilo, uma atitude que nos ajuda a ser Igreja promovendo experiências autênticas de participação e comunhão”.
Essa frase retoma a insistência de Francisco no “caminhar juntos” e destaca a dimensão participativa e comunional da sinodalidade. Nesse sentido, considera-se a sinodalidade como um modo de viver e evangelizar que abre novos canais de escuta e corresponsabilidade entre pastores e fiéis.
No entanto, esse ênfase no estilo – muito útil para a promoção pastoral da sinodalidade – corre o risco de restringi-la a um método ou atitude. O próprio Dicastério para o Sínodo faz uma distinção: a sinodalidade “designa antes de tudo o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da Igreja”. Mas acrescenta que não se esgota aí: existem estruturas e processos próprios da sinodalidade em nível local, regional e universal. Em outras palavras, embora se fale de “caminhar juntos” e de um estilo eclesial, a sinodalidade implica instituições, como conselhos pastorais, assembleias diocesanas, e processos de escuta e discernimento.
Essa dupla dimensão (estilo e estrutura) foi percebida pela Comissão Teológica Internacional em 2018 (CTI, 2018). Para ela, a sinodalidade é “antes de tudo um estilo peculiar… um modus vivendi et operandi” da Igreja. Mas também é composta pelas “estruturas e processos eclesiais” nos quais se expressa a natureza sinodal da Igreja em seus diversos níveis. A conclusão teológica é clara: a sinodalidade não é opcional nem periférica, mas uma dimensão constitutiva da Igreja [1].
Fundamentos trinitários e sacramentais da Igreja sinodal
Para compreender por que a sinodalidade possui raízes tão profundas, é necessário recordar a eclesiologia católica. O Concílio Vaticano II apresentou a Igreja como mistério pascal e como “sacramento, ou seja, sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG. 1). Isso significa que a Igreja, em Cristo, comunica a vida trinitária aos seres humanos e os reúne em uma só família. Esta dimensão sacramental da Igreja implica que a comunhão com o Deus Trino se realiza concretamente na comunidade dos crentes: “a união com o Deus trinitário e a unidade entre as pessoas humanas” é o conteúdo real (res) do Sacramentum Ecclesiae (CTI, 2018, n6).
Consequentemente, a sinodalidade - entendida como o “caminhar juntos” do Povo de Deus - reflete internamente esse dinamismo trinitário. Não se trata de uma novidade organizativa, mas do modo próprio de “viver e agir” da Igreja, que manifesta sua natureza de comunhão ao percorrer conjuntamente o caminho da fé (Ibid.). Como ensina a Comissão Teológica Internacional, a Igreja é comunhão (koinonia): todos os batizados participam de um único sacerdócio, inseridos numa comunhão hierárquica de vida e missão (CTI, 2018, n. 49-55).
O teólogo dominicano Yves Congar, um dos grandes protagonistas do Vaticano II, enfatizou esse ponto: “O plano total de Deus não se esgota no princípio hierárquico, mas supõe o complemento e a reciprocidade de um regime comunitário... O que vem primeiro é o Povo de Deus” (Le mystère du Temple, 1969, p. 82.). Assim, a Igreja é “antes de tudo” um povo, um Corpus Mysticum, uma comunhão espiritual que é sacramento da unidade.
Na mesma linha, Joseph Ratzinger (Papa Bento XVI) afirmou que, por sua natureza, “a Igreja é o concílio contínuo de Deus no mundo” (Teologia da Liturgia, 2005, p. 22.), ou seja, uma assembleia permanente sob o olhar de Deus. Essa imagem de concílio permanente sublinha que a autoridade eclesial deve ser pensada de maneira conciliar e participativa, não como um poder isolado. Contudo, Ratzinger também oferece uma nuance importante: a Igreja celebra concílios, mas é comunhão. Como ele escreve: “A Igreja não existe antes de tudo para deliberar, mas para viver a Palavra que lhe foi dada” (Ibid., p. 46.).
Logo, sua estrutura fundamental não é apenas sinodal, mas comunional. Esta ênfase na communio é igualmente central em Henri de Lubac, que destacou que a Igreja é comunhão eucarística vivificada pelo Espírito. Em suma, os grandes teólogos da eclesiologia contemporânea concordam: a comunhão trinitária se realiza na Igreja, e a diversidade de carismas entre os fiéis não é obstáculo, mas expressão da própria riqueza da unidade.
Sinodalidade e eclesiologia do Concílio Vaticano II
O Concílio Vaticano II já prefigurava o caminho sinodal ao destacar a dignidade e a missão comum de todos os batizados. A Constituição Lumen Gentium ensinou que todo o Povo de Deus participa dos ofícios de Cristo - sacerdote, profeta e rei -, implicando uma corresponsabilidade real na missão eclesial. Essa ênfase conciliar significou uma mudança hermenêutica profunda: passou-se a priorizar a comunhão do conjunto (“Igreja como Povo de Deus”) em relação à visão meramente piramidal e hierárquica.
O próprio Papa Paulo VI sublinhou que a renovação pós-conciliar exigia uma Igreja que integrasse clero e laicato, reconhecendo a ação do Espírito Santo em todos os seus membros. A comunhão eclesial, segundo o Concílio, encontra sua fonte e seu cume na Eucaristia. A cada celebração, “a unidade dos fiéis, que formam um só corpo em Cristo, se realiza e se manifesta pelo sacramento do pão eucarístico” (cf. LG 3; SC 47). Portanto, a sinodalidade - como caminho eucarístico - é uma expressão da própria essência da Igreja.
Além disso, o Concílio enfatizou que a autoridade episcopal está a serviço do Povo de Deus: “A hierarquia eclesiástica está posta a serviço do Povo de Deus para que a missão se realize... na lógica da prioridade do todo sobre as partes” (CTI, 2018, n. 49-55). Essa prioridade do todo é decisiva: a Igreja não é apenas uma sociedade hierárquica, mas um corpo espiritual, um sujeito coletivo que se edifica a partir da participação ativa de todos os seus membros.
A Comissão Teológica Internacional confirma isso ao afirmar que, embora o termo “sinodalidade” não apareça literalmente nos textos conciliares, ele expressa “o espírito do próprio Concílio”, cuja eclesiologia é, por essência, comunional. Portanto, a sinodalidade emerge naturalmente da compreensão conciliar da Igreja como mistério de comunhão, onde todos os batizados participam da missão e da construção eclesial segundo os carismas recebidos (CTI, 2018).
A sinodalidade no Magistério recente
Os Papas posteriores ao Concílio Vaticano II aprofundaram esta visão comunional da Igreja. O Papa Francisco, em particular, descreveu a Igreja como uma “pirâmide invertida”, onde os que exercem a autoridade se colocam na base, como os menores, a serviço dos demais. Em suas palavras: “A sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, nos oferece o quadro interpretativo mais adequado para compreender o próprio ministério hierárquico” (Discurso no 50º aniversário do Sínodo dos Bispos, 17 de outubro de 2015).
A imagem da pirâmide invertida não é meramente simbólica, indica uma verdadeira reconfiguração da autoridade eclesial, que deixa de ser vista como domínio e passa a ser exercício de serviço, escuta e discernimento. Trata-se de um chamado à conversão institucional e espiritual.
No mesmo espírito, o documento Episcopalis communio (2018), sobre a natureza do Sínodo dos Bispos, afirmou que, quanto mais intensa é a comunhão entre os membros da Igreja, mais autêntica e eficaz é sua missão. O processo sinodal, estruturado em escuta, discernimento e deliberação, é a expressão concreta desta corresponsabilidade. Trata-se de um processo que parte das comunidades locais, atravessa o discernimento pastoral das Igrejas particulares e culmina nas instâncias universais da Igreja.
A Comissão Teológica Internacional, em seu documento de 2018, foi ainda mais incisiva: a sinodalidade é uma “dimensão constitutiva” da Igreja, e não um elemento opcional. Ela descreve a Igreja como um povo em peregrinação - metáfora escatológica - que, por sua própria natureza, caminha rumo à plenitude. E afirma claramente que: “A forma sinodal de seu caminhar expressa e promove a comunhão em cada Igreja local e na Igreja universal”.
A sinodalidade, portanto, não é um adorno pastoral, nem uma ferramenta administrativa. É a forma eclesial mediante a qual a comunhão da Igreja se manifesta e se realiza na história. O Povo de Deus, com seus diversos carismas e ministérios, vive sua missão no discernimento comunitário e no exercício corresponsável da escuta do Espírito. Isso significa que todo batizado é sujeito ativo da missão e da vida da Igreja - não por delegação, mas por vocação e graça.
Perspectivas teológicas complementares: Congar, Ratzinger, De Lubac e Balthasar
As contribuições dos grandes teólogos do século XX ajudam a iluminar o alcance teológico da sinodalidade. Yves Congar, dominicano e perito no Concílio Vaticano II, insistiu que a Igreja é antes de tudo o Corpus Mysticum de Cristo. Em sua obra Le mystère du Peuple de Dieu, afirma que: “O plano total de Deus não se esgota no princípio hierárquico, mas supõe o complemento e a reciprocidade de um regime comunitário... O que vem primeiro é o Povo de Deus”.
Congar destacou que a estrutura hierárquica da Igreja só pode ser compreendida dentro da comunhão mais ampla dos batizados. A autoridade existe para servir à unidade do povo, e não para isolá-lo. A sinodalidade é, portanto, o reflexo dessa estrutura comunitária querida por Deus desde o início.
Joseph Ratzinger, por sua vez, embora mais cauteloso com uma eclesiologia “horizontalista”, reconheceu que a comunhão é o conceito-chave da teologia conciliar. Em sua conhecida obra Teologia da Liturgia, escreve: “A Igreja celebra concílios, mas ela é comunhão... A Igreja não existe antes de tudo para deliberar, mas para viver a Palavra que lhe foi confiada”. [2]
Ratzinger adverte contra uma compreensão reducionista da sinodalidade, como se a Igreja fosse apenas um parlamento ou uma instância deliberativa. No entanto, sua ênfase na comunhão sacramental e na escuta da Palavra aponta para uma sinodalidade vivida no coração da vida litúrgica, e não apenas nas estruturas consultivas.
Henri de Lubac, outro gigante da eclesiologia do século XX, sublinhou que a Igreja é, em sua essência, um mistério de comunhão que se torna visível no corpo sacramental. A Eucaristia, para De Lubac, é o lugar por excelência onde se realiza a unidade do Povo de Deus. Essa dimensão litúrgica e pneumatológica da comunhão está no cerne da experiência sinodal: os fiéis não caminham juntos apenas por vontade comum, mas porque são unidos pelo Corpo de Cristo e guiados pelo Espírito.
Hans Urs von Balthasar, por fim, via a Trindade como o modelo de toda comunhão. Em sua teologia, a Igreja deve refletir a beleza e a doação recíproca do amor trinitário. Para ele, a sinodalidade seria a expressão visível da lógica trinitária dentro da vida eclesial: “Cada pessoa da Trindade vive para as outras, em um movimento eterno de doação... A Igreja, como imagem da Trindade, só será fiel quando cada membro viver também em função dos outros, em amor e serviço”. [3]
Essa visão permite compreender a sinodalidade não como estrutura funcional, mas como expressão do ser eclesial mais profundo, uma participação histórica no mistério eterno da comunhão divina.
Conclusão: da sinodalidade “como estilo pastoral” ao caminho escatológico
A sinodalidade, entendida apenas como um estilo pastoral, expressa certamente um aspecto valioso do ministério da Igreja: a escuta mútua, a abertura ao outro, a promoção da participação. No entanto, tais tonalidades pastorais devem ser situadas dentro da realidade eclesial mais profunda: a Igreja é um sujeito comunitário, configurado pela Trindade e orientado para a plenitude do Reino. Por isso, como afirmam tanto o Magistério quanto os principais teólogos contemporâneos, a sinodalidade é um caminho constitutivo da Igreja no terceiro milênio.
Reconhecer isso permite superar a tentação de reduzir a sinodalidade a modismos ou a meras “pesquisas pastorais”. Implica, ao contrário, colocar o acento na conversão eclesial integral: uma Igreja em que hierarquia e povo compartilham a autoridade como serviço; uma Igreja que cultiva o sensus fidei fidelium; uma Igreja conduzida pelo Espírito que sopra onde quer.
O atual processo sinodal, inaugurado por Francisco em 2021 e que culminou nas assembleias de 2023 e 2024, deve ser compreendido em chave trinitária e escatológica. A Igreja peregrina vive já, na história, a antecipação da comunhão escatológica prometida por Cristo. Como afirma a Comissão Teológica Internacional: “Já está presente e operante o destino escatológico de união definitiva com Deus e de unidade de toda a família humana”.
Caminhar sinodalmente é, portanto, viver desde já a comunhão definitiva, encarnada na realidade da Igreja e alimentada pela Eucaristia. A sinodalidade não é uma invenção contemporânea, nem um “recurso participativo” moderno. É o próprio mistério da Igreja, que caminha entre os povos, guiada pela luz do Espírito, como sinal e instrumento da comunhão trinitária.
Assim compreendida, a sinodalidade não é apenas um estilo que se adota, mas a forma própria da Igreja de ser Igreja: uma Igreja que escuta, que discerne, que compartilha, que ama. Uma Igreja que, ao viver sinodalmente, manifesta aquilo que realmente é: ícone da Trindade e sacramento da esperança.
Notas
[1] Comissão Teológica Internacional, A Sinodalidade na vida e na missão da Igreja, Vatican News, 2018: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_po.html.
[2] RATZINGER, Joseph, Eucaristía, Comunión y Solidaridad. Boletín Oficial de la Diócesis de Cartagena, octubre 2002, p. 616.
[3] POLANCO, Rodrigo, Actualidad del pensamiento de Hans Urs von Balthasar. Revista Ecuatoriana de Ciencias Filosófico-Teológicas, 2024. p. 8.
Leia mais
- O Papa blinda o Sínodo: "A sinodalidade é um estilo, uma atitude que nos ajuda a ser Igreja"
- Papa Leão XIV dá a primeira indicação de como ele pode mudar a "Sinodalidade". Artigo de Charles Collins
- Após a eleição de Leão XIV: O que vem a seguir para o Sínodo Mundial?
- Leão XIV, dom da sinodalidade dos últimos anos. Artigo de Claudio Giuliodori
- Papa Leão sobre Niceia, sinodalidade e a necessidade missionária de uma data comum para a Páscoa
- Sinodalidade: realidade nova ou a expressão da natureza própria da Igreja?
- Leão XIV: "Darei continuidade ao compromisso de Francisco de promover o caráter sinodal da Igreja Católica"
- Ainda tentando explicar o significado da sinodalidade
- Um ano a mais para o Sínodo
- As três lições mais importantes do sínodo (até agora). Editorial da revista America
- O que significa 'fazer um sínodo?" O vídeo do Papa
- “Sínodo é até o limite. Inclui a todos: Os pobres, os mendigos, os jovens toxicodependentes, todos esses que a sociedade descarta, fazem parte do Sínodo”, diz o Papa Francisco
- Encontrar, escutar, discernir: três verbos do Sínodo, segundo o Papa Francisco
- Assembleia Sinodal Arquidiocesana em Manaus: “Fazer realidade uma Igreja cada vez mais participativa”
- Alemanha: por uma sinodalidade permanente. Artigo de Marcello Neri
- Sinodalidade: todos somos aprendizes. Artigo de Marcello Neri
- Conferência Episcopal Italiana – CEI: o nome e a tarefa. Artigo de Marcello Neri
- No 60º aniversário do Concílio Vaticano II, o Cardeal Grech define o Sínodo como “um fruto dessa assembleia ecumênica”
- Os leigos terão voz no sínodo de outubro próximo?
- Sínodo sobre a Sinodalidade teve seus céticos, mas está provando ser um bálsamo para ‘feridas duradouras’
- O processo sinodal 2021-2023. Papa Francisco lança o mais importante projeto católico global desde o Vaticano II
- Sínodo: acontecimento mais importante depois do Concílio
- Primeira fase do Sínodo: escutar os fiéis
- Sínodo sobre a sinodalidade: “Não há alternativa real para a Igreja e o mundo de hoje”. Entrevista com Arnaud Join-Lambert