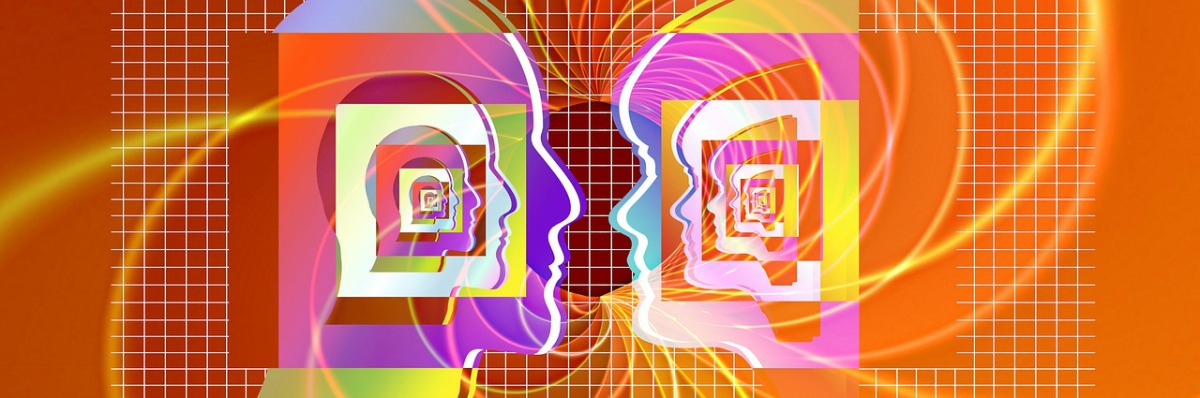25 Janeiro 2024
"A desconfiança [política] expande-se corrosivamente em todas as áreas, prejudicando a nossa capacidade de discernir o que é real e o que não é", escrevem Ignacio Ramírez, sociólogo e diretor do Programa de Pós-Graduação em Opinião Pública da FLACSO Argentina, e Antoni Gutiérrez-Rubí, especialista em comunicação política e diretor do Ideograma, em artigo publicado por Ctxt, 24-01-2024.
Eis o artigo.
“Uma congressista expôs seus métodos para esconder o queixo duplo do presidente.”
–Diga-me que é falso !
“O presidente postou fotos dos novos canis para seus animais de estimação.”
–Diga-me que é falso !
“A Ministra da Segurança disse que estava detendo uma célula terrorista, mas eles eram professores de pingue-pongue.”
–Diga-me que é falso !
As linguagens da época deixam pistas que ajudam a reconstruir o Zeitgeist de uma época, os modos de dizer são também modos de sentir . Na Argentina, uma expressão que capta traços desta época se tornou viral. A meio caminho entre o pedido e o pedido, “diga-me que é falso” é uma frase comum, mas feita para uma época.
A negação voluntária, “diga-me que é falso” , tenta adiar o pouso em uma realidade que é percebida como intolerável por pelo menos alguns segundos. Quando o que é real nos parece implausível, esperamos que seja um erro óptico, um pesadelo ou que seja simplesmente... falso, ou seja, um fato, uma notícia fabricada deliberadamente para nos irritar ou irritar. Diga-me que é falso: prefiro que a verdade seja mentira.
A frase revela algo da estrutura do novo espaço público e ao mesmo tempo nos permite espiar o interior das subjetividades contemporâneas eletrificadas. A segregação ideológica e o isolamento cognitivo – condições que dão origem e viralidade contagiosa à expressão – e a ligação cínica com o ambiente de comunicação que se pode suspeitar por detrás do pedido, são elementos que fundamentam a ligação entre o texto “diga-me que é falso” e seu contexto.
O real torna-se implausível, dando origem a uma relação cínica com o que vemos ou lemos, por trás da qual assumimos uma vontade manipuladora omnipresente. Poderia ser uma desconfiança defensiva como mecanismo de sobrevivência num ambiente onde predominam o engano e a manipulação, uma espécie de escudo cognitivo contra a intrusão capilar da publicidade. Um filtro crítico e purificador das notícias que consumimos ou respiramos. Mas isso não acontece, na verdade acontece o contrário: a desconfiança expande-se corrosivamente em todas as áreas, prejudicando a nossa capacidade de discernir o que é real e o que não é. Nessas condições, a verdade subjetiva não precisa mais estar ligada ao que é verdadeiro ou falso, mas sim às crenças.
“Diga-me que é falso! ” costuma ser expresso como uma reação às notícias do outro político, do adversário. Mas esse outro já não surge simplesmente como um outro diferente , constitutivo, por contraste, da minha própria identidade, mas aparece antes como uma interferência, como um ruído irritante que sinaliza algo quebrado na realidade. A reação “diga-me que é falso!” Sugere que o outro político me parece uma representação demonizada e deformada. Mais que um estereótipo, uma caricatura. Talvez uma hipótese: a endogamia eleitoral e o isolamento cognitivo, típicos do espaço público digital governado por algoritmos, incubam hostilidade e intolerância.
A cena sociopolítica deste mundo distingue-se pela crise de autoridade que Martin Gurri retrata no seu livro A Rebelião do Público e pela crise de contar histórias sobre a qual Byung-Chul Han reflete sombriamente na sua publicação mais recente. Não há dúvida de que o fantasma do niilismo assombra o mundo. Como reação à fragilidade e incerteza deste tempo, potencia-se uma subjetividade política que, abrigada na desconfiança, só parece crescer através da raiva niilista que abala quase todos os sistemas políticos. Paradoxalmente, ou não, a descrença radical da época fortalece as crenças subjetivas mais primárias. A descrença em tudo e em todos torna-se uma Fé cada vez mais difundida.
O problema é que a política e a democracia exigem confiança. Sem confiança, a democracia fica sem legitimidade e as sociedades desgastam-se. Perante este contexto perturbador, a comunicação política não tem um papel puramente descritivo, mas pode contribuir para reverter ou acelerar processos de desintegração. Com o caso Trump como o exemplo mais proeminente, nos últimos anos tornou-se popular um estilo de retórica política que envolve uma degradação deliberada da linguagem política; empobrecimento que leva a uma constante agressão cognitiva à sociedade que deteriora o imaginário político e descalcifica os laços sociais.
Quando o ano de 2023 dava os primeiros passos, o influente analista Ian Bremer resumiu os principais riscos que a humanidade enfrenta. Entre eles, destacou-se o que o seu relatório descreve como Armas de Perturbação em Massa: “A desinformação irá florescer e a confiança (a já frágil base da coesão social, do comércio e da democracia) será ainda mais corroída. Esta continuará a ser a moeda central das redes sociais, que, em virtude da sua propriedade privada, da falta de regulamentação e de um modelo de negócio que maximize a participação, são o terreno fértil ideal para que os efeitos disruptivos da IA se tornem virais. “Estes avanços terão efeitos políticos e econômicos de longo alcance.”
A extrema-direita contemporânea não parece muito preocupada com esta paisagem niilista, uma vez que participa ativamente na sua promoção. São as forças democráticas, através das suas ações e das suas linguagens políticas, que terão a responsabilidade de evitar o destino para o qual os fatores examinados parecem nos empurrar. A democratização da economia e do bem-estar será uma condição indispensável, mas restaurar a confiança exigirá também uma linguagem política autêntica e ousada.
No coração de tanta razão pessimista , escondem-se possibilidades mais brilhantes: que a política, como arte de impostura e engano digital dos sentidos, incuba uma sede de autenticidade onde não é mais a “gestão da aparência”, mas a palavra capaz que vence conectar-se com sentimentos e ações autênticas capazes de impactar a experiência sensível. Uma linguagem que, quando confrontada com decisões ou definições políticas que nos parecem erradas ou prejudiciais, não reage com negação ou cinismo, mas sim com uma resposta transformadora e estimuladora da imaginação coletiva de um futuro melhor. Não, não é falso, nem é uma luta entre o que é verdadeiro e o que é falso. É a intensificação da disputa política contemporânea.
Diante dos processos de individualização que encerravam o século XX, a sociologia perguntou: “Podemos viver juntos?” Talvez a questão política desta época seja um pouco mais perturbadora: “Queremos viver juntos?”
Leia mais
- “A política é imaginação”. Entrevista com Jacques Rancière
- ''Acredito na emancipação, mas não renuncio à democracia''. Entrevista com Slavoj Zizek
- A política do comum e do protótipo. Duas alternativas ao mal-estar contemporâneo. Entrevista especial com Henrique Parra
- Sobre a democracia do Ocidente paira a sombra do autoritarismo
- A crise política e os limites da democracia liberal como vetor de desenvolvimento soberano no Brasil e na América Latina
- O voto não basta para garantir democracia e Estado de direito
- A palavra e o olhar. Uma relação que está na base da democracia ocidental. Entrevista especial com Massimo Canevacci
- ‘Eleger presidente autoritário é risco à democracia’, afirma professor de Harvard
- As prioridades de Javier Milei. Artigo de Claudio Katz
- Argentina. Milei assinou um decreto para eliminar milhares de direitos
- O triunfo de Javier Milei ou o fim da “anomalia” argentina. Artigo de Juan Manuel Abal Medina
- Argentina. O sentido da honra. Artigo de Jorge Alemán
- Argentina. “O que vimos foi uma eleição trágica e suicida”. Entrevista com Jorge Alemán
- Argentina. Imolação e perguntas. Artigo de Jorge Alemán
- A direita argentina e a restauração do pior. Artigo de Jorge Alemán
- Furacão Milei. Sete chaves para as eleições argentinas. Artigo de Mariano Schuster e Pablo Stefanoni
- O populismo na América Latina contemporânea. Artigo de Gabriel Rossi