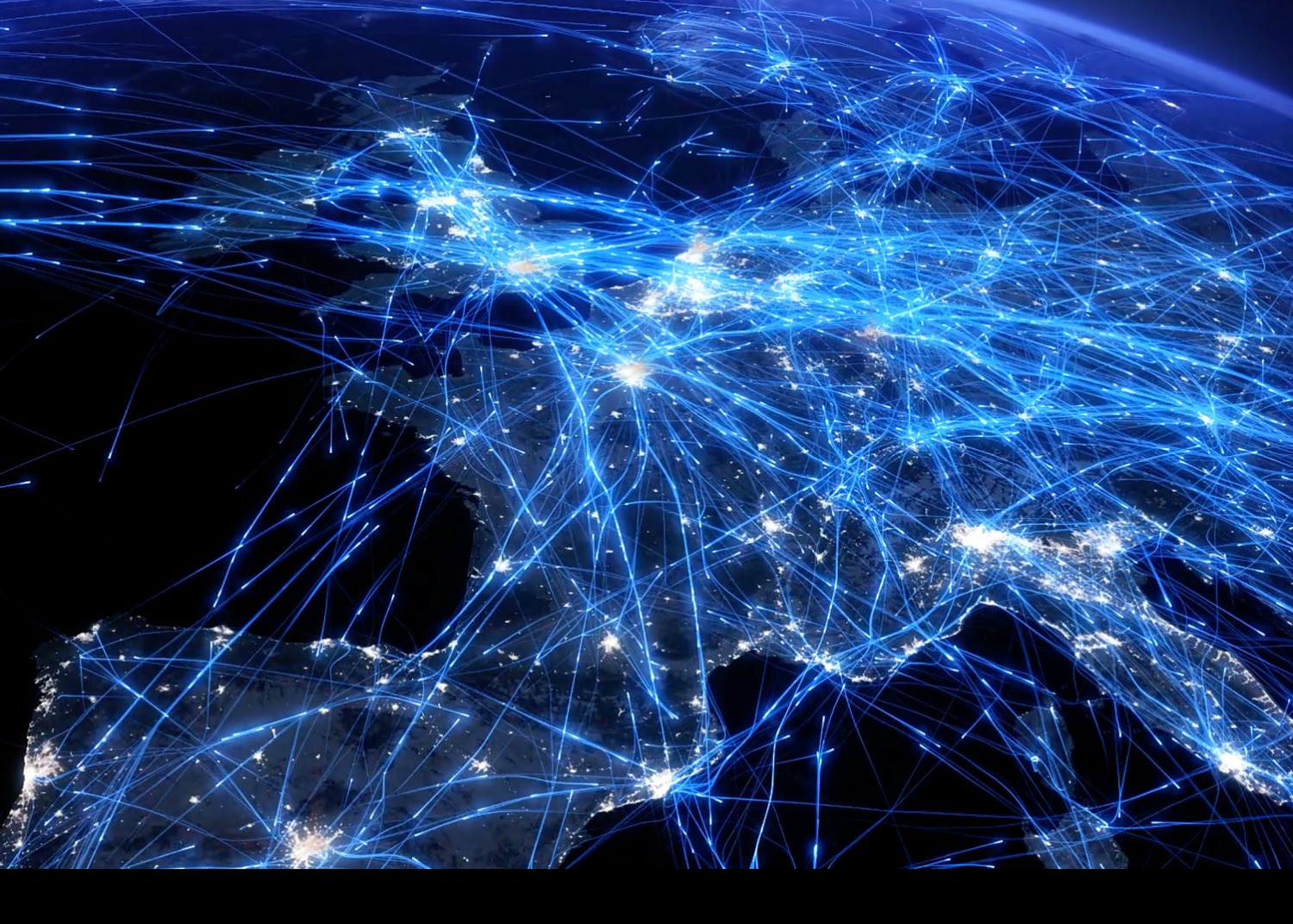06 Setembro 2023
Depois das eleições de 2018, não dá mais para achar que a internet existe em um mundo diferente do da política institucional. A eleição de Jair Bolsonaro (PL), marcada por uma campanha digital extremamente efetiva, trouxe debates sobre a necessidade de regulação das plataformas digitais e a hegemonia das Big Techs para o centro da esfera pública. Para Evgeny Morozov, pesquisador belorusso e especialista em tecnologia e política, essas não são discussões novas. Colonialismo, hegemonia geopolítica e neoliberalismo moldam as tecnologias que utilizamos.
Morozov, que publicou o livro “Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política” no Brasil pela Editora Ubu, veio para o país para uma série de palestras e reuniões com parlamentares, políticos, líderes governamentais e sociais para repetir os alertas sobre o Vale do Silício que ele tem publicado em veículos como New York Times e The Guardian.
O pesquisador lançou recentemente o podcast The Santiago Boys, sobre os engenheiros utopistas de Salvador Allende que buscaram usar a tecnologia de ponta do início dos anos 1970 para criar uma economia igualitária no Chile. Para isso, Allende planejava nacionalizar empresas transnacionais no Chile, buscando o controle completo de seu desenvolvimento tecnológico e social.
A entrevista é de Eduardo Lima, publicada por Le Monde Diplomatique Brasil, 01-09-2023.
Eis a entrevista.
O Congresso brasileiro tem discutido e votado uma proposta de lei para regular redes sociais e plataformas de mensagens privadas. De uma perspectiva filosófica, por que um governo deveria regular e interferir diretamente no mundo digital?
De uma perspectiva filosófica, eu não acho que exista alguma diferença entre o mundo digital e qualquer outro mundo. Temos um único mundo, e não encontramos uma maneira melhor de administrá-lo que não seja por meio de governos democráticos aplicando leis e regulamentos criados por parlamentos.
Não há motivo para que os modelos comerciais das Big Techs, que se inseriram na esfera pública, não sejam sujeitos à regulação. Nós regulamos companhias telefônicas, firmas de televisão, jornais, e não há motivo por que companhias que claramente ganham muito dinheiro e podem arcar financeiramente com a regulação não possam aceitar um pouco mais de responsabilidade.
Qual o perigo de companhias privadas serem proprietárias da maioria das tecnologias que usamos em nossa vida cotidiana?
O que se passa hoje no debate como digitalização é, para mim, um eufemismo para a neoliberalização ou a financeirização da vida cotidiana. Hoje, as empresas Big Techs representam o setor mais avançado da economia neoliberal, e elas tentam bloquear qualquer alternativa não-mercadológica de gerar valor, cooperação e engajamento na vida social.
Essas empresas querem mediar tudo por suas plataformas, que são claramente comercialmente orientadas. Se ainda temos esperança de que um projeto político-econômico alternativo possa emergir, precisamos garantir que as ferramentas e os espaços onde ele possa emergir sejam não-neoliberais e não-financeirizados, sem estarem sujeitos ao controle geopolítico dos Estados Unidos, que é o caso de muitas dessas companhias de tecnologia.
Há uma razão para que essas companhias sejam americanas, e é porque, em última instância, os Estados Unidos têm a hegemonia mundial, e seu poder geopolítico se traduz em seu poder geoeconômico, do qual a tecnologia é a fronteira mais recente. Não tem como ler e entender a tecnologia atual sem situá-la em uma conjuntura geopolítica mais ampla. Todo debate sobre as Big Techs e seu futuro também é um debate sobre geopolítica e modelos econômicos alternativos que gostaríamos de perseguir.
Infelizmente, a maneira como o debate sobre Big Tech acontece frequentemente oculta essa dimensão política neoliberal, e eu tenho tentado trazê-la à tona com meu trabalho.
Em um artigo de opinião que você escreveu para o New York Times, você fala de “neoliberalismo digital”. Muitas pessoas, especialmente no Vale do Silício, usam um discurso de que a tecnologia é neutra, e que a inteligência artificial e as redes sociais são só ferramentas. Como essas tecnologias são moldadas por vieses políticos e econômicos?
É possível argumentar que as tecnologias são neutras, mas elas estão sempre integradas a sistemas políticos e sociais. O sistema ao qual todas essas ferramentas estão integradas atualmente, que molda como e para quê elas são usadas, é o sistema neoliberal, que o Vale do Silício representa. Dizer que essas tecnologias são neutras no abstrato não nega que, no caso específico dessas tecnologias neste momento, elas têm um forte viés neoliberal.
O que eu tenho tentado mostrar com o meu trabalho, inclusive com esse ensaio no New York Times, é que o projeto de construir inteligência artificial geral, que é algo que o Vale do Silício apresenta como perigoso, mas que vale a pena se considerarmos os riscos de segurança existencial, não vale a pena quando entendemos que isso é um cavalo de troia para uma transformação neoliberal mais ampla do Estado.
Isso implicaria em uma maior delegação de poder para empresas privadas e para o setor privado quando se trata de resolver problemas, e vai levar a uma crescente transferência de responsabilidade para os cidadãos, deixando de lado completamente as formas tradicionais de pensar causalmente sobre os problemas, os porquês dos problemas políticos existirem.
Vamos acabar em um mundo onde, ao invés de tentar entender e dissecar as causas dos problemas, nós vamos atrás de mitigar seus efeitos, e normalmente mitigamos esses efeitos mobilizando mais e mais mercados. Eu considero isso problemático, algo que deveríamos evitar, especialmente se nos opomos ao neoliberalismo. Todo o motivo das minhas intervenções recentes tem sido restaurar essa dimensão política perdida a um debate que deveria ser político desde o princípio.
Na sua nova série de podcast The Santiago Boys, que originou seu artigo publicado na edição de agosto do Le Monde Diplomatique Brasil, você fala sobre o sonho que Salvador Allende e alguns de seus engenheiros utopistas tinham de ter tecnologia pública de ponta no centro do novo governo chileno. O que podemos aprender da visão de Allende da tecnologia como uma possível força transformadora em 2023?
O projeto de Allende tinha diversas dimensões. Algumas dessas eram defensivas, e outras eram ofensivas.
Na frente defensiva, ele tomou a iniciativa bem ambiciosa de ir contra a ITT [International Telephone & Telegraph], uma das gigantes de tecnologia da época, e eu acredito que ele fez bastante progresso nessa missão. Ele nacionalizou a empresa, mesmo com a oposição da companhia a cada momento da negociação, mobilizando os políticos americanos e a opinião pública contra ele. A intenção dessa frente defensiva era de prevenir que a indústria chilena caísse ou continuasse nas mãos de empresas estrangeiras.
No campo mais ofensivo e construtivo, Allende também estava trabalhando para solucionar esse dilema. Quando eu digo Allende, eu preciso ser cuidadoso, porque estou falando de um projeto coletivo da Unidade Popular [coalizão de partidos de esquerda que elegeu Allende] e do governo da Unidade Popular, especialmente de seus engenheiros radicais que eu chamo de Santiago Boys, em oposição aos Chicago Boys, economistas que vieram depois [equipe de economistas neoliberais que formularam a política econômica de Augusto Pinochet durante a ditadura].
O que esses engenheiros queriam fazer era, essencialmente, encontrar uma maneira de construir uma economia mais racional, mais justa e mais democrática no Chile, que seria gerida pelo setor público, mas, ao mesmo tempo, manteria sua capacidade de inovar e contribuiria para o projeto de desenvolvimento nacional do Chile.
Para fazer isso, eles queriam aproveitar o poder dos computadores e dos telexes [sistemas de máquinas de escrever conectadas a redes telefônicas para comunicação a distância], dependendo tanto de computação quanto de comunicação em tempo real, e construir um sistema de inteligência que poderia, de certa forma, compensar as deficiências do sistema gerencial do socialismo chileno existente.
Eu acho isso inspirador porque nos mostra uma maneira diferente de pensar em inteligência e inteligência artificial. Neste caso, ela é um produto de tecnologias, instituições, leis e pessoas. Não é só algoritmos e dados, como o Vale do Silício pensa sobre IA. E, também, era uma maneira de mostrar como uma tecnologia diferente precisa estar ligada a um projeto econômico diferente. No caso de Allende, havia essa convergência muito interessante entre o projeto tecnológico de um lado e o projeto socioeconômico do outro.
Hoje, quando falamos de conceitos como soberania tecnológica, nós frequentemente nos esquecemos de que lutar por soberania tecnológica sem lutar por soberania econômica é inútil. Qual é o sentido de se libertar do Google se você ainda será dependente da J.P. Morgan, da Goldman Sachs e do FMI? Essas coisas têm de ser pensadas juntas, mas muito frequentemente não são.
De novo, isso é parte de minhas intervenções intelectuais recentes. Eu quero mostrar que houve esforços de conectar isso, e foram esforços muito mais ousados do que qualquer coisa que pensamos hoje.
Nós ainda temos a tendência, herdada da década de 1990, de pensar na internet como um espaço excepcional. Nos anos 90, havia um conceito chamado “excepcionalismo da internet”, que basicamente dizia que o ciberespaço é único, novo e nos apresenta desafios que nunca vimos antes.
Parte dos meus motivos para examinar essas experiências do início da década de 1970 na América Latina foi mostrar que muitas das nossas dores de cabeça atuais quanto às Big Techs já foram experienciadas antes, e podemos aprender muito com o passado. Não há nada de excepcional na internet. Esses são problemas que tem a ver com dependência, colonialismo e a expansão da ordem mundial neoliberal. Esses não são problemas que tem a ver com redes digitais.
Qual a diferença entre a utopia de um Estado tecnológico dos engenheiros de Allende e aquilo que, em seu livro Big Tech, você chama de “utopia tecnocrática de política apolítica”, um tipo de “Estado algorítmico”?
O Estado de Allende era profundamente político. Podemos fazer todo tipo de críticas a ele, como se relacionava com a base e os trabalhadores. Podemos fazer críticas válidas a certas ambições tecnocráticas, que eu descrevo em meu livro. Mas esse era um governo democraticamente eleito que estava tentando instituir uma agenda política e geopolítica muito forte.
Nesse sentido, eu não vejo contradição [entre o Estado tecnológico de Allende e o Estado algorítmico], porque no Chile eles não estavam tentando eliminar a política. Eles estavam tentando aprimorar a política com melhores ferramentas e sistemas. É possível ter um sistema democrático com sofisticação tecnológica. É possível ter sistemas melhores, explorar alternativas e construir modelos. Tudo isso é útil, e eu acredito que deve ser buscado.
Na experiência chilena, os humanos estavam envolvidos e eram eles que tomavam as decisões finais. Eles não estavam dispostos a levar a lógica algorítmica ao seu extremo automatizado. O projeto Cybersyn [o projeto de planejamento econômico-tecnológico de Allende] consistia em utilizar o poder da tecnologia para auxiliar os tomadores de decisão humanos, e não substituí-los com um sistema automatizado que pudesse funcionar no piloto automático.
Esse sistema automatizado sendo esse Estado algorítmico.
Sim. Desde que eu escrevi esse ensaio, que aparece no livro “Big Tech”, que foi publicado no Brasil, eu refleti mais sobre o assunto. Em certa medida, o Estado de mercado do neoliberalismo é exatamente o Estado algorítmico que eu estou descrevendo. O mercado, na concepção de mundo de [Friedrich] Hayek [economista, um dos principais nomes da Escola Austríaca de economia], é exatamente isso. O mercado é um algoritmo. Ele corresponde à oferta e demanda. Esse é o sonho dos neoliberais, e é por isso que tantos deles celebram blockchains, bitcoins e criptomoedas, porque elas permitiriam uma automatização completa, retirando os humanos da equação, que só reagiriam ao que acontece no mercado.
Até certo ponto, é isso que [Javier] Milei quer fazer na Argentina ao abolir o banco central. Ele quer submeter a economia aos imperativos do mercado, sem nenhuma força interventora intermediária que possa mitigar as pressões que vem do mercado.
Você fundou o The Syllabus, uma organização sem fins lucrativos que tenta realizar um trabalho de curadoria para mostrar o que há de bom na internet, fugindo do ruído das mídias sociais. O que nós, como sociedade, e o que os Estados soberanos podem fazer para diminuir o ruído e encontrar o que há de interessante na esfera digital?
O motivo pelo qual eu fundei The Syllabus foi para mostrar que uma outra esfera pública digital é possível, e não requer injeções enormes de dinheiro. Você não precisa de uma equipe de 300 engenheiros. Você não precisa de US$ 5 bilhões. Quando governos e agentes públicos estão inativos, eles não deveriam usar a dificuldade do desafio como uma desculpa. Se eu consegui construir isso com um punhado de desenvolvedores e um orçamento bem pequeno, isso significa que nossas livrarias públicas, nossos museus e todos os outros podem fazer o mesmo.
Eles precisam enfrentar a tarefa, e não tem nenhuma desculpa para não fazê-lo. [Criar o The Syllabus] foi uma maneira de construir um protótipo que pressionaria o setor público e os governos. Mas, no fim das contas, minha mensagem com essa aventura do Syllabus é mostrar que temos uma economia digital que não funciona muito bem, e uma nova economia pode ser construída. Isso requer apenas um esforço diferente.
Da mesma maneira que uma economia social-democrática exigia um “bombeamento” keynesiano [John Maynard Keynes foi o economista que serviu de base para a criação do Estado de bem-estar social do meio do século XX], ela requeria alguma intervenção keynesiana nas operações do mercado para canalizá-lo para usos mais produtivos. É possível canalizar investimentos para usos mais produtivos.
Então, talvez nossa “economia da atenção” requer intervenções que canalizariam a atenção para usos mais produtivos. É possível, ao invés de direcionar as pessoas para conteúdo recomendado por algoritmos para otimizar a venda de anúncios, direcioná-las para causas dignas e coisas que são verdadeiramente interessantes e informativas, mas atualmente subvalorizadas pelo mercado publicitário. Em grande parte, é isso que impulsiona a economia da atenção atualmente: são as necessidades dos anunciantes, e não a qualidade do conteúdo que está sendo consumido online.
Leia mais
- Internet: o Desafio Morozov
- “O economicismo neoliberal é uma doença mental”. Entrevista com Franco ‘Bifo’ Berardi
- A cultura parcial dos líderes das empresas de tecnologia do Vale do Silício
- Vale do Silício: o trabalho como religião, o lucro como mística
- A nova colonização é de dados e na internet
- “Tecnofeudalismo” ou o capitalismo de sempre?
- Plataformas: Capitalismo sem freios ou tecnofeudalismo?
- “O tecnofeudalismo é uma espécie de capitalismo canibal”. Entrevista com Cédric Durand
- A necessidade de uma algorética para enfrentar o desafio da inteligência artificial. Artigo de Paolo Benanti
- O algoritmo “vigiador”. Artigo de Paolo Benanti
- O digital e a substituição da presença. Artigo de Paolo Benanti
- Algoritmos e novos instrumentos de participação política. Artigo de Paolo Benanti e Sebastiano Maffettone
- A enorme transformação da era digital e a correlação que conduz o nosso conhecimento sobre a realidade. Entrevista especial com Paolo Benanti
- “Sou a favor da tecnologia, mas vinculada a um sistema político e econômico diferente para alcançar justiça”. Entrevista com Evgeny Morozov
- Solucionismo, nova aposta das elites globais. Artigo de Evgeny Morozov
- A força oculta de quem controla os nossos dados. Artigo de Evgeny Morozov
- “As tecnologias digitais têm poder de decisão em nossas vidas”. Entrevista com Éric Sadin
- “Em nossa história moderna nunca sofremos duas revoluções tão profundas, em tão pouco tempo”. Entrevista com Ángel Bonet Codina
- “Não se deve ter m
- “O big data apresenta uma multimetodologia”. Entrevista com Walter Sosa Escudero
- Neoliberalismo: A “grande ideia” que engoliu o mundo
- Como o Brasil vai encarar o poder das Big Techs? Artigo de Sérgio Amadeu da Silveira
- Chomsky e o melodrama tecnofóbico. Artigo de Bruno Cava
- A algorética e o colonialismo digital. Artigo de Paolo Benanti
- Algorética: os valores atemporais da religião e sua contribuição insubstituível para o desenvolvimento humano e pacífico da inteligência artificial. Artigo de Paolo Benanti
- Inteligência Artificial será um dos focos de debates ao longo do ano no IHU
- ChatGPT: entenda como funciona a inteligência artificial do momento - e os riscos que ela traz