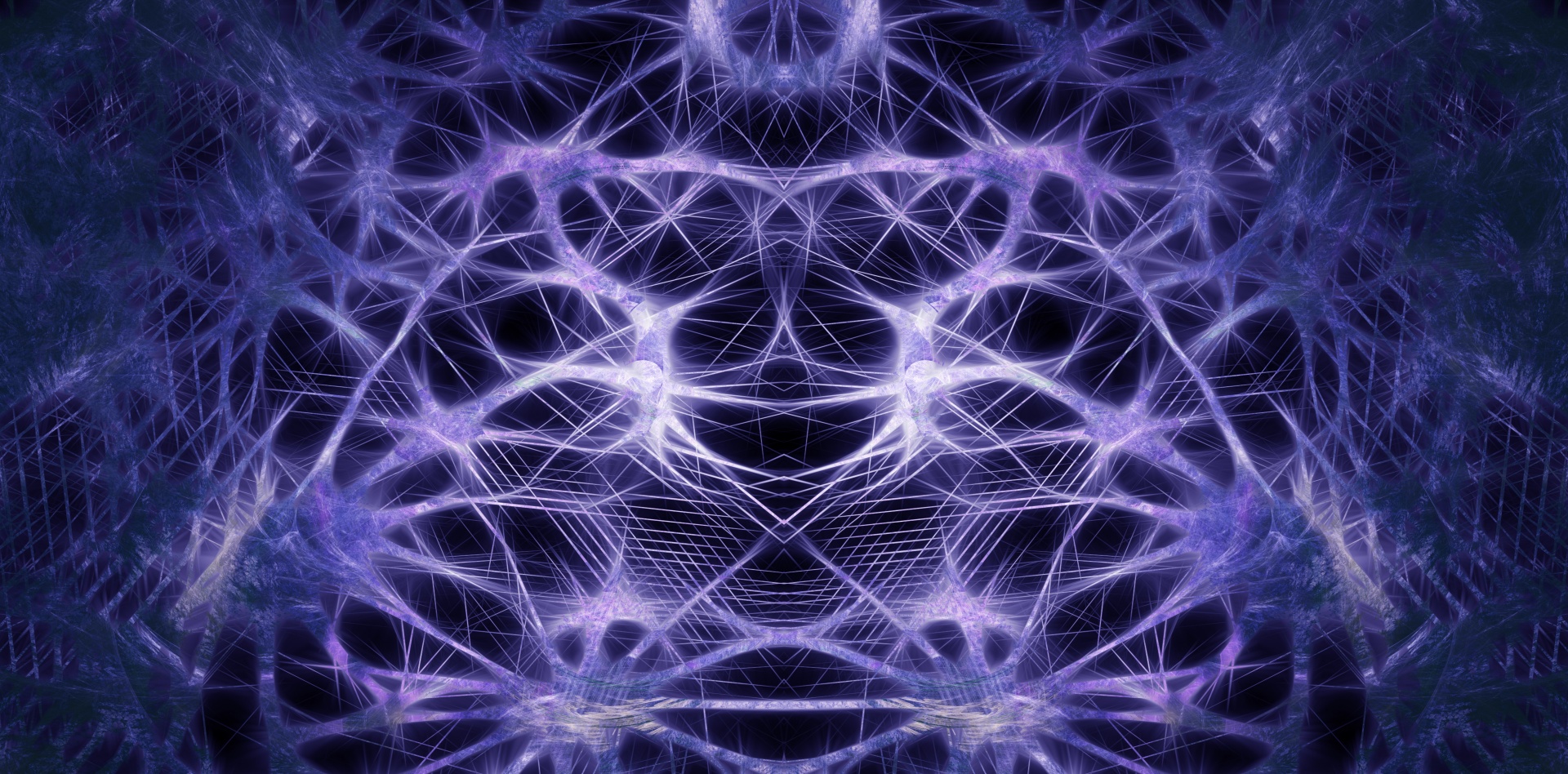15 Junho 2022
Â
Ăric Sadin enche auditĂłrios. Seus livros sĂŁo destacados por celebrities do mundo intelectual como Jorge CarriĂłn, no New York Times, ao mesmo tempo em que Ă© destinatĂĄrio de seminĂĄrios e estĂĄ presente nos suplementos culturais de mĂdia grĂĄfica e digital desta regiĂŁo. Nos Ășltimos dez anos, este escritor e ensaĂsta francĂȘs se tornou uma referĂȘncia cotidiana na hora de pensar as mutaçÔes que a tecnologia introduz no que entendemos por humano.
Â
A centralidade que seus livros adquiriram na Argentina estĂĄ em sua capacidade de se posicionar em favor da comunidade humanista, em tempos em que sua definição parece hackeada pelas mediaçÔes tecnolĂłgicas. A solidariedade humana, o pensamento crĂtico e o encontro â ofuscado, por certo â com o real estĂŁo para Sadin no centro da exigĂȘncia do âser-com-os-outrosâ, de criar comunidade.
Â
Ă evidente que essa solidariedade estĂĄ em disputa ao menos desde a Modernidade com o solipsismo cartesiano e o atomismo calculista da filosofia polĂtica de Hobbes.
Â
No fio dessas tensĂ”es, em La era del individuo tirano, seu Ășltimo livro traduzido para o espanhol, Sadin aborda as mudanças em nosso modo de ser no mundo. Uma mudança de ethos que remonta ao individualismo liberal do sĂ©culo XVIII. No texto, um conjunto de gravuras que combinam a leitura do liberalismo com a paixĂŁo pela expressividade das sociedades contemporĂąneas, Sadin volta a expressar sua inimizade com o novo mundo.
Â
Existe uma condição necessåria, comum, sobre a qual nossa sociedade se afirma? Que figuras emergem do sonho da razão no século XXI? Essas questÔes, que orientam a leitura do livro, desembocam, segundo seu autor, na tirania do eu.
Â
Conversamos com Ăric Sadin sobre sociabilidade, tecnologia e solipsismo em tempos de silicolonização do mundo.
Â
A entrevista Ă© de Facundo Carmona, publicada por ClarĂn-Revista Ă, 13-06-2022. A tradução Ă© do Cepat.
Â
Eis a entrevista.
Â
Que mundo se abre a partir da quarentena que se estendeu entre 2020 e 2021?
Â
Esta pandemia nos forçou a realizar muitas das nossas açÔes habituais online. Trabalho, escola, universidade, acesso a obras culturais, intercĂąmbios habituais, em sĂntese, grande parte do que se chama âvida socialâ se viu transposta a pixels.
Â
Neste aspecto, ocorreu um fenĂŽmeno crucial: a tela se ergueu como a principal instĂąncia de encontro nas relaçÔes entre as pessoas. Como se, com a velocidade de um raio, fosse inaugurada outra era da humanidade, na qual nossas âmĂĄscaras de pixelsâ passassem a viabilizar a medida de âdistĂąncia socialâ exigida pela ameaça do coronavĂrus.
Â
Os diferentes confinamentos nĂŁo representaram um acontecimento biopolĂtico sĂł por causa de nosso internamento sanitĂĄrio forçado. Foram tambĂ©m um choque psicolĂłgico pelo fato de ter que viver uma âtelessociabilidade generalizadaâ. Contudo, nĂŁo hĂĄ nada menos natural do que essa conjuntura que nos desorientou ou que ao menos confirmou para muitos um estado latente.
Â
Tal estado provĂ©m de lĂłgicas econĂŽmicas cada vez mais descontroladas, vigentes hĂĄ dĂ©cadas e que geraram a sensação de nĂŁo podermos nos remeter a nĂłs mesmos, para o bem ou para o mal. Isso permitiu o surgimento do que chamo de estado de âisolamento coletivoâ.
Â
Qual Ă© o lugar da palavra em um perĂodo no qual sua circulação nas redes sociais se acelera?
Â
O contexto de surgimento das redes sociais coincide com a intensificação das desilusĂ”es e uma grande desconfiança em relação ao polĂtico e o econĂŽmico. As redes ganham forte impulso no final dos anos 2000.
Â
O contexto Ă© importante: a Segunda Guerra do Golfo e as mentiras do governo Bush. Eram tempos em que se constatava que a ordem neoliberal havia cometido uma grande quantidade de excessos, em primeiro lugar as prĂĄticas fraudulentas do mundo das finanças, Ă s vezes alcançadas com a cumplicidade da polĂtica.
Â
Foi tambĂ©m o momento em que as tĂ©cnicas de management estavam sendo incansavelmente aperfeiçoadas, o que fez com que os indivĂduos se sentissem cada vez menos donos de si e forçados a se submeter a condiçÔes que os privavam de seu poder de ação. E de repente â nĂŁo foi planejado desse modo, obviamente â surgiu o Facebook, uma rede dentro da qual o âlikeâ contrabalanceava a invisibilização de si mesmo.
Â
A partir daĂ, muitos indivĂduos se deixaram levar pela embriaguez dessa recompensa, por esse devaneio a respeito de si mesmos. Mais tarde, o Twitter possibilitou libertar a prĂłpria palavra, acentuando muito rapidamente a vontade de confrontar com os outros atravĂ©s do verbo, atravĂ©s de uma interface que obrigava o uso de fĂłrmulas breves e que estimulava, entĂŁo, a asserção, a fĂłrmula definitiva e que, mais do que favorecer a liberdade de expressĂŁo, gerou muito rapidamente formas de surdez entre as pessoas, fora de qualquer procedimento de troca e escuta possivelmente frutĂfera.
Â
Ă neste aspecto que me permito discordar do mito da emancipação atravĂ©s das redes: nunca existiu para alĂ©m de alguns geeks exaltados que acreditavam que teclando irĂamos nos libertar de nossas correntes. Quem poderia acreditar em tais absurdos?
Â
Em vez disso, do inĂcio dos anos 1990 atĂ© o presente, formou-se uma crença sĂłlida: se utilizarmos todas essas tecnologias pessoais, seremos capazes de encarnar a fĂĄbula do indivĂduo autoconstruĂdo, a ideologia do autoempreendedorismo acerca da prĂłpria vida e, alĂ©m disso, ser mais protagonistas da mesma.
Â
No entanto, a Primavera Ărabe, no Oriente MĂ©dio, e o âNi Una Menosâ, na Argentina, significam para muitos a possibilidade de construir movimentos polĂticos a partir das redes sociais. Ă possĂvel um ativismo marcado pelos usos e costumes dos nativos digitais?
Â
Tenho minhas reservas. Vivemos como nunca uma assimetria entre a palavra e os atos. Os anos 2010 mostraram uma politização das consciĂȘncias, mas esta politização, mais do que assumir a forma de açÔes concretas no campo de nossas realidades cotidianas, manifestou-se principalmente sob a forma de um dilĂșvio do verbo.
Â
Existem muitas pessoas tomadas pelo rancor â e muitas vezes com razĂŁo â que nĂŁo param de denunciar as derivas da atual ordem polĂtica e econĂŽmica, mas com total indiferença em relação ao fato de que todas essas postagens cairĂŁo imediatamente no esquecimento do presente e gerarĂŁo lucros para as plataformas siliconianas [do Vale do SilĂcio]. Esse paradoxo demonstra a dimensĂŁo de nossa impotĂȘncia em sair do entrave e transformĂĄ-lo em uma abundĂąncia de açÔes com objetivos virtuosos.
Â
No livro, vocĂȘ debate a ideia de capitalismo de tecnovigilĂąncia e antepĂ”e a ideia de um capitalismo que se enraĂza nas emoçÔes, que estimula e premia a expressĂŁo. Que mudanças ocorreram nos Ășltimos quarenta anos? Qual Ă© o resultado da argamassa de postagens, dos discursos de transparĂȘncia e digitalização do eu?
Â
Houve um momento em que o âeuâ, o indivĂduo, era celebrado em todos os lugares. Vimos isso no inĂcio dos anos 2000, com a onipresença da âiâ (iMac, iPod, iPhone etc.), seguida mais tarde pelo âYouâ que nos chamava a nos apropriar de todos os sistemas, como o YouTube, por exemplo.
Â
Em 2006, a revista Time escolheu You a personalidade do ano. Foi o reconhecimento do fato de que, de agora em diante, o mecanismo especialmente ativo das sociedades era a força empreendedora de cada indivĂduo, chamado particularmente a se beneficiar de todas as tecnologias digitais colocadas Ă sua disposição.
Â
Contudo, no mesmo perĂodo, vivenciamos formas de desapropriação de nossa capacidade de controlar nosso destino, tanto individual quanto coletivamente, pelo fato de terem surgido certas cominaçÔes de ordem neoliberal para que nos alinhĂĄssemos a certos objetivos definidos de antemĂŁo, que apontavam somente para a otimização de cada situação.
Â
Simultaneamente, as tecnologias pessoais nos deram a ilusão de sermos mais autÎnomos, móveis, reativos etc. Essa tensão entre a desapropriação de si mesmo e a sensação de poder quase total é tão desorientadora como explosiva. A próxima escala na gradação é obviamente o fato de que existem sistemas cada vez mais destinados a garantir nosso suposto bem-estar de forma hiperpersonalizada e a nos orientar em todas as circunstùncias.
Â
Por essa razĂŁo, em minha opiniĂŁo, nĂŁo estamos diante de um âcapitalismo de vigilĂąnciaâ, mas diante de um capitalismo que interpreta nossos comportamentos, na maior parte do tempo com o nosso prĂłprio consentimento, em vista de garantir nosso suposto conforto, e que se coloca cada vez mais como um âcapitalismo da administração de nosso bem-estarâ, para o qual nĂŁo deixamos de contribuir continuamente.
Â
Neste esquema, onde fica a possibilidade de construir um horizonte comum?
Â
Hoje, certos grupos (Ă©tnicos, de gĂȘnero, sociais...) chegam ao ponto de defender interesses particulares sem sequer imaginar que possam se inscrever em um marco comum, na medida em que consideram que Ă© essa mesma ordem comum que nos prejudicou implacavelmente.
Â
Ă o tempo da profusĂŁo do que chamo de âsubjetividades revanchistasâ, que buscam impor a todo custo sua prĂłpria visĂŁo das coisas, gerando uma atomização e uma crispação da sociedade que estĂŁo em ascensĂŁo.
Â
Ă perigoso porque a polĂtica Ă© a expressĂŁo da pluralidade, dos interesses divergentes e da necessidade de negociar para agir por um bem comum maior.
Â
No livro, que foi publicado em francĂȘs em 2020, vocĂȘ aponta que os anos posteriores Ă pandemia podem levar a um novo tipo de fascismo. Isso estĂĄ acontecendo, agora, com a Europa em guerra?
Â
Ao contrĂĄrio do que se afirmou ao longo dos anos 2010, nĂŁo estamos vivendo um momento populista. Nada mais eram do que efeitos de superfĂcie, em detrimento da multiplicação dos regimes âiliberaisâ.
Â
Na verdade, enfrentamos o advento de um novo indivĂduo contemporĂąneo: desiludido e munido de tecnologias, muito decidido a nĂŁo ser enganado e que nĂŁo adere mais Ă s representaçÔes majoritĂĄrias que, com frequĂȘncia, avaliam como enganosas.
Â
Neste ponto, entramos em uma era de âingovernabilidade permanenteâ, que nos mostra multidĂ”es que nĂŁo atribuem mais o mĂnimo crĂ©dito a uma ordem considerada injusta e que, ao mesmo tempo, predomina hĂĄ um longo tempo.
Â
Ă o motivo pelo qual se torna imperativo retomar os laços com o nosso poder de ação em todas as escalas da sociedade, para nos envolvermos mais no curso das coisas, em oposição Ă expressĂŁo infindĂĄvel de nossos ressentimentos, que nos mina e remete incansavelmente a nosso isolamento e a uma impotĂȘncia mortĂfera.
Â
Leia mais
Â
- âVivemos uma ruptura civilizatĂłriaâ. Entrevista com Ăric Sadin
- Ăric Sadin alerta contra a âpropagação de um anti-humanismo radicalâ
- âAs tecnologias digitais tĂȘm poder de decisĂŁo em nossas vidasâ. Entrevista com Ăric Sadin
- âEstĂŁo reduzindo a realidade a equaçÔes matemĂĄticasâ. Entrevista com Ăric Sadin
- âEstaremos cercados por fantasmas que administrarĂŁo nossas vidasâ. Entrevista com Ăric Sadin
- âVemos muito bem que o milagre da InteligĂȘncia Artificial nĂŁo Ă© para nĂłs, mas para a indĂșstriaâ. Entrevista com Ăric Sadin
- âAs empresas tecnolĂłgicas buscam monetizar cada instante da vidaâ. Entrevista com Ăric Sadin
- A inteligĂȘncia artificial: o superego do sĂ©culo XXI. Artigo de Ăric Sadin
- Nossa identidade como um elemento monetizĂĄvel. Entrevista com Ăric Sadin
- Ăric Sadin e a era do anti-humanismo radical
- âO tecnoliberalismo lança-se Ă conquista integral da vidaâ. Entrevista com Ăric Sadin