A pesquisadora chama atenção para as condições com que são tratados os detentos. Sem escuta, criminosos se unem em ataques pelas ruas como forma de atentar para a realidade prisional
Desde terça-feira da semana passada, Natal e outras cidades do Rio Grande do Norte vivenciam uma onda de violência que colocou todo o país em choque. É evidente que nada justifica incendiar ônibus, promover saraivadas de tiros e uma onda de medo e violência em toda a população. Mas se estivéssemos sendo ultrajados em atentados e ataques aos direitos humanos sem que fôssemos escutados, não faríamos de tudo para chamar atenção? “Todos os presos com os quais já conversei em minha trajetória acadêmica têm a consciência de que erraram e dizem que precisam ser punidos. Mas a punição com a pena da privação da liberdade, o bem mais sagrado que temos, já seria suficiente e não envolveria as práticas de tortura, sujeição à fome e outras ações degradantes”, observa a pesquisadora e antropóloga Juliana Gonçalves Melo.
Na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, ela explica que a situação da criminalidade é muito, mas muito complexa e exige a análise de muitas questões. Do contrário, cai-se em reducionismos que levam a um punitivismo com ares de vingança que passa ao largo dos direitos humanos. No final da quinta-feira, 16-03-2023, quando Juliana enviou as respostas das questões propostas para essa entrevista, o governo federal enviou mais agentes da Força Nacional de Segurança, pois os 100 que já estavam no Rio Grande do Norte e mais todo o aparato policial do estado não conseguiam sufocar a onda de violência. “Apelar à Força Nacional e à intervenção nos presídios é a dinâmica que costuma ser acionada nesses casos por parte dos governos locais. Não me cabe julgar essa determinação, mas creio que só adotar essas ações não resolve o problema a médio prazo”, avalia Juliana.
Em certa medida, o que a pesquisadora revela é que há um sufocamento por parte das forças de segurança pública. Há um sufocamento não à onda de violência, mas às denúncias de familiares e detentos ao sistema penitenciário. “Essa não é apenas a terceira noite de ataques, mas a ‘terceira onda’ de ataques nos últimos 10 anos”, completa. Ou seja, para entender o que se passa é preciso voltar a 2017 e 2018. Nas penitenciárias, disputas entre facções criminosas geraram conflitos. O problema é que a repressão truculenta fez com que as próprias facções rivais se unissem. “O caso de agora parece emblemático porque sugere que as rivalidades entre as facções sejam esquecidas em prol de um projeto maior, que é denunciar as condições do sistema prisional potiguar e seu estado de violação sistemático. Depois da guerra acontecida nas ruas entre 2017 e 2018 e do Massacre em Alcaçuz, essa união parece pouco provável. Mas, agora, há sinais de que isso é possível”, aponta Juliana.
Falar de violações de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro, infelizmente, virou lugar-comum. Porém, as incursões de pesquisa que Juliana faz em penitenciárias do Rio Grande do Norte têm revelado condições de vida muito inferiores aos calabouços ou masmorras medievais. “A fome é crônica no sistema potiguar e acentuada pela comida estragada e azeda na grande maioria dos casos, e isso não é novidade para quem pesquisa o campo ou atua nele. As celas estão superlotadas e os presos denunciam ainda que bens de higiene, limpeza e remédios enviados por familiares não estão chegando. Uma mãe disse que 40 homens dividem uma mesma lâmina de barbear, e já houve situações em que uma mesma escova de dentes era dividida com uma cela inteira”, exemplifica.
Do lado de fora, enquanto se noticia que a onda de violência ocorre porque presos pedem visitas íntimas e aparelhos de televisão, familiares são silenciados na busca por melhores condições a quem vive na cadeia. Segundo Juliana, o centro dos pedidos é “para que as torturas sejam coibidas e que [os detentos] não precisem ficar horas em posição de procedimento e para que não sejam obrigados a tomar a própria urina ou água sanitária. (…) Há, inclusive, um viés muito moralista em relação a essa questão [da visita íntima] e que precisa ser revisto. Já vi operadores do Direito dizendo que as mulheres de presos são ‘vagabundas’ por reivindicar um contato íntimo com seu parceiro. Não vejo nenhuma dessas reivindicações como regalias, e acho que há um processo de violência de gênero aí também. Entendo que essa perspectiva sobre ‘regalias’ apenas tenta colocar um véu em uma questão maior e muito mais complexa”, acrescenta a pesquisadora.

Juliana Gonçalves Melo (Foto: Arquivo pessoal)
Juliana Gonçalves Melo é pesquisadora do sistema prisional e professora do Departamento de Antropologia e do PPG em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Atualmente faz estágio pós-doutoral na Universidade de Bordeaux, na França. É doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília – UnB, mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e graduada em Ciências Sociais pela UnB. Desenvolve pesquisas no campo prisional desde 2010 e tem projetos de extensão em unidades prisionais desde então.
IHU – Na última semana, o Rio Grande do Norte viveu uma nova onda de violência. Como podemos compreender a ebulição que vive o estado?
Juliana Gonçalves Melo – Compreender esse estado de coisas implica voltar um pouco no tempo e refletir sobre a consolidação do crime organizado no Rio Grande do Norte, sobretudo depois de 2012, bem como sobre o massacre acontecido em Alcaçuz em 2017, em que pelo menos 27 pessoas foram mortas e nas consequências desse evento em termos de políticas públicas e de dinâmicas criminais no Estado. A título de introdução, com o Massacre de Alcaçuz, estabeleceu-se uma relação de rivalidade absoluta entre a facção local, o Sindicato do Crime e o Primeiro Comando da Capital – PCC e essa rivalidade se estendeu para as ruas.
A “guerra” transbordou das prisões e provocou novas dinâmicas territoriais, com tomadas de bairros por facções rivais e com o deslocamento do PCC para o interior do Estado (especialmente Mossoró). Nesse contexto, entre 2017 e 2018 os números de homicídios cresceram assustadoramente. O poder público também reagiu, com prisões de lideranças e membros das facções; transferências para os presídios federais; apreensão de armas, drogas e recursos, o que desestabilizou o crime organizado local em certa medida.
No âmbito estrutural, o estado investiu em uma reforma na prisão de Alcaçuz, a maior do estado, de forma a dificultar a fuga de presos, que era recorrente, assim como a entrada de drogas e celulares. A intervenção no sistema prisional que se sucedeu resultou ainda na adoção de medidas de controle muito severas em relação aos presos e marcadas pela prática de tortura, espancamentos, privações alimentares, à água, a remédios, a bens de higiene, etc., como formas de controle social.
Soma-se a isso o tratamento destinado a familiares, a supressão de visitas íntimas e de entrada de alimentos, etc. As possibilidades de acesso a empregos e formas de remição de pena pela leitura, pelo trabalho, entre outras, também foram ainda mais limitadas desde 2017 e, atualmente, existem no papel.
A situação alimentar, causada pelo fato da comida ser insuficiente e estragada, por exemplo, é algo constantemente denunciado através de ofícios e idas de familiares a defensorias. Mas essas denúncias parecem não ser investigadas de forma mais eficaz ou não são capazes de coibir a reiteração dessas dinâmicas.
Para se ter ideia, a situação já foi denunciada em cultos, passeatas e mobilizações de familiares, frequentemente criminalizados por essas ações e vistos como “mentirosos”. Ou seja, esses casos nunca encontraram nenhum eco em termos mais amplos. De modo geral, todos esses aspectos constituem um verdadeiro barril de pólvora e os ataques são resultado disso.
Temos uma situação insustentável e, diante dela, os faccionados, que não podem ser considerados como simples massa de manobra, acionam a linguagem da violência para comunicar esse estado de coisas. A violência, nesse sentido, é uma mensagem que ecoa, chama a atenção e, ao mesmo tempo, representa um grito de ódio diante de um Estado violador de direitos. Nesse sentido, a violência se impõe como a única linguagem possível.

Comida azeda servida a detentos em episódios de 2017 | Foto: acervo de pesquisa de Juliana Gonçalves Melo
IHU – Além da capital Natal, oito cidades registaram atentados. Que cidades são essas e que relações estabelecem entre si com a criminalidade?
Juliana Gonçalves Melo – O Rio Grande do Norte é um estado pequeno e com a presença majoritária do Sindicato do Crime nas prisões e periferias estaduais, e o fato dos ataques incluírem várias cidades, além de Natal, mostra essa expansão e consolidação. No entanto, não tenho dados suficientes para tecer as relações entre essas cidades, de uma forma mais ampla, e os últimos acontecimentos.
IHU – Entre quarta-feira (15-03-2023) e quinta-feira, Natal viveu a terceira noite e madrugada de ataques, mesmo depois da chegada de 100 agentes da Força Nacional de Segurança. O que isso revela sobre a resposta estatal à onda de violência?
Juliana Gonçalves Melo – Mostra que ainda estão tentando demonstrar sua força e a vitalidade dos ataques, que estão vinculados às péssimas condições do sistema prisional local, como disse anteriormente. Cabe notar, aliás, que essa não é apenas a terceira noite de ataques, mas a “terceira onda” de ataques nos últimos 10 anos. Apelar à Força Nacional e à intervenção nos presídios é a dinâmica que costuma ser acionada nesses casos por parte dos governos locais. Não me cabe julgar essa determinação, mas creio que só adotar essas ações não resolve o problema a médio prazo.
O que mais fazemos no Brasil é “reprimir” o crime, prender as pessoas (desiguais) e puni-las com a prisão e a precarização máxima desse espaço e das vidas ali inseridas. Já somos a terceira maior população carcerária do mundo e isso não nos impede de ser um país extremamente violento. No entanto, continuamos apertando essa mesma tecla e insistindo apenas nessas ações: intervenção, transferência de presos, aprisionamento e sujeição de presos a práticas de controle degradantes e cruéis.
É preciso ir além dessas ações e apurar, por exemplo, as denúncias sucessivamente encaminhadas por familiares de forma mais eficaz. É preciso, ainda, que os direitos da Lei de Execução Penal sejam minimamente cumpridos e que o estado zele por elas, ao contrário de violá-las sistematicamente. Avançar nessas questões permitiria pensar o sistema prisional como estruturante de nossa cidade e perceber que quanto mais violentas são nossas prisões, mais violentos nos tornamos como sociedade.
Afinal, não há pena de prisão perpétua no Brasil, e nossas prisões apenas aprimoram a carreira criminosa dos que são capturados por suas redes e a cultivam no ódio. A resposta estatal deveria contemplar todos esses aspectos.
IHU – Como a senhora analisa as respostas do governo do estado a essa crise de segurança pública?
Juliana Gonçalves Melo – Entendo como adequadas quando diz “punir com o rigor da lei” – é o que os presos demandam. Mas punir com o rigor da lei não é obrigar alguém a beber água sanitária, por exemplo. Entendo como adequada a declaração de que as denúncias serão apuradas com rigor e almejo que isso de fato se concretize e que práticas de tortura sejam tratadas como são, um crime.
IHU – Como estão os índices de criminalidade no Rio Grande do Norte? E qual o perfil dos detentos do sistema penitenciário estadual?
Juliana Gonçalves Melo – Grande parte das dinâmicas criminais do RN se concentra em crimes patrimoniais, e há um grande número de pessoas aprisionadas por pequenas quantidades de drogas e classificados como vinculados a associações criminosas – e as mulheres fazem parte desse grupo com frequência. Nesse caso, geralmente tem um perfil vulnerável em termos econômicos, raciais, etc.
Aliás, é preciso pensar que o PCC, atuante em São Paulo, não é o mesmo no RN. Recursos, armas, por exemplo, costumam ser muito mais limitados. Nesse sentido, algumas reportagens sobre apreensão de “lideranças” do crime mostram um arsenal bélico e de bens que costuma ser irrisório em muitos casos. O crime do RN tem mais ou menos esse perfil majoritário, mas não se resume a isso.
Por sua vez, os detentos majoritariamente provêm das periferias, com acesso limitado aos sistemas de justiça. Muitos não conheceram um estado de bem-estar social durante toda sua trajetória de vida e o primeiro contato com o Estado foi através do aprisionamento. De cada dez presos no RN, aproximadamente sete não têm o Ensino Fundamental completo, o que é um dado importante a considerar. Há, também, um aspecto mais rural nas prisões do interior do estado e isso precisa ser melhor investigado em momento oportuno.


Homens postos nus em revista em episódios de 2017 | Foto: acervo de pesquisa de Juliana Gonçalves Melo
IHU – Essa não é a primeira crise de segurança, como a senhora referiu, tendo já ocorrido episódios semelhantes em anos anteriores. Que relações podemos estabelecer entre o que vemos hoje com o ocorrido em 2017 e 2019?
Juliana Gonçalves Melo – Como disse anteriormente, vejo uma relação de continuidade entre essas crises e a repetição das mesmas ações para contê-las emergencialmente. As práticas de violação nas prisões são o estopim principal, a despeito de outras questões que envolvem, por exemplo, a presença de grupos de extermínio no Estado e o aumento de homicídios nas periferias nos últimos meses, além de disputas políticas locais.
IHU – Na primeira entrevista que nos concedeu em 2017, a senhora afirmou que as facções do Nordeste não queriam se submeter a grandes organizações do Sudeste, como o Primeiro Comando da Capital – PCC e o Comando Vermelho – CV, e isso foi um dos motivos que levou a violência de dentro dos presídios às ruas. Que relação podemos estabelecer entre o caso de hoje com o de 2017?
Juliana Gonçalves Melo – O caso de agora, inicialmente, parece emblemático porque sugere que as rivalidades entre as facções sejam esquecidas em prol de um projeto maior, que é denunciar as condições do sistema prisional potiguar e seu estado de violação sistemático. Depois da guerra acontecida nas ruas entre 2017 e 2018 e do Massacre em Alcaçuz, essa união parece pouco provável. Mas, agora, há sinais de que isso é possível. A despeito de uma chamada de união entre as facções rivais no estado (Sindicato do Crime e PCC), ainda não existem dados para comprovar se essa é uma união temporária, se é uma espécie de “acordo entre cavalheiros” ou se de fato irá se consolidar.
Se a aliança se estabelecer, novamente teremos uma reviravolta nas dinâmicas prisionais locais e nas periferias do RN. Tendo a achar que a memória do massacre e dos mortos não será esquecida tão rapidamente e que esse é um acordo temporário. Porém, reitero, só o tempo permitirá avaliar melhor a situação.
IHU – Que mudanças ocorreram nas organizações criminosas do Nordeste de 2017 até hoje?
Juliana Gonçalves Melo – A expansão do PCC provocou reações diferentes nas regiões do país. Há lugares em que facções locais se fundiram ao PCC, outros em que as facções locais se opõem a essa presença ou convivem “diplomaticamente” e essas relações podem ser alteradas com o tempo. No caso do Sindicato, o grupo surge como uma dissidência do PCC e em oposição a ele. A presença do PCC e do Comando Vermelho – CV também provocou novas dinâmicas, portanto. Também teve uma função de “organizar” o crime de uma forma mais coletiva e estruturada – baseada em um conselho de lideranças, em regras e em um estatuto.
Antes disso, no RN em especial, havia muitas gangues rivais num mesmo bairro e cada um fazia seu “corre” individualmente. Não havia a perspectiva, por exemplo, de pagar uma taxa para a facção para que tenham, futura e idealmente, apoio com advogados ou com as famílias quando fossem presos. Havia roubo nas comunidades e uma situação de tensão muito forte nos presídios, já que “a lei do mais forte” era a que prevalecia.
Isso tudo muda com a entrada e consolidação do crime organizado, o que vai acontecer nas últimas duas décadas no RN, por exemplo. De lá para cá, essa estrutura só se ampliou. Vejo que houve uma consolidação desse modelo, com um consequente fortalecimento do crime organizado, o que inclui ainda milícias e grupos de extermínio.
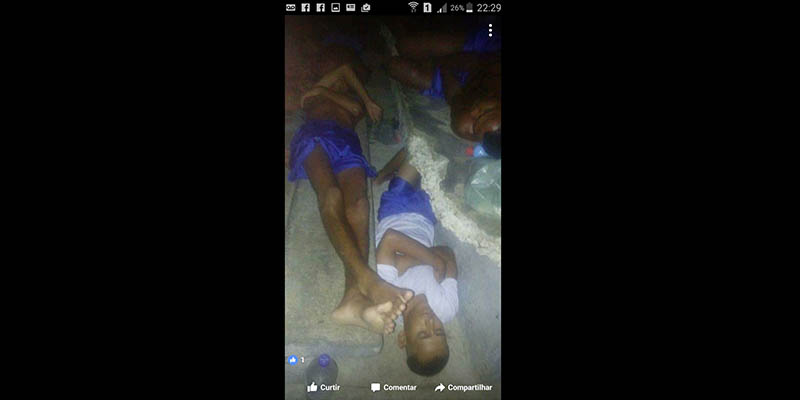
Flagrante de cela superlotada compartilhada por detentos em 2017 | Foto: acervo de pesquisa de Juliana Gonçalves Melo
IHU – No começo dessas últimas ações de agora, chegou-se a afirmar que eram retaliações por apreensão de drogas pela polícia. Depois, soube-se que são reivindicações relacionadas às condições dos presídios. Como a senhora observa essa situação?
Juliana Gonçalves Melo – Existem várias versões locais sobre os últimos ataques. Seria um movimento para desestruturar o governo local, estimulado por interesses políticos e nos quais os presos seriam massa de manobra. Há, ainda, um movimento forte que diz que os ataques são devidos aos pedidos de “regalias” dos presos. Existe também uma versão que diz que os ataques são o resultado de apreensões de armas, drogas e recursos, bem como devido a transferências de presos para prisões federais.
Penso que todas essas explicações são reducionistas e cobrem com um véu a questão que eu vejo como principal: rever o estado de violações sistemáticas de direitos humanos nas prisões locais e que vêm sendo intensificadas de 2017 para cá. Não concordo que os presos sejam apenas massa de manobra e não os vejo com a intenção de destruir o governo local. Entendo, porém, como uma tentativa de chamar a atenção para que as denúncias sejam de fato investigadas, para que deixem de ser sistemáticas, uma tentativa de mostrar poder através do medo e da violência.
A apreensão de armas, bens, drogas e pessoas, assim como a transferência de presos e o aprisionamento crescente de “lideranças”, também são ações que têm acontecido nos últimos cinco anos e não causaram, antes, esse impacto. Por que seria diferente agora?
Sem ignorar nenhuma dessas alternativas, o que temos de constante são as denúncias em relação ao estado de violações graves no sistema prisional e o fato de que essas denúncias não são apuradas de uma forma mais ampla e eficaz. Nesse sentido, a gestão do governo deixa muito a desejar, no que tange à apuração dessas denúncias e um maior monitoramento da situação prisional, com o acatamento, por exemplo, de recomendações do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que já esteve no estado três vezes nos últimos anos.
O governo, por outro lado, tem uma série de bons projetos para uma melhor inserção dos presos socialmente – com possibilidades de realização de estudos, acesso a trabalhos e remição de pena, e isso é muito positivo. No entanto, são ações que estão no papel, sem ser efetivadas de uma forma mais contundente e eficaz.
IHU – Voltando às condições das prisões, em meio aos ataques surgiu a informação de que há presídios onde detentos recebiam comida estragada e celas estavam sem luz, sendo apenas iluminadas por refletores externos. Eu gostaria de voltar a esse ponto. A senhora tem relatos dessas situações?
Juliana Gonçalves Melo – Sim, são inúmeros relatos nesse sentido, e essa questão tem sido denunciada pelo menos nos últimos cinco anos, especialmente por familiares. Também fiz várias denúncias entre os anos de 2017 e 2019 e fui ameaçada por isso. Por dois acompanhei anos a peregrinação de familiares para que essas denúncias fossem acatadas em órgãos competentes e os vi, várias vezes, sendo tratados como não dignos de escuta e reconhecimento.
A fome é crônica no sistema potiguar e acentuada pela comida estragada e azeda na grande maioria dos casos, e isso não é novidade para quem pesquisa o campo ou atua nele. As celas estão superlotadas e os presos denunciam ainda que bens de higiene, limpeza e remédios enviados por familiares não estão chegando. Uma mãe, por exemplo, disse que 40 homens dividem uma mesma lâmina de barbear, e já houve situações em que uma mesma escova de dentes era dividida com uma cela inteira.
Atualmente, há denúncias de pessoas com doenças contagiosas (como a tuberculose) que são colocados junto com pessoas saudáveis para adoecê-las. Nenhuma dessas denúncias é nova. São perenes e contínuas no tempo.

Ação repressiva em penitenciária do Rio Grande do Norte em 2017 | Foto: acervo de pesquisa de Juliana Gonçalves Melo
IHU – Enquanto noticiam os ataques pelas ruas do Rio Grande do Norte, a grande imprensa imprime a narrativa de que presos reivindicam melhores condições e dão exemplos, como mais visitas íntimas e disposição de aparelho de TV, enquanto silenciam sobre a alimentação e condições das celas. O que isso revela?
Juliana Gonçalves Melo – Isso revela uma vontade de punição e uma visão reducionista dos fatos, com certo desvirtuamento da questão. Por exemplo, os presos pedem para que não sejam obrigados a comer comida estragada; para que seus familiares sejam respeitados; para que tenham acesso a apostilas para estudar para ingressar no ensino superior; para que recebam os produtos de higiene, limpeza e remédios que suas famílias entregam; pedem por mais oportunidade de trabalho e possibilidades de participarem de projetos de remição de pena por trabalho e educação – todos direitos assegurados em lei e violados na prática cotidiana da gestão prisional.
Também pedem para que as torturas sejam coibidas e que não precisem, por exemplo, ficar horas em posição de procedimento e para que não sejam obrigados a tomar a própria urina ou água sanitária. Pedem para que voltem a receber alimentos de suas famílias, o que melhoraria sua condição nutricional (sem contar a questão simbólica que envolve essa prática). Pedem que sejam punidos com o rigor da lei e de acordo com as orientações na Lei de Execução Penal, o que exclui a sujeição a práticas cruéis e degradantes.

Ferimentos de bala de borracha em episódios de 2017 | Foto: acervo de pesquisa de Juliana Gonçalves Melo
E ainda pedem a volta da visita íntima, prática assegurada em inúmeras prisões brasileiras e rejeitada no RN como uma forma de ampliar a punição sobre eles e sobre suas famílias, a despeito das desculpas sobre segurança nos presídios. Há, inclusive, um viés muito moralista em relação a essa questão e que precisa ser revisto. Já vi operadores do Direito dizendo que as mulheres de presos são “vagabundas” por reivindicar um contato íntimo com seu parceiro. “Por que você não vai lavar a roupa ao invés de ficar pensando em sexo?”. Não vejo nenhuma dessas reivindicações como regalias, e acho que há um processo de violência de gênero aí também.
Entendo que essa perspectiva sobre “regalias” apenas tenta colocar um véu em uma questão maior e muito mais complexa.
IHU – A partir de suas pesquisas, quais os caminhos para se construir saídas para ondas de violência e criminalidade no Rio Grande do Norte e evitar que situações como essa de agora, de 2019 e de 2017 se repitam?
Juliana Gonçalves Melo – Acredito que esses ciclos de violência só serão contidos com um país menos desigual e uma justiça menos seletiva. Também acredito que a educação é fundamental e que precisamos cuidar de perto dos nossos jovens, oferecendo outras possibilidades de vida para além do crime. Acredito que apenas com maior monitoramento e vontade por parte do poder público em coibir as violações graves aqui denunciadas pode reverter esse quadro trágico e cíclico. Penso, também, que é preciso investir em projetos de reinserção e ampliar as possibilidades de estudo e trabalho na prisão.
E que os presos precisam ser tratados como, de fato, a lei indica em termos formais. Aliás, todos os presos com os quais já conversei em minha trajetória acadêmica têm a consciência de que erraram e dizem que precisam ser punidos. Mas a punição com a pena da privação da liberdade, o bem mais sagrado que temos, já seria suficiente e não envolveria as práticas de tortura, sujeição à fome e outras ações degradantes. Também é preciso pensar a lei de drogas no Brasil e mudar essa dinâmica do encarceramento massivo de pessoas vulneráveis socialmente, que são flagradas com drogas, muitas vezes em pequenas quantidades e classificadas como associados a facções.
Acredito, ainda, que existem novas possibilidades para o sistema prisional, com o incentivo à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs, por exemplo. Grosso modo, as Apacs tentam ser um modelo prisional alternativo e mais próximo do que a Lei de Execuções Penais orienta.
Presos são chamados pelos nomes, têm comida digna e, mais importante, possibilidades de estudo e trabalho. Tenho um projeto de extensão em uma Apac e vi pessoas presas segurarem um livro pela primeira vez nessas ações. Vi pessoas que disseram que só sabiam “viver do crime” e que hoje podem sustentar suas famílias com artesanato, fabricação de móveis, etc., e se sentem orgulhosas disso.
Em uma Apac, não existem guardas armados e eles estão em locais de onde, inicialmente, seria fácil fugir. No entanto, não o fazem e o nível de reincidência criminal é mínimo se comparado ao sistema tradicional. Os custos de uma Apac são inferiores aos de nossas prisões tradicionais, e a sociedade e as famílias dos presos são convidados a serem voluntários e a participar desse processo.
Nesse sistema, que também tem suas limitações, “mata-se o criminoso” e recupera-se o ser humano, extremamente ferido depois de um período em nossas prisões tradicionais. Penso que caminhar por aí seria mais saudável do que fazemos recorrentemente. Para isso, nosso imaginário social precisaria mudar. Urge que pensemos a justiça para além da punição e que possamos perceber que só teremos uma sociedade menos desigual e mais pacífica com melhorias no sistema prisional.
IHU – Deseja acrescentar algo?
Juliana Gonçalves Melo – Que fique o lembrete: quem luta por melhorias no sistema prisional, luta por uma sociedade menos desigual e violenta.