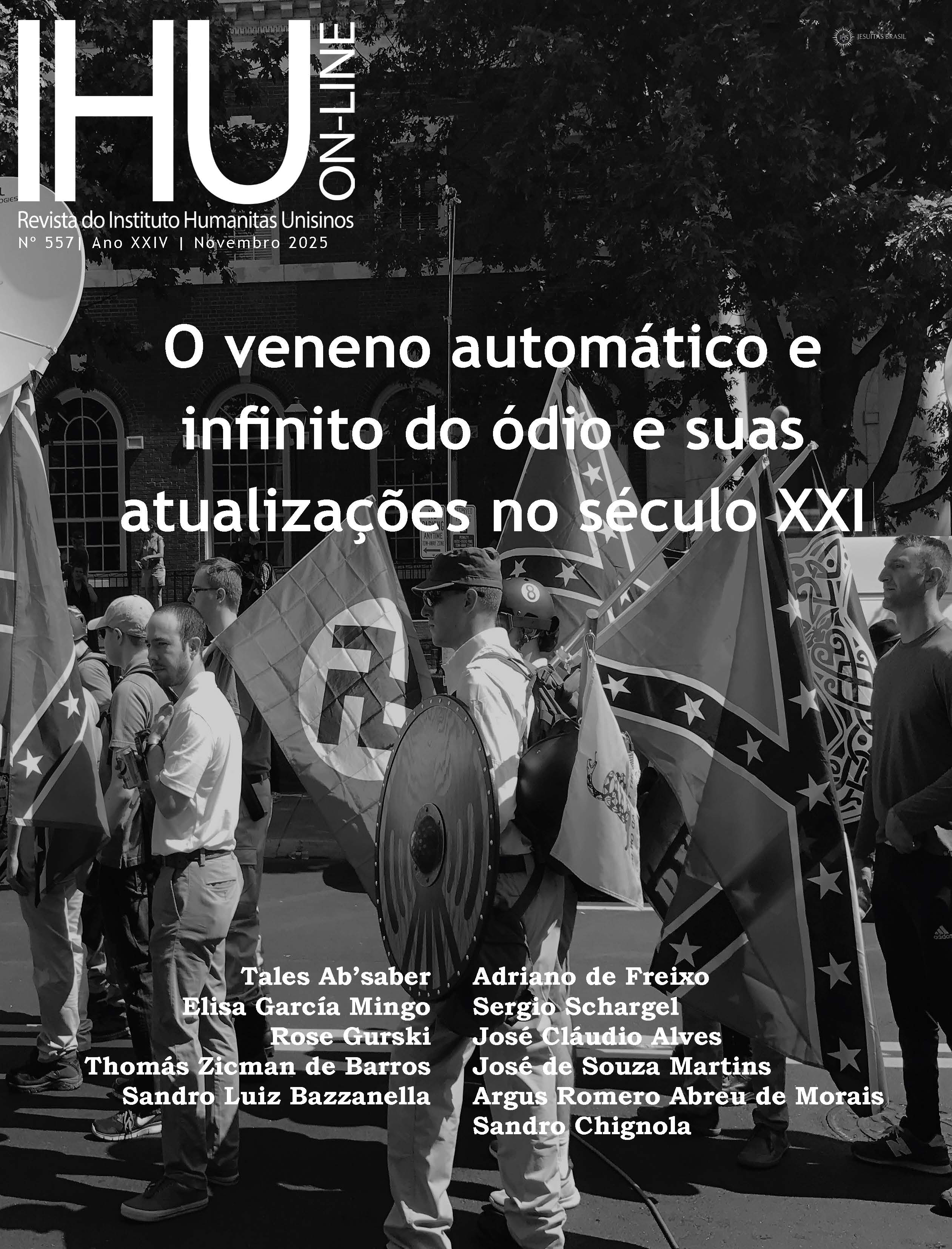07 Agosto 2025
Não há inclusão quando o que está em disputa é o direito de existir onde sempre nos quiseram ausentes.
O artigo é de André Augusto Araújo Oliveira, assistente social, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela UCSAL e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU-USP. Integra a Rede Negra de Planejamento Urbano e Regional e o Núcleo Salvador da Rede BrCidades.
Eis o artigo.
Em 15 de janeiro de 1837, a primeira lei nacional da educação pública brasileira proibiu que pessoas escravizadas e libertas frequentassem as escolas. Ali estava oficializado o apartheid educativo brasileiro. Antes mesmo do Estado garantir a universalidade da instrução, já estabelecia quem deveria ser excluído. A escola foi moldada como um território interditado à presença negra — não apenas fisicamente, mas ontologicamente.
A educação não nasce como um direito. Nasce como um dispositivo de ordenamento racial. Não se trata de omissão. Trata-se de um projeto estruturante de nação. A Lei de 1837 é a certidão de nascimento da desigualdade escolar no Brasil. É a prova de que o Estado, desde cedo, planejou um país onde o saber teria cor, classe e destino.
Quem tem o direito de entrar, permanecer e transformar os espaços onde o conhecimento é legitimado, certificado e distribuído? Por que, mesmo em 2025, corpos negros ainda são olhados com espanto, desconfiança ou tolerância nas universidades públicas — como se ali estivessem por concessão e não por conquista? E o mais inquietante: o que acontece com uma nação quando ela nega, por quase dois séculos, o acesso ao saber àqueles que construíram suas bases, sustentaram sua economia e alimentaram suas culturas?
A presença do corpo negro na universidade brasileira não é resultado de benevolência institucional. É conquista insurgente. É rasura na lógica colonial. É, sobretudo, memória encarnada. Cada estudante negro que atravessa os portões da universidade carrega no corpo a herança de séculos de exclusão legal, cultural e simbólica.
Dizer que fomos "incluídos" é tentar apagar o gesto de arrombamento. Não houve convite formal. Houve resistência, enfrentamento, políticas afirmativas conquistadas a duras penas. Houve mães que deixaram de comer para comprar o material escolar dos filhos. Houve quilombos urbanos forjando inteligência coletiva no silêncio das periferias. Houve o sonho insistente de jovens negras e negros que se recusaram a aceitar o lugar que o Brasil lhes reservava.
A universidade, por muito tempo, foi um espaço delimitado para brancos, ricos, herdeiros da cultura europeia. Mas quando os corpos negros chegaram, não chegaram sozinhos. Chegaram com seus saberes, suas histórias, seus terreiros, suas ausências, seus silêncios, seus mundos.
Chegaram com suas cidades.
Porque ocupar a universidade é também um modo de afirmar o direito à cidade — não aquela cidade que expulsa e despeja, mas a cidade como espaço de memória, de afeto, de produção coletiva. A universidade, enquanto território simbólico, não pode mais ser descolada das geografias de onde vêm esses estudantes: os bairros periféricos, os quilombos urbanos, as comunidades de resistência.
Ao entrar na universidade, o corpo negro reconfigura o espaço. Não apenas ocupa carteiras. Habita. Incomoda. Reposiciona o centro. E, ao fazer isso, revela a urgência de que a produção do saber seja, também, uma política de habitação.
Quando a juventude negra chega à universidade, ela não apenas aprende: ela desestabiliza os alicerces do conhecimento branco universal. Interpela os currículos. Denuncia a ausência de referências negras, indígenas, populares. Introduz Èsù, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento e bell hooks nas bibliografias. Reivindica os saberes de terreiro, da oralidade, do corpo, da comunidade.
Essa reconstrução epistêmica é um processo de descolonização. Mas é também reterritorialização. Porque epistemologia não se faz só com conceitos: se faz com chão, com vida, com cheiro de feijão na laje. O saber negro exige que a universidade se abra às múltiplas formas de habitar o mundo. O conhecimento precisa deixar de ser um castelo e se tornar uma encruzilhada.
A universidade pública não foi desenhada para manter corpos negros. A cada semestre, estudantes negros evadem por fome, exaustão, racismo, solidão. Entrar é uma batalha. Permanecer é uma guerra. É por isso que o direito à educação não pode ser pensado fora do direito à moradia, ao transporte digno, à saúde mental, à alimentação. Não se constrói conhecimento com fome. Não se defende TCC dormindo em abrigo. Não se redige monografia fugindo de despejo.
A luta por permanência é também a luta por condições dignas de habitar o mundo. Porque ninguém habita um território onde é tratado como invasor. Permanecer é resistir ao contínuo esforço do Estado de nos fazer desistir. A insurgência do corpo negro na universidade é um gesto político profundo. Ela não busca apenas reformar o espaço acadêmico — quer refundá-lo. Quer transformar a universidade em território comum, onde os saberes se cruzam, se escutam, se reencantam. Onde o conhecimento deixa de ser privilégio e passa a ser ferramenta de emancipação coletiva.
Milton Santos já afirmava: “a realidade é múltipla e a verdade deve ser buscada nas margens, onde mora a maioria”. E como ensinou Lélia Gonzalez, não há futuro democrático sem a centralidade das vozes negras na produção de saber. Não viemos para repetir o que já está posto. Viemos para abrir frestas, criar novos caminhos, descolonizar palavras. Viemos para provar que é possível existir e resistir com beleza, com inteligência e com afeto.
Estamos aqui porque nos recusamos a continuar do lado de fora. Estamos aqui porque há uma ancestralidade inteira empurrando nossos passos. Estamos aqui para que outras e outros, depois de nós, não precisem pedir licença.
A entrada do corpo negro na universidade é muito mais que inclusão.
É insurgência histórica contra o epistemicídio.
É reexistência territorial frente às remoções simbólicas.
É reconstrução epistêmica vibrante.
É, sobretudo, o direito radical de habitar com dignidade os espaços de saber e de vida.
Leia mais
- A política nacional de cotas raciais como resposta ao racismo estrutural
- Cotas foram revolução silenciosa no Brasil, afirma especialista
- Movimento indígena questiona eficácia das cotas étnico-raciais da USP
- USP adere cotas raciais, mas racismo ainda é determinante na academia
- Cotas sociais não promovem inclusão racial
- Francisco: o racismo é um vírus que ao invés de desaparecer, se esconde
- Dia Internacional de Luta Pela Eliminação da Discriminação Racial. Deputado ruralista ganha prêmio de "Racista do Ano"
- O encadeamento do racismo estrutural
- O racismo sistêmico deve terminar: Declaração dos Franciscanos dos Estados Unidos
- Denúncia em forma de arte para não ceder ao racismo
- Contra o racismo estrutural e individual ‘religioso’
- Racismo é sempre uma nova roupagem para práticas do período da colonização. Entrevista Especial com Wanderson Flor do Nascimento
- Racismo precisa ser visto como trauma central da violência no Brasil
- A execução de George Floyd e o silenciamento do negro
- “O fascismo, o nazismo, o racismo não foram cogumelos venenosos nascidos por acaso no jardim da civilidade europeia”, alerta presidente da Itália no Dia da Memória
- O novo livro do Papa fala aos estadunidenses sobre racismo, imigração e equidade de gênero. Artigo de Thomas Reese, s.j.
- O Brasil na potência criadora dos negros – O necessário reconhecimento da memória afrodescendente. Revista IHU On-Line, Nº 517
- As faces do racismo no Rio Grande do Sul
- Desigualdade racial: por que negros morrem mais que brancos na pandemia?
- Vulnerabilidade da população negra à violência policial e à pandemia revela racismo estrutural no Brasil
- Antirracismo é o núcleo central da luta antifascista no Brasil