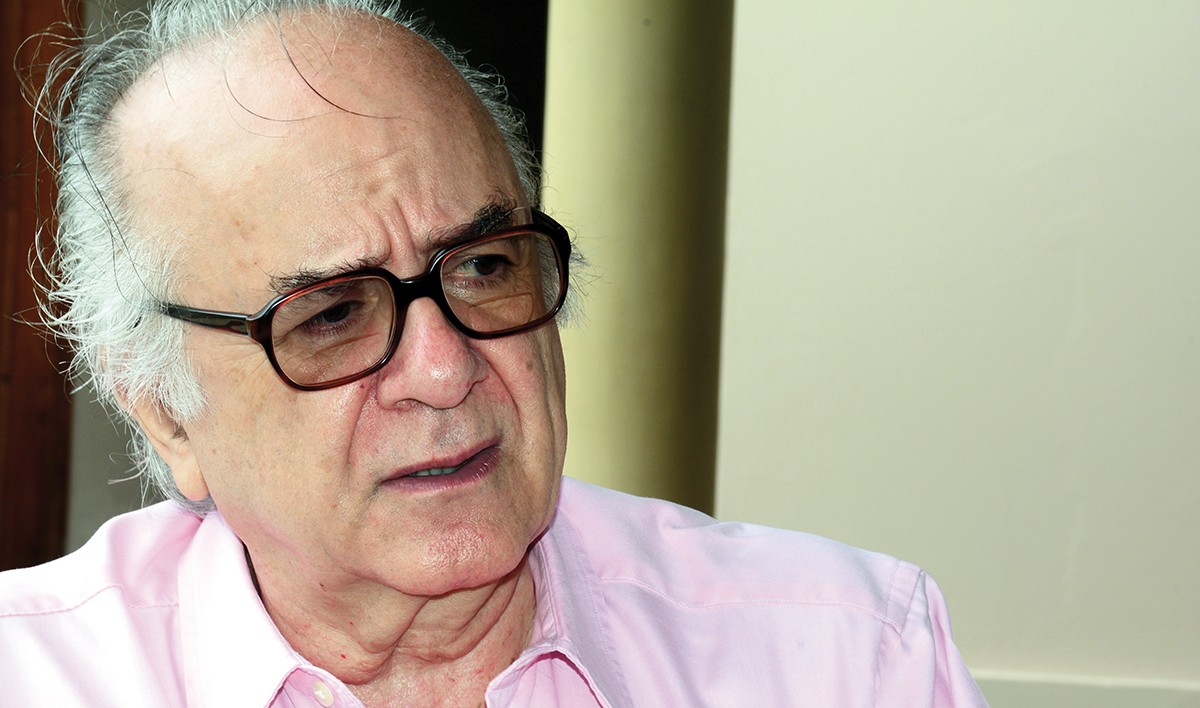24 Mai 2024
"De que estado estamos falando? Qual estado estûÀ sendo reconhecido? A existûˆncia legûÙtima de um Estado se reconhece quando uma entidade existente e jûÀ soberana ûˋ realidade. NûÈo ûˋ esse o caso: os territû°rios de 1967 (CisjordûÂnia,ô Gazaô eô Jerusalûˋmô Oriental) estûÈo ocupados", escreve Chiara Cruciati, jornalista italiana, em artigo publicado porô Il Manifesto, 23-05-2024. A traduûÏûÈo ûˋ deô Luisa Rabolini.
Eis o artigo.
Ontem, ao anû¤ncio norueguûˆs do reconhecimento do Estado da Palestina, muitos nûÈo puderam deixar de notar que quem quebrou o gelo foi Oslo, cidade onde foram concluûÙdos em agosto de 1993 os acordos polûÙticos entre a OrganizaûÏûÈo para a LibertaûÏûÈo da Palestina (OLP) e o Estado de Israel.
Menos de um mûˆs depois, foram publicamente sancionados pelo aperto de mûÈo entre Yasser Arafatô e Yitzhak Rabinô em Camp David. A Intifada estava nas û¤ltimas, os acordos de Oslo certificaram seu fim. Poucos na ûˋpoca intuûÙram a armadilha, o que prevaleceu foi a alegria pelo inûÙcio de uma jornada que se imaginava irreversûÙvel.
HûÀ quem tenha visto naquele aperto de mûÈo uma vitû°ria da Intifada, mas foi o seu tû¤mulo. Por que nûÈo resultou de Oslo aquilo com que os palestinos sonhavam ã e sonham: nûÈo tanto um Estado, mas a liberdade. O direito û autodeterminaûÏûÈo.
û nessa chave que deveria ser lida a decisûÈo de Noruega, Irlanda e Espanha (a que devem se segui Eslovûˆnia e Malta) de reconhecer o Estado da Palestina. Com a entrada de Oslo, Dublin e Madrid, sûÈo 143 os paûÙses que fizeram o mesmo. Dois terûÏos do planeta, mas um Estado da Palestina nûÈo existe: nûÈo existe porque falta um elemento indispensûÀvel, a autodeterminaûÏûÈo.
Que a liberdade de escolher por si mesmos passe pela fundaûÏûÈo de um Estado ûˋ uma convicûÏûÈo predominante nos sistemas liberais, mas nûÈo decisiva. Que a forma do Estado-naûÏûÈo seja a saûÙda do colonialismo o ûˋ ainda menos, especialmente numa regiûÈo que assumiu aquele modelo por pressûÈo de mandatos coloniais, com paûÙses nascidos traûÏando linhas retas onde antes nûÈo havia fronteiras. O Estado-naûÏûÈo, forjado sobre elites polûÙticas impostas de fora e identidades û¤nicas cortadas a machado, foi um desastre para o Mûˋdio Oriente.
Os palestinos deveriam poder decidir por si mesmos, superando a ideia,ô predominante em Washington e Bruxelas,ô que uma eventual entidade sû° possa nascer de uma negociaûÏûÈo entre as partes, que a sua legitimidade viria de Israel. NûÈo uma libertaûÏûÈo, mas uma concessûÈo.
As lideranûÏas israelenses que se sucederam ao longo das dûˋcadas a narraram assim, a ponto de colocar constantemente diktats û¤teis para adiar para um tempo indefinido (Netanyahu hûÀ cerca de dez anos as chamou de ãapostilasã): podemos negociar, mas alguns pontos nunca serûÈo analisados. NûÈo serûÀ Jerusalûˋm, considerada capital û¤nica e indivisûÙvel pelas leis fundamentais israelense. NûÈo os serûÈo as fronteiras do eventual estado cujo controle permaneceria com Israel. NûÈo o serûÈo as colûÇnias, impossûÙveis de desmantelar. NûÈo o serûÀ o direito de retorno de sete milhûçes refugiados (66% de toda a populaûÏûÈo palestina).
De que estado estamos falando? Qual estado estûÀ sendo reconhecido? A existûˆncia legûÙtima de um Estado se reconhece quando uma entidade existente e jûÀ soberana ûˋ realidade. NûÈo ûˋ esse o caso: os territû°rios de 1967 (CisjordûÂnia, Gaza e Jerusalûˋm Oriental) estûÈo ocupados.
O reconhecimento alheio torna-se, portanto, a manobra polûÙtica com a qual se espera pressionar Israel, os Estados Unidos e o seu direito de veto que, mais uma vez, em meados de abril, bloqueou a moûÏûÈo do Conselho de SeguranûÏa que pedia tornar a Palestina um membro pleno.
Da necessidade de superar tal bloqueio surge o impulso de chancelarias e partidos que, tambûˋm na ItûÀlia, hûÀ meses insistem numa soluûÏûÈo de dois Estados, enquanto em Gaza cem pessoas sûÈo mortas todos os dias, na CisjordûÂnia mais terras sûÈo confiscadas e dentro de Israel os palestinos continuam a ser cidadûÈos de segunda classe.
Perante aquilo que o Tribunal Internacional de JustiûÏa definiu como ãgenocûÙdio plausûÙvelã e que a Amnistia e a Human Rights Watch chamaram de ãregime de apartheidã, outras medidas seriam mais urgentes: sanûÏûçes internacionais, embargo militar, rompimento das relaûÏûçes diplomûÀticas. E o inûÙcio de um verdadeiro processo de descolonizaûÏûÈo: se a autodeterminaûÏûÈo nûÈo for plena, os palestinos encontrar-se-ûÈo com um Estado no papel e um apartheid paradoxalmente legitimado pelo resto do mundo.
Leia mais
- ãNenhum benefûÙcio militar em Rafah, o objetivo ûˋ o massacreã. Entrevista com Ghassan Abu Sittah
- O ritual da Terceira Intifada
- CristûÈos de Israel e da Palestina: ãCada uma das partes pede-nos para assumir uma atitude radical, algo que nûÈo podemos fazerã. Entrevista com Rafic Nahra e Pascal Gollnisch
- Israel-Palestina. A atmosfera ûˋ de absoluta desesperanûÏa. Entrevista especial com Luciana Garcia de Oliveira
- A cruel situaûÏûÈo das crianûÏas palestinas deixarûÀ sequelas para o resto da vida
- A Palestina e a ONU. Artigo de Tonio Dell'Olio
- Palestina: em busca da difûÙcil unidade
- Israel, Palestina: depois das cinzas. Artigo de Omri Boehm
- Gaza e os palestinos condenados ao exûÙlio
- HûÀ uma semana que nûÈo entra ajuda humanitûÀria em Gaza
- ãA guerra em Gaza promoverûÀ mudanûÏas na ordem internacionalã. Entrevista com Jaber Suleiman
- Papa pede para acolher refugiados "sem desculpas": o exemplo de Prudentû°polis