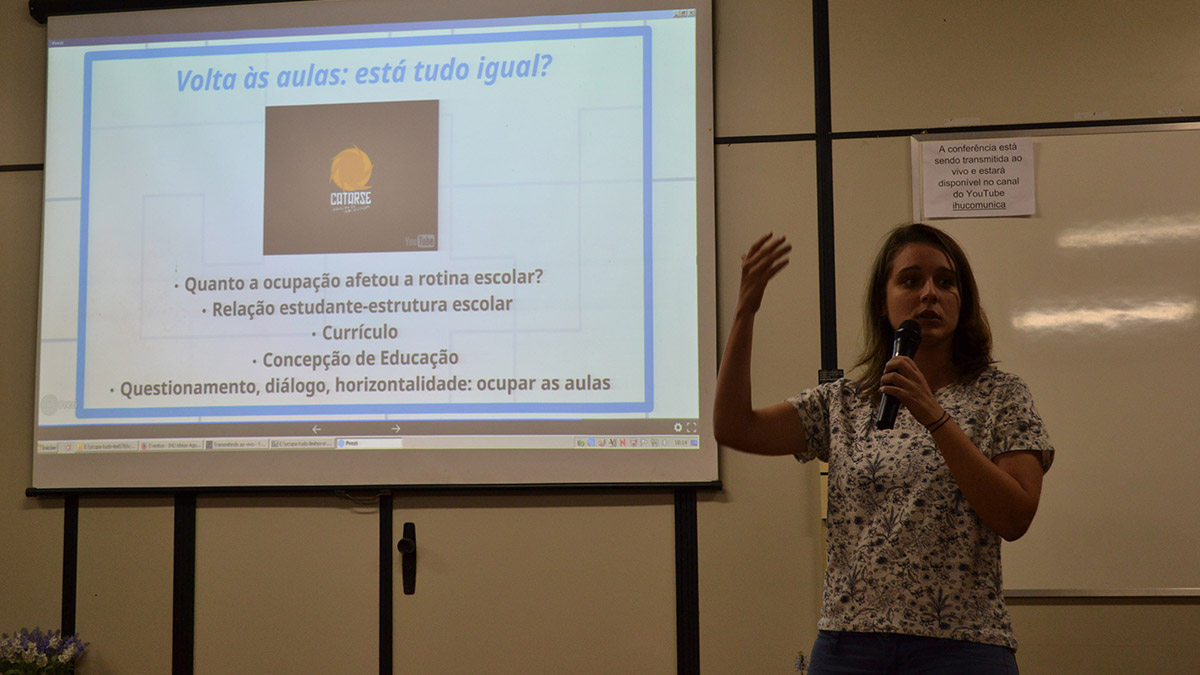23 Mai 2024
"Enchentes no Rio Grande do Sul têm um aspecto epidemiológico importante, chamando atenção para o fato de sabermos muito pouco sobre os riscos reais de zoonoses no Brasil", escreve Bruno Moraes, jornalista, graduado em Microbiologia e Imunologia, cursou a Especialização em Jornalismo Científico do Labjor/Unicamp, em artigo publicado por ((o))eco, 21-05-2024.
Eis o artigo.
Existe uma citação de Rudolf Virchow, o médico, cientista e político do final do século XIX também considerado o “pai” da patologia moderna, que aparece constantemente em trabalhos científicos e relatórios sobre a relação entre a saúde humana e a conservação da biodiversidade: “Entre a medicina animal e a humana não há linha divisória — e nem deveria haver.”
Embora estimativas apontem para o fato de que seis em cada dez doenças infecciosas que assolam a espécie humana tenham origem em populações de outros animais, a atenção dada a este conjunto de condições de saúde – chamadas coletivamente de zoonoses – ainda não é suficiente. Uma vez que zoonoses são causadas por agentes biológicos como bactérias, fungos, protozoários, vírus e helmintos que circulam em animais silvestres (e alguns domésticos), apenas tendo expandido sua “lista de interesses” para a nossa espécie, entender onde e como estes patógenos representam um maior risco à saúde é extremamente estratégico. Afinal de contas, três das pandemias mais famosas foram causadas por patógenos que anteriormente circulavam entre hospedeiros animais: a peste bubônica, a pandemia de gripe no começo do século XX, também chamada de Gripe Espanhola e a pandemia recente de COVID-19.
No contexto brasileiro, lidamos há séculos com doenças tropicais de origem zoonótica como a malária, febre amarela, dengue, doença de Chagas e leishmaniose. Mais recentemente, tem-se observado um aumento no número de casos do vírus nativo oropouche, causador de uma doença transmitida por mosquitos como a dengue — e com sintomas parecidos. A oropouche circula naturalmente em primatas e bichos-preguiça, mas também tem a capacidade de ser transmitida para pessoas.
A ausência de uma linha divisória entre a saúde animal e a humana torna-se evidente quando se encara a questão das zoonoses. Mais do que evidente, torna-se urgente quando encaramos o fato de que tanto a destruição de áreas naturais quanto as consequências climáticas desta destruição, como as recentes enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, aumentam o risco de contágio de seres humanos por uma ampla gama de zoonoses.
Sobre as consequências de enchentes como essas para a disseminação de zoonoses, sabe-se que é provável um aumento nos casos de doenças transmitidas pela água, como a leptospirose e a hepatite A, assim como doenças transmitidas por mosquitos como dengue e chikungunya. Estes são os riscos geralmente associados a inundações em meio urbano de maneira geral. Mas a história do estudo de zoonoses no meio silvestre no Brasil é uma história de preocupantes lacunas de conhecimento, e mesmo com equipes de cientistas que se voltam a estudar aspectos diversos dessas doenças, os riscos específicos de cada localidade ainda são um tópico com muitos pontos de interrogação.
“Muitos artigos e relatórios internacionais citam que o Brasil tem um potencial zoonótico grande, e inicialmente a gente tinha o objetivo de entender o que já se sabe sobre a circulação de patógenos em animais silvestres no país”, conta Gabriella Tabet Cruz, pesquisadora associada do Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Gabriella foi uma das pesquisadoras centrais no processo de elaboração de um banco de dados que reúne informações espaciais sobre a ocorrência de patógenos de potencial zoonótico no Brasil. Ela completa: “E o que a gente percebeu é que as amostragens não eram nada representativas. Nós avaliamos três bases de dados principais, com dados de genoma e de ocorrência de patógenos. Algumas tinham informações tanto de humanos quanto de animais, e outras eram focadas apenas em mamíferos silvestres. E de toda a biodiversidade de mamíferos silvestres do Brasil, nós encontramos dados sobre zoonoses relativas somente a 343 espécies, sendo que temos mais de 700 espécies catalogadas”.
Estudos concentrados
E a não-representatividade não para por aí: na mais completa destas bases de dados analisadas, a Nucleotide, mantida pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, apenas 2% de todas as sequências genéticas provenientes do Brasil correspondem a amostras de mamíferos não-humanos. Cruz conta ainda que a maior parte dos dados não estavam referenciados espacialmente, o que dificulta a avaliação de quais áreas estão em maior risco de contágio, assim como as tomadas de decisão. Os dados estavam marcados apenas como “Brasil” o que, para um país de dimensão subcontinental, não diz muito sobre quais populações de cada mamífero silvestre estão com maior circulação de um determinado patógeno.
O cenário de tão pouca informação sobre zoonoses justamente em regiões do mundo que têm grande risco de contágio – por fatores climáticos, de biodiversidade, e também por condições socioeconômicas desiguais, destruição de áreas naturais e uma infraestrutura de saúde também marcada por desigualdades de acesso – se insere em um contexto geral de financiamento à pesquisa e à vigilância de zoonoses. Um artigo de revisão de 2022 compilando a produção científica sobre zoonoses e mudanças climáticas em todo o mundo, demonstrou que os países que mais produzem estudos sobre o assunto são países do norte global, como os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Alemanha. O Brasil sequer figura na lista dos dez maiores produtores de conhecimento acerca de seu potencial zoonótico que, como lembrou Gabriella Cruz, é reconhecido internacionalmente.
A pesquisadora Gisele Winck, também do Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios do IOC/Fiocruz, trabalha, junto a colaboradoras como a própria Gabriella Cruz, em reduzir estas lacunas de conhecimento. “O financiamento à pesquisa de maneira geral é meio errático no Brasil. De governo para governo, as políticas de fomento mudam muito. E essa falta de constância de financiamento de pesquisa é uma questão-chave que explica essas lacunas de conhecimento e de pesquisa. E não só nesse assunto, em qualquer assunto”, conta Winck. “Nós somos um país extremamente diverso, mas nós não temos um programa de pesquisa estruturado de uma forma pensada para abarcar essa diversidade. E nessa questão da biodiversidade, e de entender também como os riscos à saúde humana se interligam com essa biodiversidade, nós acabamos tendo uma escassez grande de dados. Nós aqui trabalhamos em um grupo de pesquisa que tenta entender essas relações e construir modelos que ajudem a prever os riscos para poder agir estrategicamente, mas modelos dependem de dados primários sobre onde estão os patógenos e seus hospedeiros, que nem sempre estão disponíveis.”
Com tantas lacunas de informação, entender como cada região do Brasil difere das outras em termos de riscos de contágio e espalhamento de zoonoses é um desafio para as pesquisadoras. Mas um desafio necessário frente aos riscos de surgimento de novas epidemias, ou mesmo pandemias, com origem em animais. O grupo de pesquisa que Gisele compõe desenvolveu recentemente um modelo para prever quais são os fatores que levam a um maior risco de zoonoses nas 27 Unidades Federativas brasileiras. Segundo este modelo, aproximadamente 80% do risco de zoonoses em cada estado pode ser explicado por cinco fatores: perda de vegetação, riqueza de mamíferos, isolamento dos municípios, pouca vegetação urbana e alta cobertura vegetal natural. Em resumo: localidades com muitas áreas naturais e alta riqueza de mamíferos silvestres, que também estão em processo de degradação, veem um maior contato com estes animais. Consequentemente, há um maior risco de que patógenos que circulam entre populações silvestres consigam causar infecções eventuais e se adaptar a animais domésticos e à espécie humana.
Para desenvolver e refinar modelos como este e entender quais patógenos específicos estão circulando em populações naturais em cada estado, é importante que haja uma vigilância abrangente em áreas naturais ao longo de todo o território nacional. E é aí que tropeçamos em mais uma lacuna: “Neste momento, a gente não tem nenhum órgão responsável diretamente pela saúde de animais silvestres”, conta a Dra. Gisele Winck. E explica:
“O Ministério da Agricultura e Pecuária monitora a questão dos animais de criação, mas eles só olham para doenças quando elas acometem esses animais. Mesmo que eles identifiquem que a fonte do surto é silvestre, não podem legalmente fazer nada. O Ministério do Meio Ambiente também só pode atuar no manejo de surtos de doenças em populações de animais que estão em perigo de extinção segundo as listas de classificação de risco, ou abrangidas por algum Plano de Ação Nacional (PAN). Fora isso, o MMA só pode lidar com surtos de zoonoses quando eles ocorrem dentro de alguma Unidade de Conservação.”
A pesquisadora comenta que, até muito recentemente, o Ministério da Saúde também olhava para a questão das zoonoses apenas quando havia um contágio em humanos, ou em casos em que o risco deste contágio era detectado. Mais recentemente, a Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial tem reforçado a importância de monitorar animais relevantes para a saúde pública, o que inclui o monitoramento de “vetor, hospedeiro, reservatório, portador, amplificador ou suspeito para alguma zoonose de relevância para a saúde pública”. Isto resolve parte do problema, mas não lida com zoonoses ainda desconhecidas. E, mesmo com este esforço, o país ainda está longe de ter uma vigilância epidemiológica em populações silvestres que permita entender e monitorar os riscos específicos de cada localidade, ou monitorar patógenos mais raros sobre os quais se conhece pouco.
“Um exemplo que eu gosto, até por ser menos falado na mídia, é o do vírus Sabiá, que surgiu de repente na década de 1990”, conta Winck. “Foram poucos casos, mas esse vírus tem uma letalidade absurdamente alta. Ele chegou a ser isolado e sequenciado à época, e logo depois ele sumiu. Mas alguns casos voltaram a aparecer nos últimos anos, e a causa só foi confirmada como sendo o vírus Sabiá depois que as pessoas já tinham vindo a óbito.”
Uma boa notícia que as pesquisadoras trazem é a de que no dia 25 de abril saiu o decreto que cria o Comitê Técnico Interinstitucional de Uma Só Saúde. O conceito de “uma só saúde” é um novo nome proposto pelo Governo Federal para a perspectiva de “saúde única”, que entende saúde em um contexto amplo que inclui aspectos socioambientais, a conservação da biodiversidade, as questões do clima e a desigualdade socioeconômica. “Com isso, temos representantes de quase todos os ministérios, além da Fiocruz, alguns conselhos profissionais, o ICMBio, o IBAMA… Está todo mundo ali. E isso é um grande passo que o Brasil dá em direção a essa mudança de políticas públicas no que diz respeito a olhar para a saúde silvestre no contexto de zoonoses”, explica Winck.
Sobre a crise atual no RS, Gisele, que é natural de Santa Maria, comenta algo que remete à ideia de Virchow sobre uma indissociabilidade entre a saúde humana e a de outros animais: “O que eu posso pensar é que esses alagamentos drásticos não afetam só a gente. Assim como nós perdemos territórios, as populações naturais também. E uma coisa que a gente precisa pensar é no quanto estes eventos extremos podem favorecer o contato entre nós e os animais silvestres. Porque esses animais também vão atrás de áreas secas para se refugiar, e nós não sabemos quais podem ser essas áreas, ou se elas podem ser as mesmas cidades onde as pessoas estão se refugiando”. E completa, com uma sinceridade importante e de implicações preocupantes: “Eu não tenho nem ideia. Mas acho que é algo muito importante de se estudar para o futuro.”
Leis mais
- O que é a zoonose, fenômeno natural muito antigo que está na origem das pandemias
- O perigo real de uma segunda onda da pandemia
- “A pandemia não é causada por um vírus, é causada por nós”
- A próxima pandemia? Virá do Brasil: destruindo a Amazônia é cada vez mais provável um novo spillover
- Quando passar a pandemia viral, precisaremos de uma pandemia metafísica. Artigo de Markus Gabriel
- Serão as próximas pandemias gestadas na Amazônia? Artigo de Luiz Marques
- Relação entre javalis e morcegos é preocupante, indica pesquisa
- “Nós nos tornamos um vírus para o planeta”. Entrevista com Philippe Descola
- O infectologista Paul Garner: “20% dos pacientes permanecem positivos para o vírus por 40 dias”
- Causalidade da pandemia, qualidade da catástrofe. Artigo de Ángel Luis Lara
- 'Crise ambiental no RS mostra que não há barragens seguras', afirma dirigente do Movimento dos Atingidos por Barragens
- Enchentes no RS: é preciso sim buscar os culpados pela tragédia
- A catástrofe climática é, também, resultado de uma sociedade eticamente passiva e egoísta. Entrevista especial com Clóvis Borges
- Crise mostra o que a sociedade é. Artigo de Edelberto Behs
- Sem limites para as chuvas: dilúvios extremos e o futuro do clima. Artigo de Roberto Malvezzi
- Presos em sua “bolha opaca”, governantes negligenciaram as previsões sobre a tragédia no RS. Entrevista especial com Heverton Lacerda
- Tragédia do Rio Grande do Sul. Um desastre previsto. Entrevista especial com Paulo Artaxo
- Subjugada no RS, crise climática está associada a maior enchente do Estado. Entrevista especial com Francisco Eliseu Aquino
- Maior enchente da história em Porto Alegre. RS está no epicentro dos eventos extremos de precipitação. Entrevista especial com Rodrigo Paiva
- Enchentes no RS: Eldorado do Sul poderá ser totalmente evacuada
- Saúde Única: um olhar sobre as enchentes do RS. Artigo de Túlio Batista Franco
- O que o desastre climático no RS e a dengue têm em comum
- Nível dos rios não cede e mantém enchentes em Porto Alegre e Região Metropolitana
- O problema não é o show da Madonna, é o desmatamento
- Não fomos surpreendidos
- Tragédia histórica expõe o quanto governo Leite ignora alertas e atropela política ambiental
- Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes em 2023
- Tragédia no RS: 85 mortes e mais de 201 mil pessoas fora de casa
- Rio Grande do Sul: barragens são antigas e precisam ser reforçadas, diz engenheiro
- Momento de ajudar, pensar e agir! Artigo de Manuel Joaquim Rodrigues dos Santos
- Com tragédia climática, governo e Congresso costuram “orçamento de guerra” para reconstruir Rio Grande do Sul
- MetSul divulga fotos de antes e depois da enchente na região metropolitana de Porto Alegre
- Passado e futuro na tragédia gaúcha. Artigo de Aldem Bourscheit
- Governo federal antecipa pagamento de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul
- Rio Grande do Sul: governança para prevenir desastres climáticos
- Com 5 assentamentos submersos, MST lança campanha para apoio aos atingidos pelas enchentes no RS
- Uma catástrofe que lembra a devastação da Amazônia
- Enchentes já afetaram mais de 80 comunidades indígenas no RS; saiba como ajudar
- No Rio Grande do Sul, a tragédia é natural, social e ambiental. Artigo de Gerson Almeida
- Quase 850 mil afetados pelas chuvas no RS