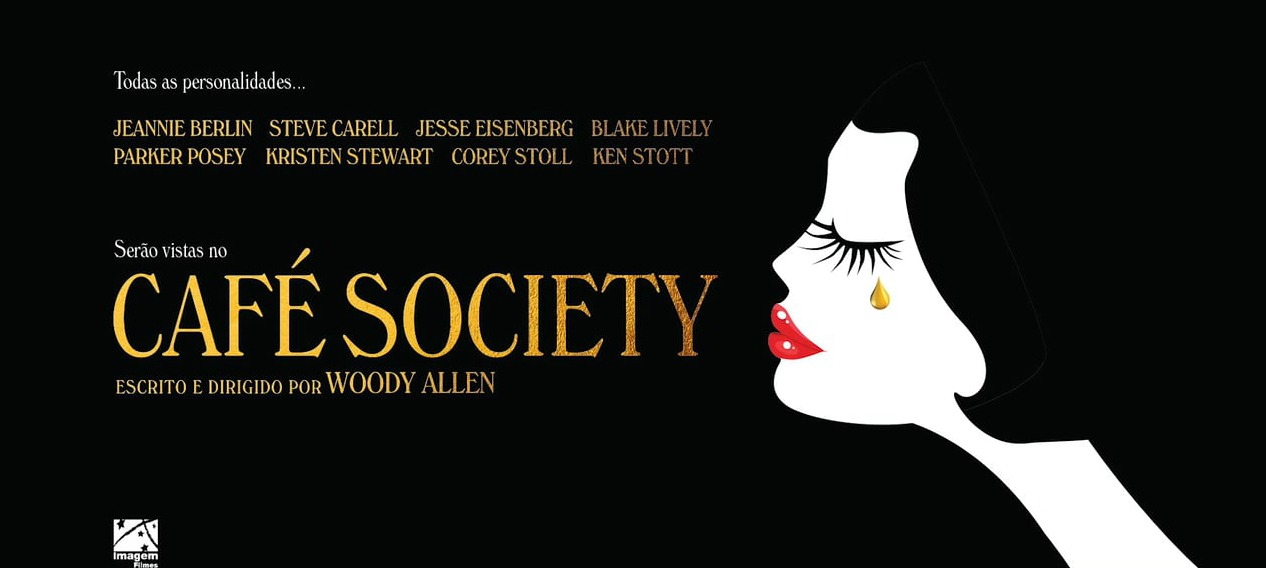30 Agosto 2022
À DW, cineasta Gabriel Martins fala sobre seu novo filme, protagonizado por menino negro que sonha em ser astrofísico e explorar o planeta vermelho. Aclamado em Gramado, longa é cotado para representar o Brasil no Oscar.
A reportagem é de Fábio Corrêa, publicada por Deutsche Welle, 25-08-2022.
Uma família em crise, em plena convulsão social do Brasil, após a chegada do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro ao poder. Uma família comum, de quatro negros suburbanos de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, cada qual com sua singularidade.
O jovem Deivinho (Cícero Lucas) nutre o sonho de viajar para Marte, apesar de o pai, Wellington (Carlos Francisco), sonhar que ele seja aprovado na peneira do Cruzeiro e vire jogador de futebol. A mãe, a diarista Tércia (Rejane Faria), começa a sofrer crises de ansiedade. Enquanto isso, a filha Eunice (Camila Damião) se descobre apaixonada por uma amiga.
É essa história tão comum e ao mesmo tempo tão singular que fez Marte Um ser aclamado no Festival de Gramado – o filme levou o prêmio especial do júri, o de melhor roteiro, melhor trilha musical e foi escolhido a melhor película pelo voto popular. O longa, o primeiro solo do diretor mineiro Gabriel Martins, de 34 anos, também foi exibido nos festivais de Sundance (EUA) e Munique (Alemanha), e é um dos cotados para disputar a vaga do Brasil para a indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O filme estreou nesta quinta-feira (25/08) no circuito nacional.
Em entrevista à DW Brasil, Gabriel Martins fala sobre como o filme espelha o Brasil dos últimos anos, das manifestações de 2013 até o momento atual, pré-eleição presidencial. "Vi essa família do filme como um organismo em movimento, em expansão, em conflito também, que talvez pudesse mimetizar a própria sensação do Brasil. De um país com tanta gente diferente, com múltiplas opiniões", diz.
"E o fato de ser uma família negra, acho que é apenas um reflexo do meu espelho, que é a minha família, a família que eu cresci vendo. São pessoas ao meu redor", acrescenta o diretor mineiro.
Para o cineasta, Marte Um transmite esperança "num momento em que as pessoas estão precisando ver um filme como esse". "É quase estranho pensar em sonhar em momentos em que tudo parece tão perdido. Mas acho que em persistir nisso, existe uma convocação para a gente não desacreditar das coisas: não perder os nossos sentimentos diante de uma realidade que às vezes nos estimula a simplesmente desistir."
Eis a entrevista.
Como surgiu a ideia do Marte Um?
O filme nasce mais ou menos em 2014, pós-Copa do Mundo, quando eu me deparo com a ideia de falar sobre um garoto jovem, muito bom de bola, mas que, na verdade, sonha em ser astrofísico. E pensar nessa contradição entre um movimento muito forte de destino que se pensa para um garoto negro de periferia – o futebol é um destino possível, mas a astrofísica não.
Naquele mesmo momento, eu já tinha me dado conta dessa missão que iria colonizar Marte, mas que acabou sendo cancelada. Fiquei pensando em juntar essas duas coisas. Isso me pareceu muito potente.
Mas eu via também uma certa crise de identidade do povo brasileiro, a partir das manifestações [de 2013], dessa emergência de várias minorias tentando afirmar sua identidade, seu lugar no país.
E me veio uma vontade de pensar como essa família poderia se dar conta também dessa crise de identidade, dessa pluralidade que é o Brasil, dessas várias intensidades que se cruzam, que se chocam. Na minha cabeça, vi essa família do filme como um organismo em movimento, em expansão, em conflito também, que talvez pudesse mimetizar a própria sensação do Brasil. De um país com tanta gente diferente, com múltiplas opiniões.
E o fato de ser uma família negra acho que é apenas um reflexo do meu espelho, que é a minha família, a família que eu cresci vendo. São pessoas ao meu redor. Obviamente tem nisso também uma afirmação importante de representatividade, de trazer essas histórias para uma tela grande, que é uma coisa não muito comum na história do cinema brasileiro. Mas, antes de tudo, é algo que parte muito da minha identidade, da minha história.
Desde 2014, quando surgiu a ideia para o filme, muita coisa aconteceu no país. O quanto esses acontecimentos foram mudando a sua forma de fazer o filme?
Tem um timing muito doido no Marte Um. O roteiro fica pronto em 2015. Já a filmagem foi em novembro e dezembro de 2018, no calor pós-eleição do Bolsonaro.
Meu plano era que o projeto fosse contextualizado no momento em que fosse filmado. Independente do que estivesse acontecendo, eu incorporaria esse contexto da sociedade brasileira no filme. Obviamente o roteiro e a pré-produção começaram antes da eleição, sem saber quem seria eleito.
Todas as coisas que eu incorporo do Bolsonaro no filme são circunstanciais daquele momento, não estavam ali antes, a história é maior que isso tudo. Dito isso, finalizamos o filme em 2018 – aí tem pandemia no meio, foi um tempo longo de montagem. Quando o filme chega em 2022, ele tem uma força diferente.
Depois de quatro anos de muito desgaste por causa da pandemia e desse mandato muito violento do governo, acho que o Marte Um é um filme muito esperançoso, em certo sentido. É um filme de muito afeto, de muito carinho com o ser humano.
Isso chegando hoje, num momento em que sentimos muita raiva de tudo, sinto que tem uma força especial. No fim das contas, ele nasce num momento em que as pessoas estão precisando ver um filme como esse. Acho que a pandemia nos isolou muito, trouxe uma certa frieza para as relações humanas, e o Marte Um visto e vivido numa sala de cinema resgata um pouco disso.
Sobre os quatro personagens principais do filme (Deivid, Eunice, Tércia e Wellington), qual é a sua relação com eles, quais foram as inspirações?
O Deivinho é um garoto que tem um paralelo muito forte comigo, com a minha infância. Porque ele tem esse sonho meio impossível para um garoto como ele, e eu era um garoto de periferia que sonhava em fazer cinema. Talvez hoje, para muitos garotos, ter uma câmera ou ter uma câmera perto de si ou uma oficina de cinema é uma coisa um pouco mais real, mas na minha época, não. Quando era criança, nos anos 90, não existia isso próximo a mim. Era um sonho teimoso como o do Deivinho.
A Eunice, a irmã, representa para mim um pouco uma ideia de futuro feminino, que eu espelho muito em lideranças políticas que eu vejo por aí, como Áurea [Carolina, deputada federal pelo PSOL-MG] e Marielle [Franco]. Eu entendendo um lugar meu feminino e projetando também as minhas intenções para o mundo. A força que eu deposito nessas mulheres, uma crença também.
A Tércia é uma mãe muito representativa. É uma diarista que começa a ter uma espécie de crise interna, existencial. De alguma forma, como alguém falou num debate que tivemos no Rio, essa é a "mãe do Brasi" – a diarista, a empregada doméstica, que é quem cuida de todo mundo. E aí essa ideia minha, esse movimento de construir essa crise de identidade, acaba sendo muito depositado na Tércia, numa amarra geral.
E o personagem final, o Wellington, que é o pai, tem uma relação muito forte com o meu pai, com muitas questões que eu tive e ainda estou resolvendo com ele. E também uma forma de lidar com algumas questões antigas que eu me identifico e que inclusive fazem parte do meu próprio machismo, que eu vou num caminho de desconstrução. É uma relação muito forte com futebol, que eu compartilho com o Wellington, que é um cruzeirense fanático, um obcecado com futebol. Eu me vejo muito nesse personagem, ao mesmo tempo que eu quero me distanciar dele.
No fim das contas, essa família desses quatro são desdobramentos de experiência minhas que têm a ver com pessoas ao meu redor – Wellington, por exemplo, é homenagem a um tio meu, que é porteiro, que tem esse nome. Tem uma série de coisas que o Marte Um vai trazendo de mim, por também ser o meu primeiro filme solo. É uma imersão muito pessoal nesse sentido.
O protagonista tem um sonho de viajar para Marte e colonizar o planeta. O que esse desejo, que está no nome do filme, representa?
A ideia desse sonho do Deivinho é que pode ser algo muito concreto – de fato, entrar numa nave e ir para um outro planeta. Mas ele, acima de tudo, é quase que uma ideia de utopia.
É um pouco essa ideia dessa gana do brasileiro, essa coisa do brasileiro ser alguém sonhador. Às vezes a importância desse sonho não é necessariamente que ele de fato se concretize, mas que ele crie um caminho e uma motivação para que a pessoa siga acordando todos os dias, fazendo as coisas.
Por isso que essa missão tão específica que dá título ao filme. Ela remete a essa ideia de mirar o impossível, mirar o expandido – essa ideia de universo expandido, esse universo em expansão, esse universo infinito.
É quase que uma chamada para que, em um momento em que estamos tão decepcionados com questões terrenas, possamos permitir que nossa mente se amplifique de uma maneira radical. É quase que uma evocação a sonhar muito longe.
Acho que isso é muito potente nos dias de hoje. É quase estranho pensar em sonhar em momentos em que tudo parece tão perdido. Mas acho que em persistir nisso, existe uma convocação para a gente não desacreditar das coisas: não perder os nossos sentimentos diante de uma realidade que às vezes nos estimula a simplesmente desistir.
Qual a sua relação estética com o lugar de onde você veio e as histórias que você vivia? Quando você era criança e sonhava em ser cineasta, você andava por Contagem e imaginava fazer seus filmes por lá?
Lá atrás, cinema para mim era só Hollywood. Eu tinha visto filme dos Trapalhões, da Xuxa, mas não tinha essa compreensão de que existia um cinema brasileiro. Não sabia o que era curta-metragem. Mas lembro que, com 12 anos, minha mãe me levou para a Mostra de Cinema de Tiradentes (MG), onde participei de oficinas de vídeo e até de uma produção local.
E lá vi filmes brasileiros, vi curtas. Lembro de assistir ao Bicho de 7 Cabeças [2000, dir. Laís Bodanksy] na praça completamente abarrotada. Isso me despertou uma sensação de que existia todo um território que eu desconhecia até então. Acho que esse despertar lá atrás fez com que eu me tornasse um cinéfilo muito curioso.
Quando eu comecei a fazer os primeiros filmes, não estava necessariamente entendendo ainda o meu bairro com essa potência. Mas, na primeira semana de faculdade, conheci o Maurílio [Martins, com quem dirigiu o No Coração do Mundo]. Os deuses do cinema colocaram o Maurílio [que também assina a produção do "Marte Um”] na mesma sala que eu – alguém do mesmo bairro.
Então, quando fomos fazer as primeiras coisas juntos, inevitavelmente foi no bairro, que era onde a gente morava. Essa coisa doida, de como essa colonização cultural, esse imperialismo cultural, ele meio que afastava nossa mente. A gente sequer consegue olhar pro nosso lugar com esse carinho e com essa potência. E isso é mais um motivo pelo qual a gente segue fazendo filmes no bairro, a gente constrói essas narrativas lá, porque de alguma forma a gente quer que outros jovens possam ver isso de forma diferente desde cedo.
Leia mais
- Bacurau, ou o Brasil de Bolsonaro
- Bacurau e a esquerda anestesiada
- A hipótese Bacurau
- ‘Bacurau’ não é sobre o presente, mas o futuro
- Um lugar unido, resistente e psicodélico: Bacurau é aqui e não é aqui
- 'Aquarius' oferece versão de esquerda para 'Tradição, Família e Propriedade'
- Aquarius: a resistência é um lugar solitário
- ‘Pequeno segredo’ vence ‘Aquarius’ e vai representar Brasil no Oscar. Justiça ou retaliação?
- Filme ‘Sócrates’ traz um dos personagens mais fortes do cinema brasileiro recente
- A linguagem da violência que contaminou a sociedade destrói a democracia. Entrevista especial com Ivana Bentes
- O Brasil do transe à vertigem
- Colonizar o espaço para destruir a Terra
- Junho de 2013 – Cinco Anos depois.Demanda de uma radicalização democrática nunca realizada. Revista IHU On-Line, Nº. 524