18 Julho 2019
Novo livro sugere: em busca de lucros astronômicos, indústria farmacêutica multiplica drogas e exames, mas é incapaz de avançar no tratamento de doenças que afligem milhões – do Alzheimer a cardiopatias e depressão.
O artigo é de John Horgan, que dirige o Centro de Ensaios Médicos do Steven Institute of Technology, nos EUA. Entre seus livros, estão "The end of Science" ("O fim da ciência", sem tradução no Brasil) e "The end of War" ("O fim da guerra", sem tradução no Brasil), publicado por Outras Palavras, 15-07-2019. A tradução é de Inês Castilho.
Eis o artigo.
Há anos, tenho escrito sobre erros e insuficiências da Medicina, especialmente quando se trata de saúde mental e câncer. Mas minhas críticas são leves comparadas às de Jacob Stegenga, um filósofo da ciência da Universidade de Cambridge.
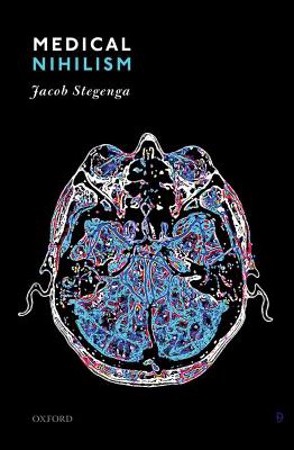
Capa do livro Medical Nihilism
Em Medical Nihilism [“Nihilismo Médico”], publicado no ano passado pela editora da Universidade de Oxford, Stegenga faz uma crítica devastadora da Medicina. A maioria dos tratamentos, argumenta, não funciona muito bem, e muitos mais fazem mal do que bem. Portanto deveríamos “ter pouca confiança nas intervenções médicas” e recorrer a elas muito mais comedidamente. Isso é o que Stegenga quer dizer com niilismo médico. Fui informado sobre Medical Nihilism pelo economista Russ Roberts, que recentemente entrevistou Stegenga no popular podcast EconTalk.
O ceticismo com relação à Medicina, às vezes denominado “niilismo terapêutico”, já foi generalizado, mesmo entre médicos – observa Stegenga. Em 1860 Oliver Wendell Holmes, reitor da Faculdade de Medicina de Harvard, escreveu que “se toda a matéria médica, como se diz agora, pudesse ser jogada no fundo do mar, seria melhor para a humanidade – e pior para os peixes”.
Esse ceticismo enfraqueceu com o advento da anestesia, das técnicas cirúrgicas antissépticas, das vacinas e tratamentos verdadeiramente eficazes, em especial antibióticos para doenças infecciosas e insulina para diabetes. Stegenga chama esses dois últimos de “balas mágicas”, uma frase cunhada pelo médico e químico Paul Ehrlich para designar tratamentos que visam a causa de uma doença sem interromper as funções saudáveis do corpo.
Os pesquisadores têm trabalhado com afinco para descobrir mais balas mágicas, mas elas continuam raras. Um exemplo; a droga imatinib, com nome de marca Gleevec, é “um tratamento especialmente efetivo” para um tipo de leucemia, Stegenga diz. Mas o Gleevec tem “efeitos colaterais severos, incluindo náusea, dor de cabeça, insuficiência cardíaca grave e crescimento retardado em crianças”.
A maioria das outras formas de câncer, assim como de doença cardíaca, Parkinson, Alzheimer, artrite, esquisofrenia e desordem bipolar, não têm cura ou tratamentos confiáveis. Muitos medicamentos “amplamente consumidos” são pouco eficazes e têm muitos efeitos colaterais prejudiciais”, escreve Stegenga. Os exemplos incluem drogas para colesterol alto, hipertensão, diabetes tipo II e depressão.
Stegenga alerta os leitores para não deixar de tomar medicamentos prescritos sem supervisão médica, porque a interrupção brusca pode ser arriscada. Mas nossa saúde irá melhorar e nossas despesas, diminuir, ele argumenta, se recorrermos a tratamentos com muito menor frequência. Como disse uma vez Hipócrates, “não fazer nada é também um bom remédio”.
Antecipando as objeções a essa tese, Stegenga enfatiza que não faz anticiência ou antimedicina. Muito pelo contrário. Seu objetivo é melhorar a Medicina, alinhando-a com aquilo que pesquisas rigorosas de fato revelem sobre os prós e contras dos tratamentos. Sua tese não deveria encorajar os defensores da medicina “alternativa”, que ele julga ter até menos suporte empírico do que a convencional. Stegenga escreve:
Não há lugar onde eu prefira estar, depois de um acidente sério do que numa unidade de tratamento intensivo. Para uma dor de cabeça, aspirina; para muitas infecções, antibióticos; para alguma diabetes, insulina – há um punhado de intervenções médicas verdadeiramente espantosas, muitas delas descobertas entre setenta e noventa anos atrás. Contudo, segundo a maior parte de métricas – número de pacientes, dinheiro gasto, número de prescrições – as intervenções mais comumente usadas, em especial aquelas introduzidas nas últimas décadas, oferecem bases convincentes para o niilismo médico.
Estes são os pontos chave do livro: A pesquisa médica é tendenciosa com relação a resultados positivos. O centro da obra mais recente de Stegenga é sua crítica aos estudos clínicos. Todo mundo deseja resultados positivos. Os pacientes estão desesperados para ser curados e tendem ao efeito placebo. As revistas estão ávidas para publicar boas novidades médicas. Os jornais e a mídia de massa, para fazer publicidade delas; o público para lê-las. Os pesquisadores podem receber bolsas, glória e títulos mostrando que um tratamento funciona.
Mais importante, as empresas biomédicas, que patrocinam a maior parte das pesquisas, podem ganhar bilhões com um único medicamento aprovado, como o Prozac. John Ioannidis, um estatístico de Stanford que expôs falhas na literatura científica citadas repetidamente por Stegenga, afirma que “conflitos/ de interesse são abundantes” na pesquisa médica. A maioria dos estudos clínicos, afirmou Ioannidis sem rodeios em 2016, “não é útil”, significando que “não faz diferença para os resultados na saúde e na doença”.
Os estudos clínicos aleatórios controlados, melhor padrão para a pesquisa médica, supostamente minimizam vieses. Numa conduta típica, os pacientes são aleatoriamente encaminhados para dois grupos, um dos quais recebe um tratamento em potencial e o outro um placebo. Pesquisadores e pacientes ficam “cegos”: eles não sabem quem está recebendo a droga ou o placebo.
Mas, como aponta Stegenga, os pesquisadores precisam tomar muitas decisões ao projetar, implementar e interpretar os estudos. Ensaios clínicos controlados aleatórios são, portanto, muito menos rigorosos e objetivos e mais “maleáveis”, ou sujeitos a manipulação do que parecem. O mesmo se aplica às metanálises, que avaliam dados de múltiplos ensaios.
Essa maleabilidade explica por que os resultados de diferentes estudos clínicos variam enormemente, e por que a pesquisa financiada pela indústria farmacêutica é, de longe, mais propensa a mostrar benefícios do que as investigações independentes. Metanálises de antidepressivos realizadas por pesquisadores ligados à indústria tendem a mencionar efeitos negativos 22 vezes menos do que análises independentes. De acordo com outro estudo, comparações entre tratamentos de hipertensão financiadas pela indústria têm 35 vezes mais chances de favorecer o tratamento do financiador do que as alternativas.
Os estudos mais rigorosos mostram menores benefícios: Pesquisadores ávidos por resultados positivos podem engajar-se em manipulação [p-hacking] , que envolve formular hipóteses e encontrar dados para apoiá-las depois que um estudo é realizado. O P-hacking é uma forma de escolha seletiva, que permite aos pesquisadores atribuir relevância ao que pode ser uma correlação aleatória. Uma maneira de evitar o p-hacking é fazer com que pesquisadores pré-registrem seus estudos e explicitem hipóteses e métodos com antecedência.
Nos Estados Unidos, um estudo de 2015 comparou o efeito do pré-registo de pesquisas clínicas financiadas pelo governo federal sobre intervenções em doenças cardíacas. Das pesquisas realizadas antes de 2000, quando começaram a ser feitos os pré-registros, 57% mostraram benefícios nas intervenções. Nas pesquisas posteriores, que foram desenvolvidas com menos aporte da indústria e mais pesquisadores independentes, este índice caiu para apenas 8%. Stegenga observa que, na média, as intervenções pós-2000 “não foram úteis”.
Metanálises realizadas pelo Cochrane Collaboration, um grupo de pesquisadores independentes que exigem forte demonstração dos resultados, têm metade das probabilidades de relatar resultados positivos do que as metanálises produzidas por outros grupos. A perturbadora consequência desses estudos, diz Stegenga, é que “melhores métodos de pesquisa em Medicina levam a estimativas mais baixas de eficácia”. Em geral, e vale ressaltar isso, o rigor de pesquisas sobre tratamentos médicos é inversamente proporcional aos benefícios que encontram.
Os efeitos nocivos das drogas são subdeclarados: Stegenga acusa a FDA, agência de medicamentos norte-americana, que tem laços próximos com a indústria, de definir a barreira muito baixa na aprovação de drogas. Ele cita um veterano epidemiologista da FDA queixando-se de que a agência “sempre superestimava os benefícios das drogas que aprovava, rejeitando, minimizando ou ignorando os problemas de segurança”.
As pesquisas geralmente subdeclaras os efeitos adversos. Estudos clínicos de “segurança” preliminares quase sempre deixam de ser publicados, assim como muitos estudos posteriores que mostram amplamente efeitos negativos. Além disso, os estudos publicados frequentemente não apresentam dados sobre pacientes que abandonam o tratamento por causa de reações adversas a uma droga. Os efeitos nocivos de medicamentos com frequência vêm à luz somente depois de aprovados pelas agências reguladoras. Um estudo revelou que os prejuízos são subestimados em 94% pela supervisão pós-aprovação das drogas.
Drogas recentemente suspensas depois de aprovadas incluem (esses são os nomes genéricos, use o Google para os nomes comerciais) valdecoxib, fenfluramine, gatifloxacin e rofecoxib e rosiglitazona. Entre as que permanecem no mercado, a despeito de crescentes preocupações de segurança, estão o Celebra (celecoxiba), Osteoform (alendronato de sódio), Risperdal (risperidona) e a olanzapina e a rosiglitazona.
O rosiglitazona, lançada no mercado como Avandia para diabetes tipo dois, aumentou o risco de doença cardíaca e morte nos primeiros estudos. O fabricante reclamou que um novo estudo mostrou riscos muito mais baixos, mas o estudo excluiu pacientes com maior probabilidade de ter reações adversas, de acordo com Stegenga.
Prestadores de cuidados de saúde “fomentam doenças”: Stegenga culpa médicos e indústrias farmacêuticas por expandir seus mercados inventando enfermidades e patologizando situações normais. Ele chama essa prática de “propagação de doenças”. Perturbações duvidosas incluem a síndrome da perna irrequieta, transtorno disfórico pré-menstrual, halitose, calvície masculina, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, osteoporose e transtorno de ansiedade social.
Stegenga aponta que a FDA aprovou recentemente a flibanserina para “disfunção sexual feminina” após ação lobista agressiva de um grupo denominado “Even the Score” (Igualar o Jogo), que dizia agir em defesa de pacientes. O grupo acusava a FDA de “viés de gênero” porque “aprovou drogas para disfunção erétil mas não tinha ainda aprovado uma droga para o desejo sexual feminino”. O lobby foi supostamente organizado e financiado pelo fabricante da droga, que uma metanálise mostrou ter benefícios marginais e efeitos adversos significativos.
Da mesma forma, médicos vivem “descobrindo” distúrbios em novas populações. Um exemplo especialmente perturbador é o diagnóstico de doença mental em crianças. O The New York Times relatou que, em 2014, médicos produziram, nos EUA, 83 mil prescrições para medicamentos antidepressivos e 20 mil prescrições para drogas antipsicóticas para crianças com menos de dois anos.
O rastreamento não salva vidas: Embora se concentre em tratamentos, Stegenga também critica os exames. Uma premissa básica de cuidados preventivos é que o rastreamento de pessoas assintomáticas para uma doença leve ao diagnóstico precoce e melhores resultados. Infelizmente, Stegenga escreve, o rastreamento também pode levar a “diagnósticos falso positivos, sobrediagnósticos e sobretratamentos” (sobrediagnóstico ocorre quando um teste detecta um pequeno tumor ou outra anomalia que, se deixada sem intervenção, nunca causaria danos).
A maioria das avaliações de rastreamento examina se testes específicos para doenças – como a mamografia ou teste de PSA para câncer de próstata – reduzem as mortes por essa doença, em comparação com controles não testados. Embora o método pareça razoável para a doença específica, pode indevidamente favorecer o teste, excluindo as mortes resultantes da doença, do tratamento ou do teste (como um cólon perfurado causado por colonoscopia). Por isso, alguns pesquisadores argumentam que os testes devem ser avaliados pela contagem de todas as mortes, independentemente da causa designada, em grupos rastreados e não rastreados.
Um relatório de 2015 examinou testes populares para quatro das doenças que mais matam: câncer, doença cardíaca, diabetes e problemas respiratórios. O estudo descobriu que poucos métodos de rastreamento reduziram a mortalidade por uma doença específica e nenhum reduziu a mortalidade por todas as causas. Os autores concluíram que “expectativas de maiores benefícios na mortalidade, devido ao rastreamento, precisam ser cautelosamente atenuadas”.
A medicina moderna é superestimada.
A medicina moderna recebe muito crédito por aumentar a expectativa de vida média, de acordo com Stegenga. Ele cita evidências compiladas pelo pesquisador e médico Thomas McKeown na década de 1970 de que o aumento da longevidade resulta menos de vacinas, antibióticos e outros avanços médicos do que de melhoria no padrão de vida, nutrição, tratamento de água e saneamento.
O trabalho de McKeown segue influente, a despeito das críticas. Além disso, os profissionais de saúde violam rotineiramente o juramento hipocrático de não causar danos. Um estudo de 2013 estimou que só nos EUA ocorrem a cada ano, mais de 400 mil “mortes evitáveis causadas por hospitais”. Cerca de 8 milhões de pacientes sofrem “sérios danos”.
Stegenga reconhece que o termo “niilismo médico” parece sombrio. Alguns leitores podem preferir sua frase mais otimista “medicina suave”, que pede menos ênfase na cura e mais nos cuidados, incluindo o controle da dor (embora a atual epidemia de opióides mostre que o controle da dor também apresenta riscos). Alguns médicos que adotam redução nos tratamentos se autodenominam “médicos conservadores“.
Mas eu gosto do termo “niilismo médico” porque é provocador. Ele dá o tão necessário tapa na cara dos provedores de serviços de saúde e dos consumidores, um tapa de que precisamos para despertar de nossa submissão a um status quo abismal. Se mais entre nós aceitássemos os limites da Medicina e agíssemos de acordo com isso, nossa saúde certamente melhoraria e nossos gastos seriam reduzidos.
O livro de Stegenga não é perfeito. O autor é um pouco repetitivo e gosta demais da análise bayesiana. (Na minha opinião, seus cálculos bayesianos simplesmente afirmam a conclusão do senso comum de que devemos desconfiar de supostas descobertas em campos com uma longa história de fracasso). Ele é um pouco avarento ao dar crédito à Medicina por certos avanços, em particular as vacinas.
Assim como Russ Roberts da EconTalk, gostaria que Stegenga tivesse se dedicado mais aos tratamentos contra o câncer, que têm me ocupado ultimamente. Stegenga aconselharia os amigos diagnosticados com, digamos, câncer de mama ou próstata a renunciar ao tratamento? Ele próprio renunciaria? (Pretendo apresentar suas respostas a estas e outras perguntas num texto futuro).
Contudo, aplaudo Stegenga por seu livro importante, oportuno e corajoso. Ele complementa outras duras críticas à Medicina, tais como Less Medicine, More Health, de Gilbert Welch, The Truth about Drug Companies, de Marcia Angell, Bad Pharma, de Ben Goldacre, An American Sickness, de Elisabeth Rosenthal, e Anatomy of an Epidemic, de Robert Whitaker. Espero que Medical Nihilism seja amplamente lido e discutido, e que ajude a trazer reformas na prática, pesquisa e comunicação médica. São reformas de que necessitamos desesperadamente.
Leia mais
- O Congresso no bolso da indústria farmacêutica
- A dimensão financeira da medicina em questão
- Indústria da doença, lucro vertiginoso
- O peso das patentes no preço dos medicamentos
- A medicina capitalista: perdendo a batalha contra o câncer?
- Bayer-Monsanto: a maior fusão empresarial da história
- A dominância das dimensões médicas na sociedade. Entrevista especial com Luís David Castiel
- Homeopatia: medicina popular a serviço de todos. Entrevista especial com Edna do Amaral
- Os riscos da transgenia “faça-você-mesmo”: bactérias imunes aos antibióticos (vídeo em italiano)
- Antibióticos. Brasil supera Europa em média de consumo
- Por que não conseguimos acabar com o Alzheimer?
- Efeito placebo e milagres: os mistérios da não ciência
- Ciência vive uma epidemia de estudos inúteis
- Brasil passa por grande retrocesso quanto ao controle ético de pesquisas envolvendo seres humanos. Entrevista especial com Thiago Rocha da Cunha
- As doenças que mais venderão em 2012
- O problema não é a população
- Bioética, biopolítica e tanatopolítica. A obsessão doentia pela saúde perfeita. Entrevista especial com Anna Quintanas
- Quem deseja buscar saúde não deve procurar doenças
- A financeirização da saúde. Entrevista especial com Luiz Vianna Sobrinho
- Medicalização na infância. Remédio não educa
- 70% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem recomendação médica, aponta pesquisa
- A medicalização da vida faz mal à saúde. Entrevista especial com José Roque Junges
- A medicalização da vida. A autonomia em risco
- Médicos brasileiros não querem trabalhar com Saúde da Família e com pobres, mostra Estudo da USP
- Medicina Social – Um Instrumento para Denúncia. Artigo de Stela Nazareth Meneghel . Cadernos IHU ideias Nº 15






