A desconstrução do capital e a democratização da inovação são fundamentais para aproveitar a inteligência das coisas para as pessoas, para construir uma sociedade tecnológica melhor, diz o pesquisador
Modificar, reaproveitar ou, inclusive, se desfazer de uma parte das tecnologias existentes hoje "é necessário", defende Jathan Sadowski, da Universidade Monash, na Austrália. "'Desfazer' soa radical, mas será mais radical ou ridículo do que transformar a inovação em um fetiche, motivado pela necessidade incessante de fazer algo, qualquer coisa, apenas por fazer, mesmo que não seja novidade, nem útil, e depois equacioná-lo com o progresso social? Treinamos as pessoas para serem inovadoras, não mantenedoras, muito menos destruidoras. A inovação é sexy, enquanto a manutenção é enfadonha e a destruição é depravada", disse na última quarta-feira, 28-04-2021, no Ciclo de Estudos: O mundo distópico do século XXI. (In)Sustentabilidades e os novos possíveis, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU e transmitido na página eletrônica do IHU e no Canal do YouTube.
Na conferência intitulada "Big e deep techs, ‘novas’ riquezas e desigualdades. A necessidade da governança digital", Sadowski argumentou que não basta pensar somente em inovação, sem alterar a tecnopolítica, isto é, os mecanismos técnicos e políticos que permitem a criação, o financiamento e o uso de novas tecnologias. Segundo ele, "para cada solução para as cidades inteligentes, há departamentos de polícia e plataformas que enxergam novos métodos de exercício da autoridade. A influência do poder e do lucro, da coleta e do controle, corrompe estas transformações tecnológicas na origem".
Para romper com esse cenário, o pesquisador propõe "um duplo movimento de desconstrução do capital e democratização da inovação", que precisa responder às questões: "O que tiramos de toda essa inovação? Essa coisa contribui para o bem-estar humano ou social?". Para que as tecnologias estejam a serviço da vida humana, Sadowski defende que elas sejam democratizadas. “Isso significa não tratar a inovação como uma força mística unicamente acessada por uma elite, mas como um empreendimento humano que deve beneficiar a todos. Em outras palavras, a democratização da inovação requer o empoderamento das pessoas afetadas pelo uso da tecnologia para que participem de sua criação, e nas decisões de como ela é usada", explicou.
A seguir, publicamos a conferência de Jathan Sadowski no formato de entrevista.

Jathan Sadowski (Foto: Arquivo pessoal)
Jathan Sadowski é graduado em Filosofia pelo Instituto de Tecnologia Rochester, com especiaização em Ética Aplicada pela Universidade Estadual do Arizona, e doutor em Dimensões Humanas e Sociais da Ciência e Tecnologia, pela mesma instituição. Atualmente, é pesquisador do Laboratório de Pesquisa de Tecnologias Emergentes da Universidade Monash, na Austrália. Entre suas publicações, destacamos o livro publicado no ano passado, Too Smart: How Digital Capitalism is Extracting Data, Controlling Our Lives, and Taking Over the World (Massachusetts: MIT Press, 2020) [Muito inteligente: Como o capitalismo digital está extraindo dados, controlando nossas vidas e dominando o mundo, em tradução livre]. Ele também apresenta o podcast semanal This Machine Kills, sobre economia política da tecnologia, capital e finanças.
IHU On-Line – O senhor faz uma análise crítica da economia política da tecnologia existente e propõe uma abordagem radical para se criar uma alternativa mais justa e igualitária. Pode nos explicar sua crítica e proposta?
Jathan Sadowski - A sociedade inteligente se baseia em um discurso simplista de vendas: por integrar à nossa vida um leque de tecnologia de dados, em redes conectadas e automatizadas, recebemos em troca uma série de atualizações marginais e conveniências em todas as escalas e espaços. Em vez de apresentar as operações e implicações dos locais de trabalho inteligentes, das casas inteligentes e cidades inteligentes, coisas que palestras como esta tendem a enfatizar e que abordei no livro Too Smart, eu busco repudiar o “inteligente” enquanto paradigma. E destaco o que devemos fazer para substituí-lo.
Talvez poderíamos tolerar a velha retórica sobre o Vale do Silício, e a sociedade inteligente que tem sido vendida, salvando o mundo se os benefícios prometidos fossem entregues sem manipulações ou surpresas. Mas sabemos que as coisas não são tão simples. Para cada rastreador inteligente, há corretores de dados e chefes que enxergam novas ferramentas para a exploração humana. Para cada utensílio doméstico inteligente, há fabricantes e seguradoras que enxergam novas oportunidades de extração de valor. Para cada solução para as cidades inteligentes, há departamentos de polícia e plataformas que enxergam novos métodos de exercício da autoridade. A influência do poder e do lucro, da coleta e do controle, corrompe estas transformações tecnológicas na origem.
É verdade que nem todas as coisas inteligentes contribuem para fins nefastos. Há muitas coisas úteis que realçam a vida. Mas mesmo quando projetada por razões totalmente inócuas, grande parte da chamada tecnologia inteligente acaba entrando nas redes de monitoramento, gestão, manipulação e monetização das pessoas. Nem sempre isso acontece, e nem sempre no mesmo grau. No entanto, os exemplos são suficientes para nos preocupar. Não só porque estas coisas são feitas por engenheiros míopes ou por empresas gananciosas, embora isso contribua para o problema. Essas coisas são um sintoma das condições sociais, políticas e econômicas das quais a tecnologia inteligente emerge.
Como explicou o teórico da política Langdon Winner em artigo sobre a teoria das políticas tecnológicas:
“Na verdade, a maioria dos exemplos mais importantes de tecnologias que têm consequências políticas transcende as categorias simples do ‘intencional’ e do ‘não intencional’. Esses são instâncias nas quais o próprio processo do desenvolvimento técnico já está tão completamente direcionado que ele produz resultados exaltados como maravilhosos para alguns interesses sociais e catastróficos para outros. Nesses casos, não seria correto nem adequado dizer que ‘alguém teve a intenção de prejudicar uma outra pessoa’. Em vez disso, seria preciso dizer que a plataforma tecnológica já havia sido disposta anteriormente para favorecer certos interesses sociais e que algumas pessoas estavam destinadas a receber uma ajuda melhor do que outras”.
IHU On-Line – Quais são as alternativas a esse cenário?
Jathan Sadowski - Ao mesmo tempo, não há dúvidas de que as inovações digitais podem ser projetadas e usadas para outras finalidades. Modificar e reaproveitar as tecnologias existentes é necessário, mas não basta para desafiar os imperativos e interesses que tenho mapeado. Se nos limitarmos a aparar as bordas, se focarmos na transformação da tecnologia, mantendo a mesma tecnopolítica, estaremos prejudicando nossa capacidade de transformação. Projetar um tipo diferente de sociedade, baseada em tipos diferentes de tecnologia, exige uma mudança radical que ameaça a posição dos poderosos e privilegiados. Mas, primeiro, precisamos superar os nossos próprios bloqueios mentais.
Muitas vezes, as alternativas propostas são descartadas de imediato como pouco sérias ou impraticáveis. Como observa Roberto [Mangabeira] Unger: “No atual clima, ao redor do mundo, quase tudo que pode ser proposto como alternativa parecerá utópico ou trivial. Portanto, nosso pensamento programático está paralisado”.
Mas, neste momento, devemos nos libertar dos pesos atados a nossos pés, supostamente para nos manter seguros. E mais, se o Vale do Silício pode construir um império a partir de propostas triviais travestidas de promessas utópicas, então devemos nos sentir livres a eleger ideias próprias para uma mudança radical. Para isso, apresento um duplo movimento de desconstrução do capital e democratização da inovação.
Vejamos o primeiro ponto. Hoje, a palavra “ludista” é usada como insulto, uma forma de tachar as pessoas como antitecnológicas, antiprogresso, retrógradas. Para os entusiastas do Vale do Silício, quem for cético da tecnologia é considerado ludista e, portanto, ignorado. Esse uso contemporâneo, no entanto, deforma a história verdadeira do ludismo e não dá os devidos créditos aos ludistas reais.
Os ludistas originais eram um grupo de trabalhadores, na Inglaterra do século XIX, que, na calada da noite, quebravam máquinas de fábricas industriais. Empregar a palavra nesse sentido moderno está correto aqui, mas não no outro sentido. Os ludistas não tinham como motivação um medo primitivo do progresso ou uma preocupação com a competição, com os avanços tecnológicos. Em vez de quebrarem tudo indiscriminadamente, eles eram pontuais quanto às máquinas que destruíam. Como observa Robert Byrne: “Os ludistas destruíam estruturas dos fabricantes que pagavam salários abaixo do padrão ou que pagavam com produtos, em vez de dinheiro. Num mesmo local, máquinas eram destruídas ou poupadas de acordo com as práticas empresariais dos donos”.
O ludismo voltava-se aos donos que usavam as máquinas para aumentar drasticamente a produtividade, acelerar o ritmo de trabalho e espremer mais valor dos trabalhadores. Isso soa familiar se conhecemos as práticas de empresas como Amazon, e outras. O ludismo não foi uma guerra contra as máquinas. Foi um movimento da classe trabalhadora, que entendia a importância de confrontar a tecnopolítica do capitalismo industrial. Ao quebrarem as máquinas, os ludistas visavam a tecnologia que tornava a vida deles mais miserável, e visavam os engenheiros e proprietários que detinham o poder através dessas tecnologias.
As máquinas são a “fundação material” do sistema capitalista de exploração e extração. Logo, desmantelar o maquinário do capital é uma tentativa de desafiar a “forma de sociedade que utiliza estes instrumentos”, como explica Marx. Naturalmente, os donos das fábricas e do maquinário odiavam os ludistas, assim como eles ainda desprezam todo movimento trabalhista que desafia a sua autoridade e exige melhores condições de trabalho.
O capital sempre dependeu de táticas militantes para subjugar a mão de obra e perseguir o lucro, enquanto também usa os tribunais e a opinião pública para desnudar os trabalhadores de qualquer possibilidade de revide. Com o apoio do Estado e do exército, os donos dessas fábricas atacaram, prenderam e difamaram os ludistas, pondo-se como ‘vítimas inocentes de uma destruição arbitrária realizada por um grupo de bandidos ignorantes e violentos’.
Ao continuarmos usando a palavra “ludista” como um insulto bruto, perpetuamos essa dinâmica, e acabamos apoiando os interesses do capital. Em vez de desprezar o ludismo, deveríamos expandir o seu enfoque tático. A luta contra o capital não se limita apenas a trabalhadores combatendo a exploração no trabalho. Se o poder do capitalismo não restringe o seu alcance, então por que deveríamos restringir a nossa resistência?
Me permitam esclarecer o seguinte: não estou aconselhando as pessoas a se armarem com martelos e começarem a vandalizar, destruir as coisas. Além de perigoso e arriscado, essa abordagem não é estratégica nem eficaz. O que precisamos é de um tipo mais sistemático, intencional de ludismo – em oposição aos tipos “vigilante precipitado” e reacionário. Precisamos de um tipo de ludismo que foca literalmente na destruição das fundações materiais do capitalismo digital. Precisamos de um ludismo-enquanto-diretriz, enquanto política.
Há um impulso para a construção constante de coisas novas, mais camadas de coisas e sistemas, adicionadas e empilhadas no topo dos estratos atuais. Com certeza precisamos de tecnologias alternativas, mas também precisamos nos desfazer de grande parte da tecnologia existente.
Não basta olhar para o mundo e imaginar incontáveis possibilidades de construir, modelar e interpretar as coisas de um modo diferente. Precisamos reconhecer a materialidade das coisas também... a forma como elas se tornam estáveis e impedem a mudança. Só conseguimos avançar quando ignoramos ou contornamos coisas concretas. Eventualmente, essas coisas devem ser postas de lado, tiradas do caminho e desfeitas para que novos caminhos sejam abertos.
IHU On-Line – O que significa se desfazer das tecnologias existentes?
Jathan Sadowski - “Desfazer” soa radical, mas será mais radical ou ridículo do que transformar a inovação em um fetiche, motivado pela necessidade incessante de fazer algo, qualquer coisa, apenas por fazer, mesmo que não seja novidade, nem útil, e depois equacioná-lo com o progresso social? Treinamos as pessoas para serem inovadoras, não mantenedoras, muito menos destruidoras. A inovação é sexy, enquanto a manutenção é enfadonha e a destruição é depravada.
O que tiramos de toda essa inovação? Na maioria das vezes, acabamos com uma superabundância de soluções em busca de problemas. Nem todas as coisas são criadas da mesma forma, e muitas nunca deveriam ter sido criadas, em primeiro lugar. No mínimo, não podemos aceitar a celebração naturalizada do fazer, e a condenação do desfazer. Se o capitalismo celebra aquilo que chama de “destruição criativa” ou “inovação disruptiva”, por que não podemos usar essas expressões também para nossos fins?
A simples abertura à possibilidade de desfazer nos ajuda a reavaliar o valor das coisas em nossa vida e na sociedade. Quanto a tecnologias inteligentes, podemos começar simplesmente rebaixando as coisas desnecessariamente valorizadas que, hoje, preenchem nossa vida, nossas casas e cidades. Nem tudo precisa estar equipado com sensores e conectado à nuvem. Na verdade, isso vale para a maioria das coisas. Deveríamos nos livrar dos sensores, desligar as sinalizações. Em outras palavras, deveríamos pensar como Marie Kondo quanto à tecnopolítica... Essa coisa contribui para o bem-estar humano ou social? Se não, joguemos fora.
Desfazer significa pensar além de apenas rebaixar as nossas torradeiras inteligentes ou nos desintoxicar dos nossos smartphones. É um método de contar com as “fundações materiais” e com a “forma de sociedade” criada pelo capitalismo digital. Por um lado, os gurus dos estilos de vida, do Vale do Silício, ficarão felizes em nos vender um fim de semana afastado da internet, no meio da mata, como um retiro silencioso, sem sinal de Wi-Fi, para que possamos escapar brevemente da sociedade inteligente antes de voltar à vida normal. É um plano brilhante, que convence as pessoas de que a solução para os problemas de uma sociedade inteligente é pagar pelo privilégio de recarregarmos nossas baterias físicas, mentais e espirituais, para que então possamos retornar à nossa paisagem infernal, prontos para trabalhar e produzir mais.
Por outro lado, a atitude neoludista reconhece que precisamos mais do que um adiamento temporário para com a velocidade, supervisão, juízo, ansiedade e ressentimento induzidos pelo capitalismo. Quando confrontados com a decisão entre nos adaptarmos a uma sociedade mais inteligente ou desfazer um mundo mais burro, devemos escolher a segunda opção.
É claro que não precisamos começar imediatamente com a demolição da infraestrutura planetária de vigilância, embora seja bom visualizar as metas desde o começo. Entretanto, considerando as ondas recentes de protestos, como o Black Lives Matter nos Estados Unidos, e os resultados alcançados nas normas de conduta policial e entre a percepção pública, talvez aí seja precisamente por onde devemos começar. Dito isso, antes de tomar qualquer ação direta, poderíamos percorrer um longo caminho apenas tendo maiores expectativas sobre como a sociedade é organizada – e como as nossas vidas são modeladas – por sistemas tecnopolíticos.
Não devemos nos acomodar com ninharias resultantes de atualizações marginais, enquanto aqueles em postos de poder desfrutam de grandes benefícios. Se fizermos este único ajuste e elevarmos o design e o uso das tecnologias inteligentes a novos patamares, suspeito que muitas das chamadas “inovações”, vendidas como soluções para os problemas, não passariam na avaliação. Deveriam ser desfeitos aqueles que não melhoram a vida nem beneficiam a sociedade, o que instantaneamente exclui quase toda tecnologia inteligente pensada para expandir a extração de dados e o controle social.
IHU On-Line – Como caminhar nesta direção se vivemos na era da inovação tecnológica?
Jathan Sadowski - Até aqui, argumentei por que coisas existentes precisam ser desfeitas. Pergunto: como podemos agregar novas coisas? Assumindo o controle da inovação, evidentemente. Parece paradoxal: Como controlar a inovação? Fomos ensinados a pensar a inovação como resultado de ideias inesperadas tidas por grandes homens, que então produzem avanços tecnocientíficos que melhoram a vida humana. Esta visão foi expressa com clareza pelo químico e filósofo Michael Polanyi, que disse: “Podemos matar ou mutilar o avanço da ciência, mas não podemos lhe dar forma. Porque a ciência só poderá avançar por etapas essencialmente imprevisíveis, perseguindo os seus próprios problemas, e os benefícios práticos desses avanços serão incidentais e, portanto, duplamente imprevisíveis”.
Para Polanyi, “inovação” e “o mercado” eram semelhantes porque ambos deveriam estar livres da interferência humana. Isto significa não tentar modelar ou regular os seus processos e resultados. A única diretriz para a inovação e para os mercados, segundo o argumento defendido por Polanyi e outros, deve vir da mão invisível. Ou seja, da ordem espontânea do comportamento não planejado e das decisões individuais, não da ação coletiva e intencional.
Essa história de como a inovação acontece baseia-se em uma mitologia conveniente. Nela, excluem-se todos, exceto uns poucos escolhidos, de participar no processo de inovação. Essa ideia protege cientistas, engenheiros e empreendedores de obrigações ou responsabilidades para com os resultados de seu trabalho. Quando confrontados com questões difíceis, a dinâmica misteriosa e agnóstica da inovação (ou do mercado) é um bode expiatório conveniente.
Entretanto, longe de ser uma força descontrolada da natureza, a inovação tornou-se um grande negócio. Decisões sobre o porquê, para quê e como fazer tecnologia estão concentradas nas mãos de capitalistas de aventura, empresas privadas e militares, enquanto nós devemos viver com os produtos resultantes das suas decisões. Em cada estágio do processo, desde o investimento à implantação, novas tecnologias ficam submetidas a camadas de supervisão e avaliação. O desenvolvimento dessas tecnologias volta-se a certos objetivos e certos valores são definidos. Se o produto for um fracasso, então é jogado no lixo. Se for um sucesso, então é vendido como inovação. Não se trata de protocolos de gerenciamento da inovação, mas de quem cria os protocolos.
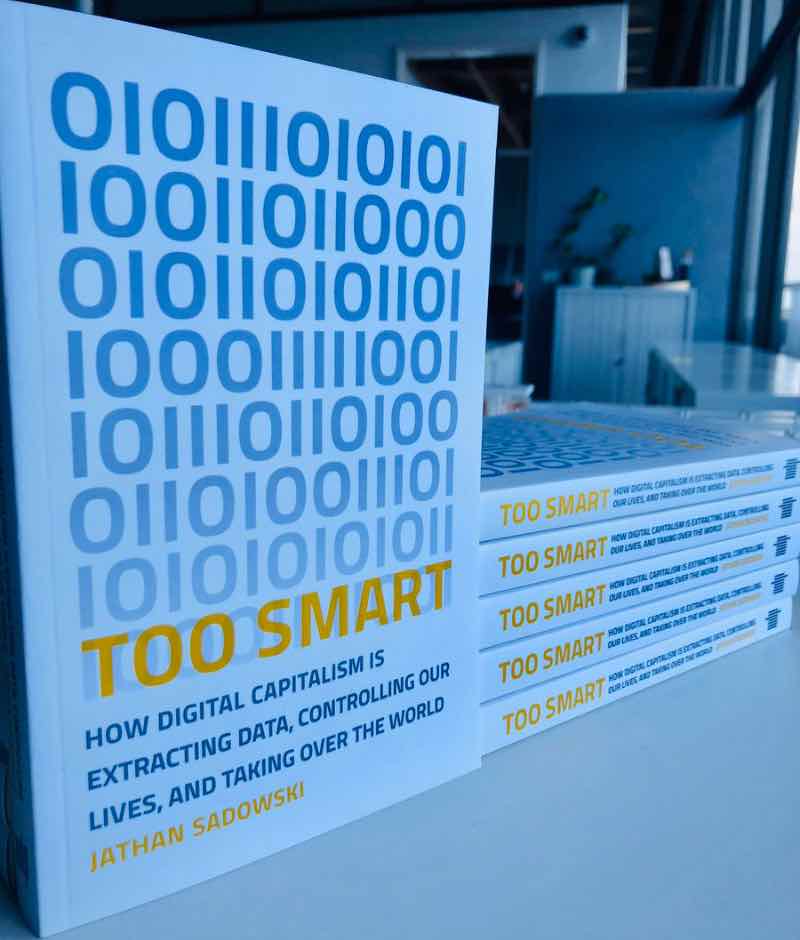
Livro de Jathan Sadowski, publicado no ano passado (Foto: Divulgação)
Esta disparidade de quem acaba incluído no processo de inovação não se limita a uma lacuna financeira. Estudos sobre quem recebe financiamento de capitalistas de aventura, por exemplo, mostram padrões significativos de discriminação de gênero e racial. Isso acontece não porque somente homens brancos têm ideias dignas de financiamento. Olhemos para as startups que são criadas e usam capital de aventura apenas para criar novas maneiras de expansão daquilo que a revista Harvard Business Review chama de “a internet das coisas que sua mãe não fará mais por você”.
A meritocracia, como a palavra é usada hoje, é um outro nome para referir as mesmas pessoas que fazem a mesma merda e que se parabenizam. Os capitalistas de aventura não têm varinhas mágicas para a inovação. Eles preferem deixar o seu dinheiro com pessoas que percebem como apostas seguras. Os padrões de investimentos tendem a evitar experimentos com ideias subversivas. Em vez disso, “a inovação inteligente parece mais um exercício de replicação via projetos de curto prazo e, financeiramente, avesso a riscos”.
Na busca pelo próximo “unicórnio” – ou empresas avaliadas em 1 bilhão de dólares –, os capitalistas de aventura tendem a seguir os “padrões” (isto é, copiar o sucesso dos outros) e ouvir suas “intuições” (em geral, preconceitos implícitos). Por exemplo, quando Mark Zuckerberg se apresentou como ex-aluno de Harvard usando um moletom encapuzado, de repente capitalistas de aventura passaram a investir em jovens com essa mesma aparência. A mão invisível da inovação está ocupada mantendo o status quo.
Há problemas mais importantes para resolver com tecnologias inteligentes, e há resultados mais benéficos a ganharmos com elas. Em vez de liberar o verdadeiro potencial das tecnologias inteligentes para a melhoria da sociedade, investem-se (ou melhor, gastam-se) quantidades indizíveis de dinheiro, tempo e energia na criação de sistemas que existem num espectro que vai desde extrativo e repressivo a irritante e fútil.
Merecemos coisa melhor do que a porcaria que o Vale do Silício atualmente se especializou em produzir. Quando digo “precisamos assumir o controle da inovação”, quero dizer que precisamos democratizar a inovação dando, a mais pessoas, mais poder para influir em como, por que e para que fim são criadas novas tecnologias. Isso significa não tratar a inovação como uma força mística unicamente acessada por uma elite, mas como um empreendimento humano que deve beneficiar a todos.
Em outras palavras, a democratização da inovação requer o empoderamento das pessoas afetadas pelo uso da tecnologia para que participem de sua criação, e nas decisões de como ela é usada, portanto incluindo um leque diverso de grupos que têm interesses, experiências e valores diferentes. Um projeto verdadeiramente participativo precisa ultrapassar as simples relações públicas de marca, como um engajamento público. Significa tratar as pessoas como mais do que meramente consumidoras em um mercado, mas como cidadãos com direitos de determinar os sistemas que moldam suas vidas.
Mas, como mencionei acima, precisamos rejeitar o mito individualista de como a inovação pode acontecer, e nos voltar a um investimento e benefícios sociais. Quase tudo o que associamos com a inovação – sejam os iPhones e a internet, sejam a biotecnologia de ponta e a nanotecnologia – contou com investimento governamental. Como a economista Mariana Mazzucato escreveu em seu livro O estado empreendedor, os governos desempenham um grande papel no financiamento de pesquisa e desenvolvimento que conduz à inovação. O problema é que o atual modelo socializa o risco e privatiza a recompensa: os governos gastam dinheiro público e suportam o risco, enquanto as empresas reivindicam propriedade e colhem os frutos.
IHU On-Line – Pode dar alguns exemplos?
Jathan Sadowski - Por exemplo, o Vale do Silício não existiria sem as descobertas e aplicações tecnocientíficas financiadas por agências governamentais, sem mencionar as enormes injeções de dinheiro e os acordos empresariais que originam empresas icônicas como SpaceX e Amazon. De fato, alguns destes empreendedores, como Elon Musk, são simplesmente grandes prestadores de serviços para o governo. Os executivos declaram que o governo é péssimo em escolher vencedores e perdedores, mas ficam felizes em sacar os cheques de investimentos públicos.
Em certo sentido eles estão corretos... atualmente o governo tem escolhido errado os vencedores, isto é, acionistas corporativos em vez de acionistas públicos. Deveríamos rejeitar esse modelo de inovação em forma de gotejamento. Não se trata de saber se o financiamento público pode apoiar a inovação – as evidências apontam para um enfático “Sim, isto já é feito” –, mas qual o tipo de inovação e quem deve beneficiar. O capital mantém um pulso firme quanto aos meios de inovação. Eles não irão afrouxar sem luta, sem combate. Há muito em jogo. Isso significa também que há muitos ganhos, para nós, com a democratização da inovação.
Há muito ainda o que fazer. Embora a escala dos problemas em jogo seja grande, ela não é intransponível. Consideremos a terceira lei de Isaac Newton: para cada ação há uma reação igual e oposta. Hoje conhecemos o escopo da reação coletiva exigida. Em vez de nos desanimar, devemos nos energizar. Esse escopo nos dá uma causa e uma direção. De fato, olhemos ao redor, no surgimento surpreendente de políticos progressistas e levantes coletivos que ocorrem no mundo, apesar – ou, talvez, por causa – do clima sociopolítico e ambiental que convida ao derrotismo. Podemos ver que um tipo de organização e solidariedade necessário já está sendo forjado.
As táticas que delineei, ou seja, a desconstrução do capital e a democratização da inovação, contribuem, a seu modo, para o objetivo de aproveitar a inteligência das coisas para as pessoas, para construir uma sociedade tecnológica melhor.