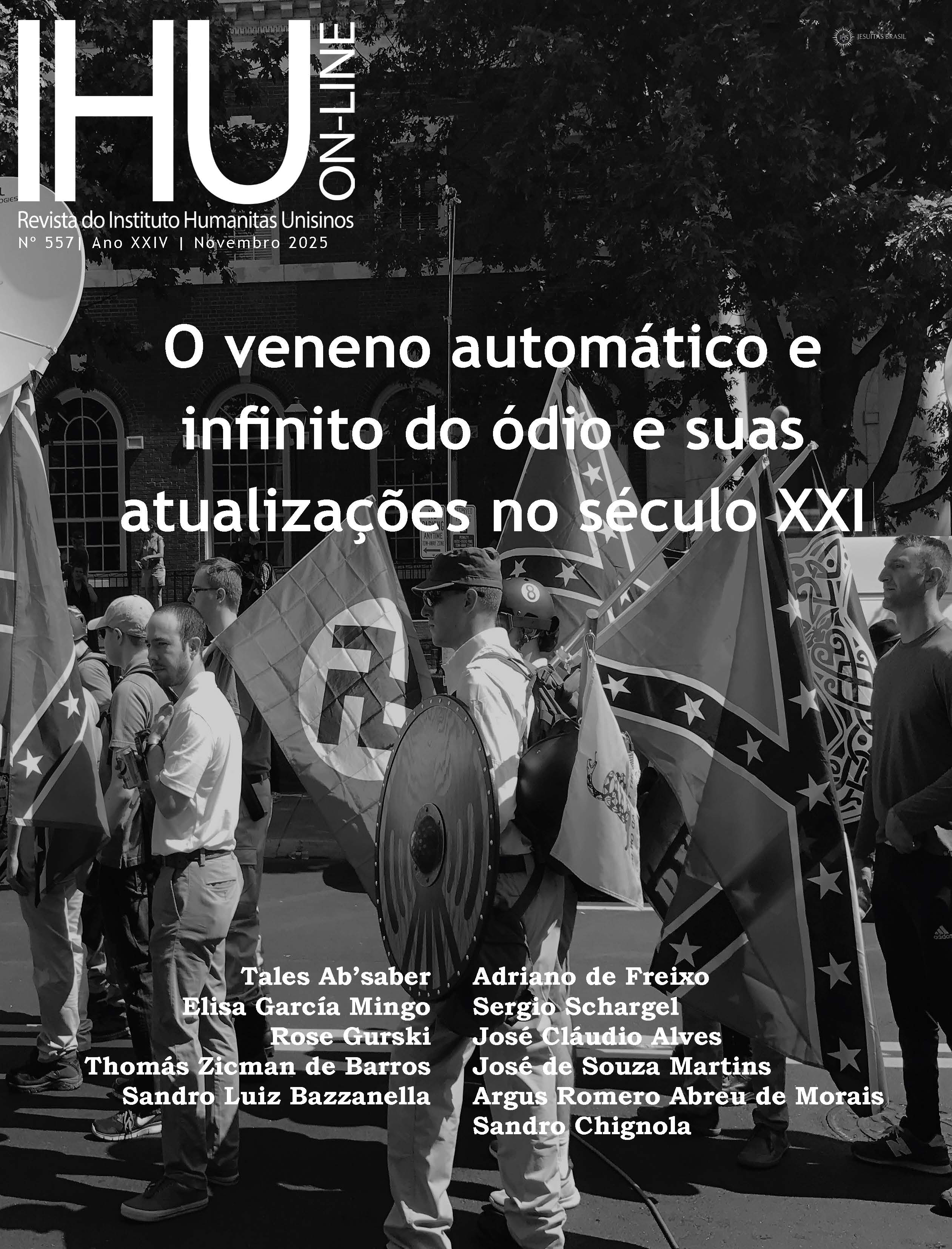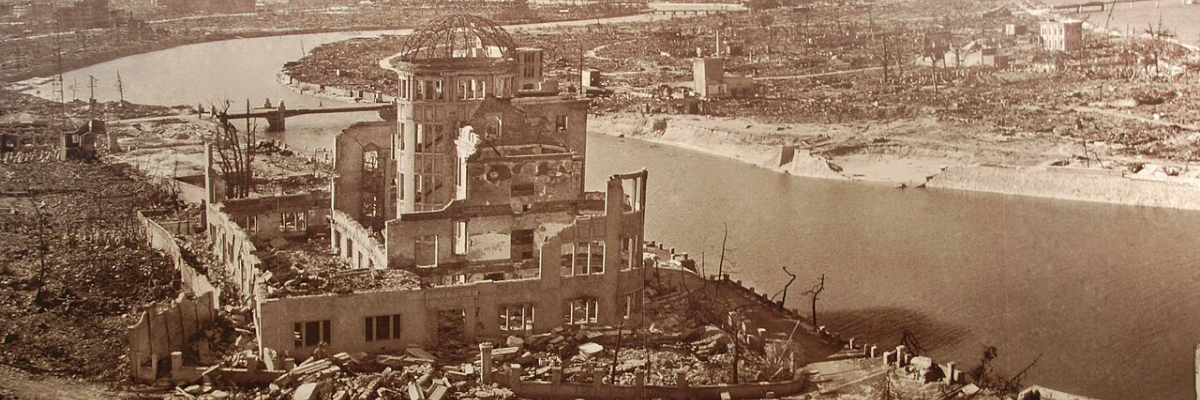24 Novembro 2025
Esqueçam as manchetes jurídicas e o ruído das sirenes em Brasília. O que aconteceu neste sábado (22 de Novembro de 2025) não foi apenas uma execução penal; foi o cumprimento de uma profecia muda, lavrada a milhares de quilômetros daqui, por um homem que já não respira.
Enquanto o país discute delações e mandados, o historiador Thiago Gama (UFRJ) puxa a cortina de veludo do Vaticano para revelar o verdadeiro Tribunal que condenou Jair Bolsonaro muito antes da Polícia Federal bater à sua porta. Este não é um texto sobre política apenas; é a autópsia de um cadáver moral que apodreceu à luz do dia, sob o olhar gélido de um Papa que preferiu morrer a validar a barbárie com um aperto de mão.
Descubra como o Non Expedit — uma arma teológica esquecida no século XIX — foi sacada do arsenal secreto de Roma para asfixiar o “Mito” sem disparar uma única palavra. Se você quer entender por que Francisco trancou a porta de São Pedro para o “Messias” tropical, este texto é uma tentativa de compreender a História a partir não do ponto final – a prisão, mas do começo – a Jornada Mundial da Juventude em 2013. É a história secreta de um duelo entre o Grito e o Silêncio. E o Silêncio, mesmo vindo de um túmulo, acabou de vencer a partir da Comunhão dos Santos.
O artigo é de Thiago Gama, doutorando em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ).
Eis o artigo.
24 de Novembro de 2025
O barulho das algemas fechando-se nos pulsos de Jair Messias Bolsonaro (1955), na manhã cinzenta deste sábado, 22 de novembro, não foi um estrondo – foi um suspiro. O suspiro exausto de uma República que passou a última década prendendo a respiração. Mas para quem sabe ouvir as frequências mais baixas da história – aquelas que vibram debaixo do asfalto e das manchetes –, o som foi outro. O que se ouviu, quando a Polícia Federal conduzia o ex-capitão para a viatura, foi o eco final de um silêncio decretado anos antes. O silêncio de um homem que morreu em abril passado: Jorge Mario Bergoglio (1936 – 2025), o Papa Francisco (2013 – 2025).
Para entender como chegamos a esta cela em Brasília, precisamos rebobinar o filme (como se dizia nos anos 1980/90). Precisamos voltar a um Brasil que parece ter existido em outro século, mas que estava logo ali, na esquina do tempo.
Era o final da era do “Lulismo”. O país vivia uma convulsão social silenciosa e, por isso mesmo, tectônica. Os aeroportos pareciam rodoviárias, a frase não é minha, é o lamento sussurrado em jantares de Higienópolis e do Leblon. O pobre, essa entidade que a elite brasileira tolerava enquanto permanecia na invisibilidade da estatística ou na subserviência do serviço doméstico, havia cometido a ousadia suprema: ele agora consumia. Ele viajava. Ele ocupava.
A ascensão da classe C não gerou apenas PIB; gerou ódio. Como o sociólogo Jessé Souza (1960) dissecou com precisão cirúrgica em A Elite do Atraso, o que vimos não foi apenas uma disputa econômica, mas uma crise de distinção. A classe média tradicional, imprensada entre a elite financeira inalcançável e a “ralé” que subia a escada rolante, sentiu o chão tremer. E o medo, sabemos desde Tucídides, é a parteira da violência. Havia uma aporofobia – o horror ao pobre – fermentando no caldeirão nacional, esperando alguém que tivesse a desfaçatez de tirar a tampa do que deveria estar no lixo da História, os mais de 350 anos de escravização que vigorou neste país, e ainda vigora, por outras vias.
Foi nesse vácuo de representação, nesse pântano de ressentimentos não ditos, que um deputado do baixo clero, uma figura folclórica que por décadas habitou os corredores mais irrelevantes do Congresso Nacional, começou a operar. Jair Bolsonaro não criou o ódio; ele o patenteou. Ele percebeu, com o instinto dos predadores de savana, que a civilidade era um fardo pesado demais para uma classe média assustada. Ele ofereceu a libertação pelo grotesco. Mas antes da noite cair, houve um último clarão. Um clarão tão forte que nos cegou para o abismo que se abria sob nossos pés.
Julho de 2013. O Brasil estava em chamas. As “Jornadas de Junho” haviam rasgado o véu da passividade. O cheiro de gás lacrimogêneo ainda impregnava a Avenida Rio Branco. E foi no meio desse cenário de guerra civil não declarada que ele aterrissou.
Francisco!
Ele não veio como um monarca. A imagem é indelével, cinematográfica, a antítese perfeita de tudo o que o Vaticano representou por séculos de pompa imperial. O Papa chega ao Rio de Janeiro não em uma limusine blindada, não sob a proteção de fuzis, mas num Fiat Idea prata. Um carro de família suburbana.
A cena na Avenida Presidente Vargas é o clímax de um filme que o Brasil não sabia que estava protagonizando. O motorista, perdido, erra o caminho. O carro entra na pista central, sem grades de proteção. A multidão, que dias antes queimava ônibus, percebe a falha. O cordão de isolamento rompe. O mar humano engole o pequenino carro.
Dentro do veículo, o Secretário de Estado do Vaticano devia estar hiperventilando, visualizando o regicídio ao vivo. Os seguranças da Polícia Federal socavam a lataria, gritando ordens que ninguém ouvia. Era o caos. Era o momento em que a história poderia ter virado tragédia.
E o que faz Francisco?
Ele não se encolhe. Ele não fecha a cortina. Com uma calma que beira a irresponsabilidade – ou a santidade absoluta –, ele gira a manivela. Ele abre o vidro. Aquele vidro aberto do Fiat Idea foi um dos maiores atos teológicos do século XXI.
O rosto que aparece na janela não tem medo. Tem um sorriso que ocupa toda a face, um sorriso de avô que reencontra os netos depois da guerra. A mão, com o anel do Pescador (agora de prata dourada, não de ouro maciço), estende-se para fora, tocando cabeças, braços, suor. A luz do inverno carioca bate na sotaina branca, que se amarrota na confusão. Vemos, por um segundo, a calça preta simples por baixo das vestes, os sapatos pretos ortopédicos, gastos. Não há Prada. Não há arminho. Há apenas um homem vulnerável que decidiu confiar na multidão.
Naquele momento, Francisco “afirmou” o Cristianismo diante do mundo. Ele disse, sem palavras: a segurança do dogma acabou; agora, vivemos o risco do encontro.
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013 foi o Magnificat do pontificado. Três milhões de pessoas na Praia de Copacabana. A chuva torrencial que transformou o “Campus Fidei” em Guaratiba num lamaçal bíblico forçou o evento para a orla, e a imagem daquela praia lotada, sob a chuva e o frio, cantando “Francisco, Francisco”, parecia ser a prova definitiva de que o Brasil era o país do futuro, o país da esperança, o país desse Papa que falava “portunhol” e pedia que os jovens fizessem “lío” (bagunça).
Nós olhamos para aquela praia e pensamos: “Vencemos”. Pensamos que a energia de Francisco, aquela teologia do abraço, da misericórdia, da “Igreja em saída”, era o novo espírito do tempo. Estávamos, tragicamente, enganados.
Enquanto Francisco celebrava a missa de encerramento, com o mar cinza de Copacabana ao fundo, um outro Brasil, surdo àquela liturgia da ternura, afiava as facas. Enquanto o Papa pedia acolhimento aos pobres, os algoritmos das redes sociais, ainda em sua infância tóxica, começavam a bombear a narrativa de que o pobre era o inimigo, de que os direitos humanos eram “esterco da vagabundagem”, de que a solução não era a Cruz, mas a Espada.
O Fiat Idea de vidro aberto partiu. E abandonou um país onde a janela estava prestes a ser fechada, blindada e insulfilmada para sempre. O aggiornamento (a atualização) de Francisco colidiu no ar com o ressentimento arcaico que Bolsonaro capitalizava. Ninguém sabia, nem Francisco, nem nós, mas ali, naquele julho de 2013, o relógio começou a contagem regressiva para o confronto final. O Papa voltou para Roma crente de que deixara um rebanho avivado. Mal sabia ele que os lobos não apenas cercavam o aprisco; eles já estavam vestindo as roupas do pastor. O sol se pôs em Copacabana. E a longa noite brasileira estava apenas começando.
O Domingo do Abismo e a Liturgia do Grotesco
Cortemos para 17 de abril de 2016.
Se 2013 foi a erupção do vulcão, 2016 foi o dia em que a lava cobriu a Pompéia da nossa civilidade. A Câmara dos Deputados, projetada por Oscar Niemeyer (1907–2012) para ser o prato onde se serve a democracia, transformou-se, naquele domingo fatídico, num circo de horrores transmitido em rede nacional. Quem assistiu àquela votação do impeachment de Dilma Rousseff (1947) não viu um parlamento. Viu um exorcismo às avessas. Deputados, enrolados em bandeiras que não eram as suas – a bandeira de Israel tremulava ao lado da brasileira numa simbiose teológica bizarra –, subiam ao microfone não para debater crimes de responsabilidade ou pedaladas fiscais. Subiam para mandar beijos para a tia, para a neta que ia nascer, para o corretor de seguros. E, invariavelmente, terminavam evocando o nome de Deus.
Era o “Deus” do Antigo Testamento lido por um fundamentalista deprimido. Um Deus tribal, vingativo, convocado para legitimar a destituição de uma presidente eleita. Mas o clímax daquele ópera bufa, o momento em que a história brasileira sofreu uma fratura exposta que levaria uma década para calcificar, durou menos de trinta segundos.
Jair Bolsonaro, então um deputado do baixo clero que a elite intelectual insistia em tratar como uma piada de mau gosto, caminhou até o microfone. A atmosfera mudou. Ele não invocou a Deus, nem a família, nem a propriedade. Ele invocou o porão:
— “Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff...”
Naquele instante, o ar saiu da sala. Não foi apenas um ataque a uma mulher que fora torturada. Foi uma elegia à tortura como instrumento de saneamento político. Bolsonaro não elogiou Ustra (1932 – 2015) apesar de ele ser um torturador; ele o elogiou porque ele era um torturador. Ele disse ao Brasil: “A dor dela é a minha alegria. O sofrimento do outro é a minha plataforma política”. Foi o momento em que a barbárie deixou de ser um sussurro nos quartéis e assumiu a tribuna, sob os holofotes, aplaudida por uma multidão vestida de verde e amarelo na Esplanada.
Agora, peço licença para quebrar a “quarta parede” e exercer a prerrogativa da imaginação histórica – essa ferramenta que preenche os vazios que os documentos oficiais não ousam registrar. Imaginem a segunda-feira seguinte, 18 de abril, no Vaticano.
O Papa Francisco está em seu escritório na Casa Santa Marta. A luz romana da primavera entra pela janela, mas o clima lá dentro é de inverno nuclear. Sobre a mesa, o Corriere della Sera e o L'Osservatore Romano. Mas o que pesa mesmo não é o papel jornalístico; são os relatórios criptografados que chegam da Nunciatura Apostólica em Brasília. O Núncio, Dom Giovanni d’Aniello (1955), um diplomata de carreira acostumado a lidar com crises, deve ter tido dificuldade para encontrar adjetivos em seu despacho. Como explicar ao sucessor de Pedro que, no maior país católico do mundo, o nome de Cristo foi usado para santificar a memória de um homem que introduzia ratos em mulheres presas ilegalmente em nome de um regime putrefato?
Francisco lê. O homem que, quando jovem provincial jesuíta na Argentina, viu seus padres serem sequestrados pela ditadura militar (1976–1983), conhece aquele cheiro. Ele sabe diferenciar a disputa política legítima do cheiro de enxofre da necropolítica. Podemos visualizar Francisco tirando os óculos, esfregando os olhos cansados. Ele não vê apenas uma manobra parlamentar questionável ou um “golpe branco”, como a esquerda denunciava. Ele vê algo pior. Ele vê uma heresia antropológica.
O telefone toca. Cardeais brasileiros, bispos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), velhos amigos da teologia latino-americana ligam desesperados. “Santo Padre, eles sequestraram a cruz”. O discernimento inaciano – essa prática jesuíta de separar a voz de Deus dos ecos do ego e do “mau espírito” – entra em ação. Francisco percebe que o Brasil entrou em um transe. Que aquele país que ele abençoou em 2013, que parecia promissor, havia sido capturado por uma “espiritualidade da morte”.
Ali, naquele escritório silencioso, enquanto o Brasil ainda ressacava do domingo de fúria, a decisão começou a tomar forma. A promessa de voltar em 2017 para os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, feita com tanta alegria dois anos antes, começou a evaporar. Como ele poderia ir?
Se ele pisasse no Brasil naquele momento, sua presença seria canibalizada. Se sorrisse para Michel Temer (1940), legitimaria o processo viciado. Se criticasse, seria acusado de comunista. Mas o pior: se ele fosse, ele estaria pisando no mesmo solo onde um torturador acabara de ser elevado à categoria de santo cívico. Francisco olhou para o mapa da América Latina na parede. O Brasil, aquele gigante verde, parecia agora uma mancha cinza.
O Non Expedit estava sendo gestado. Não como um decreto vingativo, mas como um ato de higiene espiritual. Francisco entendeu, com uma clareza dolorosa, que para salvar a autoridade moral da Igreja no Brasil, ele precisava retirar a Igreja – na pessoa do Papa – de cena. Ele precisava impor um jejum eucarístico-político a uma nação que acabara de comungar com o ódio.
O Papa se levantou. Foi até a pequena capela privada. Rezou. Não pelo governo, não pela oposição. Rezou pela alma do Brasil, que ele, profeticamente, sentia que estava entrando numa noite escura da qual não sairia tão cedo. E sussurrou para si mesmo, e talvez para a Virgem de Aparecida: “Não posso ir. Não enquanto eles confundirem o Messias com o torturador.” O silêncio de Roma começava ali. E o barulho em Brasília estava apenas esquentando as turbinas.
O Surfista do Apocalipse e o Laboratório do Fim do Mundo
Os dois anos que separaram o impeachment da eleição de 2018 não foram tempo cronológico; foram tempo de incubação. O Brasil, sem saber, havia se tornado o laboratório a céu aberto mais sofisticado do mundo para uma nova tecnologia de poder. Enquanto os analistas políticos tradicionais ainda tentavam ler o cenário com as lentes empoeiradas da ciência política do século XX – falando em “tempo de TV”, “coalizões partidárias” e “cabo eleitoral” –, algo invisível e radioativo estava sendo bombeado para os smartphones de 200 milhões de brasileiros.
A autora Shoshana Zuboff (1951), em sua obra seminal A Era do Capitalismo de Vigilância, descreve como a experiência humana se tornou matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas. Mas no Brasil de 2018, essa lógica comercial foi militarizada. O que vimos foi o behavioral modification (modificação comportamental) aplicado não para vender tênis, mas para vender ódio.
O Brasil virou uma placa de Petri. O “Gabinete do Ódio” não era apenas uma sala com computadores; era uma catedral algorítmica. Mentiras industriais – a tal “mamadeira...”, o “kit gay” – não visavam convencer o córtex pré-frontal (a parte racional do cérebro). Visavam sequestrar a amígdala (o centro do medo). Eles hackearam a alma brasileira. E então, a noite de 28 de outubro de 2018.
Se Francisco chorou de esperança em Copacabana em 2013, naquela noite, na Barra da Tijuca, o choro foi de outra natureza. A cena da vitória de Jair Bolsonaro é o avesso estético e teológico de tudo o que o Vaticano construiu em dois milênios de liturgia. Esqueçam os balcões de mármore, os discursos escritos por intelectuais, a solenidade do Estado. A transmissão é feita de uma casa num condomínio fechado, com uma iluminação de neon ruim, uma internet instável e uma estética de improviso que gritava “eu sou um de vocês”.
Sobre uma mesa bamba, a trindade do novo regime: a Constituição Federal, uma biografia de Winston Churchill (1874–1965) – que o agora mandatário, com uma boa dose de certeza, jamais lera, e a Bíblia Sagrada (também ela lida como se fosse composta de pequenos twitts). E, compondo esse retábulo do absurdo, a imagem que você, leitor, jamais esquecerá: uma prancha de surfe servindo como altar ou púlpito improvisado.
O cenário compunha uma heresia materializada. A Bíblia, o texto sagrado que narra a kenosis (o esvaziamento) de Deus, usada como peso de papel para segurar um projeto de poder autoritário, ao lado de um objeto de lazer praiano. O “Deus acima de todos” era proclamado entre goles de água em copo de plástico e uma prancha de surfe ao fundo. Não era solene; era grotesco. Mas era um grotesco potente. Era o triunfo da banalidade.
Em Roma, o Papa Francisco devia olhar para aquelas imagens com o estômago revirado. Para um jesuíta formado na escola da “contemplação na ação”, aquilo não era apenas mau gosto, era idolatria. O uso do nome de Deus para legitimar a posse de armas (o gesto de “arminha” feito logo após a oração) é a violação direta do Segundo Mandamento: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão”.
Naquele momento, o Non Expedit deixou de ser uma hipótese diplomática e tornou-se uma certeza teológica. O Non Expedit redivivus. Francisco percebeu que a viagem a Aparecida – prometida com tanto afeto – era impossível. Como ele poderia ir ao Santuário Nacional, a casa da Mãe negra encontrada no rio, quando o país estava sendo governado por alguém que transformava a fé numa arma de guerra cultural?
Caso o Papa pisasse no Brasil, ele seria obrigado a apertar a mão daquele homem. E aquela foto – Francisco e o Surfista do Apocalipse – seria usada infinitamente nas redes sociais para dizer: “Vejam, o Papa abençoa o nosso projeto”. Francisco recusou-se a ser o coroinha da barbárie.
A decisão de não vir em 2017 para o Jubileu dos 300 anos já fora dolorosa. Mas a manutenção desse gelo durante todo o mandato de Bolsonaro (2019 – 2022) foi um martírio silencioso. Francisco amava o Brasil. Ele sabia que o povo simples, as “Dona Marias” que rezavam o terço, não tinham culpa da loucura que tomara o Planalto, mas ele sabia também, com a frieza de um estadista que pensa em séculos e não em mandatos, que a Igreja não poderia flertar com aquele abismo. O “Não” a Bolsonaro foi o ato de amor mais duro que ele poderia nos dar. Ele nos deixou órfãos de sua presença para não nos tornar cúmplices de sua bênção ao tirano.
O laboratório brasileiro havia produzido seu monstro. E o Papa, do outro lado do Atlântico, trancou as portas da Basílica de São Pedro para que o monstro não entrasse. O cenário estava montado para a guerra. De um lado, o gabinete do ódio e seus algoritmos de destruição em massa. Do outro, um velho de branco, armado apenas com o silêncio e uma recusa obstinada. A batalha pela alma do Brasil havia começado.
Cortemos para 27 de março de 2020.
A Statio Orbis. A Praça de São Pedro está vazia, lavada por uma chuva fria e incessante. Não havia multidão, não havia guardas, não havia protocolo. Havia apenas um velho manco subindo a rampa. Francisco parecia carregar o peso físico do planeta nas costas. Ele ofegava, o seu meio-pulmão trabalhava por sete bilhões de pessoas.
Naquele entardecer, Francisco não ofereceu dogmas; ofereceu presença. “Damo-nos conta de que estamos no mesmo barco, todos frágeis e desorientados...”, disse ele, com a voz embargada pela chuva e pela falta de ar. Ele abraçou a vulnerabilidade humana. Ele fez do seu corpo frágil um sacramento de solidariedade. Enquanto Roma chorava em silêncio, Brasília gargalhava.
Não é retórica. É registro histórico. Enquanto Manaus começava a desenhar o cenário do que seria o maior colapso sanitário e humanitário da história recente do Brasil – pessoas morrendo afogadas no seco, sem oxigênio, em janeiro de 2021 –, o Presidente da República imitava, em uma live semanal, a falta de ar de um paciente. A cena é de uma crueldade que desafia a análise política e exige a psicanálise ou a demonologia. Um chefe de Estado, diante da asfixia de seu povo, não organiza a logística do oxigênio; ele performa a agonia. Ele transforma o estertor da morte em piada de bar.
Achille Mbembe (1957), filósofo camaronês, define a “Necropolítica” como o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Mas Bolsonaro foi além. Ele inaugurou a “Necroliturgia”. O escárnio tornou-se rito de governo. Francisco, de Roma, assistia a tudo. O Papa que escreveu a Laudato Si’, defendendo que tudo está interligado, viu a Amazônia – o “pulmão do mundo” (um clichê potente) – morrer por falta de ar em cilindros. A ironia macabra não lhe escapou, a região que produz o oxigênio do planeta via seus filhos morrerem roxos, asfixiados na porta dos hospitais, enquanto o governo federal discutia tratamento precoce e imunidade de rebanho.
O Non Expedit de Francisco aqui ganhou uma dimensão pneumatológica. Na teologia, o Espírito Santo é Ruah, o sopro, o ar. Negar o ar a quem morre, ou zombar de quem sufoca, é o pecado imperdoável contra o Espírito. Francisco percebeu que não havia ponte possível com um governo que zombava da respiração. Como ele poderia dialogar com alguém que dizia “não sou coveiro”? Francisco, pastoralmente, era um coveiro. Ele enterrou padres, amigos, fiéis. A Igreja é, em última instância, uma especialista em acompanhar a morte com dignidade. Bolsonaro propunha a morte sem luto, a morte como estatística descartável (“e daí?”).
A imagem do Papa sozinho na praça, respirando com dificuldade, mas sustentando a esperança, versus a imagem do Presidente sem máscara, aglomerando e tossindo propositalmente em apoiadores, selou o destino diplomático. O Vaticano enviou respiradores para o Brasil. Enviou ajuda silenciosa para as dioceses da Amazônia. Mas não enviou legitimação política. A nunciatura tornou-se um hospital de campanha diplomático, operando nas sombras para mitigar o desastre, enquanto mantinha as portas do Palácio Apostólico trancadas para o autor da tragédia.
Entre o cilindro de oxigênio vazio em Manaus e o pulmão operado do Papa em Roma, abriu-se um abismo moral que nenhuma eleição, nenhuma nota de repúdio e nenhuma desculpa posterior poderia fechar. O Non Expedit estava escrito não em papel, mas em cicatrizes pulmonares.
O Último Suspiro e a Profecia de Abril: A Vitória da Fraqueza
A história tem um senso de humor macabro, mas também tem uma justiça poética implacável.
21 de abril de 2025.
O mundo acordou com a notícia que temia há uma década. O sino da Basílica de São Pedro dobrou com aquele som cavo, pesado, que anuncia a orfandade de 1,3 bilhão de almas. Jorge Mario Bergoglio (1936 – 2025), o homem que veio do fim do mundo, havia partido. Sua morte não foi um evento súbito. Foi um apagamento lento, como uma vela que se consome até a última gota de cera para iluminar um quarto escuro. Francisco morreu “gastado” pelas viagens que seus joelhos não aguentavam mais, pelas brigas internas com uma Cúria Romana que nunca engoliu seu estilo de pároco de periferia, pela dor de ver o mundo se rearmar. Mas, curiosamente, ele morreu vitorioso.
No Brasil, a notícia de sua morte gerou uma comoção que atravessou as barreiras ideológicas. Até seus detratores tiveram que silenciar diante da magnitude daquele funeral. Luiz Inácio Lula da Silva (1945), agora em seu terceiro mandato, decretou luto oficial de sete dias. Não foi um decreto protocolar, foi um ato de gratidão pessoal e política. Lula sabia, e o mundo sabia, que sem a luta silenciosa do Papa, a história poderia ter sido outra.
Bolsonaro, isolado em sua irrelevância crescente, emitiu uma nota fria, burocrática. Ele tentou ignorar o gigante que partira, mas o gigante o esmagava com sua ausência. A morte de Francisco ocupou todas as manchetes, empurrando as narrativas da extrema-direita para o rodapé da história. Mesmo morto, Francisco continuava a aplicar o Non Expedit. Sua memória ocupava todo o espaço, não deixando oxigênio para o ressentimento.
A imagem final de seu pontificado, para nós brasileiros, é a daquele velho acenando de longe. Ele nunca pisou aqui como Papa depois de 2013. Ele nos negou a visita para nos dar a lição. A morte dele em abril funcionou como um selo de autenticidade. Francisco não negociou. Ele não fez a “foto da conciliação” com o bolsonarismo para garantir privilégios fiscais para a Igreja. Ele preferiu morrer sem voltar ao país com mais católicos do mundo do que voltar para apertar a mão de quem odiava o Evangelho que ele pregava.
Hoje, olhando em retrospecto, vemos que aquela morte em abril foi o prelúdio do que aconteceria em novembro. Francisco saiu de cena para que a história pudesse fazer seu trabalho sem interferências místicas. Ele nos deixou órfãos, sim, mas nos deixou adultos. Ele nos disse: “Eu segurei a mão de vocês no abismo; agora, caminhem sozinhos”. E caminhamos. Caminhamos até este sábado de novembro.
Quando o caixão de cipreste simples foi descido à cripta vaticana, sob os olhares marejados de líderes mundiais, uma era se encerrou. A era do “Papa Pop”, do “Papa dos Pobres”, do “Papa Verde”. Mas para o Brasil, encerrou-se a era do Papa que nos amou o suficiente para nos dizer “não”.
Francisco morreu acreditando na justiça. Não na justiça dos tribunais, que falha e tarda, mas na justiça do tempo. Ele sabia que os tiranos passam, que os mitos derretem e que, no final, o que resta é a carne humana, frágil e necessitada de misericórdia. Ele partiu em paz. E deixou o Brasil com a tarefa de limpar suas próprias feridas.
A prisão de Bolsonaro, sete meses depois, soa como o Amém final de uma oração que Francisco começou a rezar em 2018. Uma oração de libertação. O exorcismo foi longo, doloroso e deixou cicatrizes. Mas o demônio do ódio foi, finalmente, enjaulado. E em algum lugar, na comunhão dos santos, o velho jesuíta deve estar sorrindo, tomando seu mate, e sussurrando: “Eu avisei”.
O Ite Missa Est da Barbárie e a Última Lição de Pedro
A história, diferente da matemática, não fecha equações; ela fecha ciclos. E o ciclo que se encerrou com o clique das algemas em Brasília, neste novembro de 2025, começou a ser desenhado no último suspiro de Jorge Mario Bergoglio (1936 – 2025) em abril.
Ao contemplarmos para a década perdida do Brasil (2015 – 2025), vemos que a resistência mais eficaz ao projeto autoritário não veio dos partidos, que vacilaram; não veio da imprensa, que muitas vezes normalizou o inaceitável em nome de uma falsa simetria; e não veio das instituições, que demoraram a reagir. A resistência mais dura veio do silêncio de um velho doente em Roma. O Non Expedit de Francisco foi a mais alta política travestida de ausência pastoral.
Ele entendeu, com a intuição mística dos jesuítas, que há momentos em que a única maneira de estar presente é não estar. Se ele tivesse vindo, se tivesse sorrido, se tivesse abençoado, ele teria diluído o mal. Ao se ausentar, ele concentrou o contraste. Ele deixou Bolsonaro sozinho no palco, sem o anteparo sagrado, nu em sua própria vilania.
Agora, Leão XIV assume a Cátedra. O novo Papa, cujo nome evoca a força da Doutrina Social, herda um continente que sobreviveu à febre. A prisão de Bolsonaro funciona como o levantamento do interdito. O Brasil volta a ser “visitável”. Não porque os problemas acabaram – a fome persiste, a desigualdade morde –, mas porque a heresia política foi desalojada do poder.
A lição final que Francisco nos deixa, gravada agora na pedra fria de seu túmulo e nas grades quentes da Papuda, é que a fé não pode ser sequestrada impunemente. O “surfista do apocalipse”, com sua Bíblia na prancha, tentou surfar na onda do ressentimento divino. Acabou afogado pela ressaca da realidade. Francisco morreu como a semente que cai na terra. Ele precisou “desaparecer” para que a verdade germinasse. E germinou. O Brasil que assiste à prisão de seu antigo algoz é um país machucado, cínico, cansado, mas é um país que respira. Aquele ar que faltou em Manaus, agora circula nos pulmões da República.
Leão XIV recebe o báculo em um mundo onde a extrema-direita perdeu seu “Messias” tropical. O Non Expedit acabou. A missa da barbárie terminou. Podem ir em paz – ou, no caso de alguns, podem ir depor (sem paz). A história, afinal, é a única que tem a última palavra. E ela falou com o sotaque de um Papa portenho.
Referências
BOLSONARO, Jair Messias. Discurso de votação do Impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Câmara dos Deputados, Brasília, 17 abr. 2016. Transmissão da TV Câmara.
______. Pronunciamento após vitória eleitoral. Rio de Janeiro, 28 out. 2018. Transmissão via Facebook Live.
BRANDES, Dom Orlando. Homilia na Solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Santuário Nacional de Aparecida, 12 out. 2022.
FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre a fraternidade e a amizade social. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.
______. Carta Encíclica Laudato Si’: sobre o cuidado da casa comum. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
______. Discurso na Cerimônia de Boas-vindas da JMJ Rio 2013. Palácio Guanabara, Rio de Janeiro, 22 jul. 2013.
______. Momento extraordinário de oração em tempos de epidemia (Statio Orbis). Praça de São Pedro, Vaticano, 27 mar. 2020.
LULA DA SILVA, Luiz Inácio. Encontro com o Papa Francisco. Vaticano, 13 fev. 2020. Registro fotográfico oficial (L'Osservatore Romano).
PIO IX, Papa. Decreto Non Expedit. Santa Sé, Roma, 1868.
Bibliografia:
ARENDT, Hannah (1906–1975). As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
BOFF, Leonardo (1938–). A Igreja, o Papa e o mundo. Petrópolis: Vozes, 2016.
GIRARD, René (1923–2015). A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 1990.
MBEMBE, Achille (1957–). Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
METZ, Johann Baptist (1928–2019). Fé em história e sociedade: estudos sobre uma teologia política prática. São Paulo: Paulinas, 1980.
SOUZA, Jessé (1960–). A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
ZUBOFF, Shoshana (1951–). A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano numa nova fronteira de poder. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.
Leia mais
- STF e a rota terminal do caso Bolsonaro. Artigo de Marcelo Aith
- Atos pela prisão de Bolsonaro evitam estimar público e turbinam pautas para mobilizar adesão
- Esquerda organiza mobilização pela democracia e por prisão de Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro sugeriu que os Estados Unidos bombardeassem barcos no Brasil
- Antonio Patriota, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil: "Os eleitores não tolerarão um presidente que perdoe Bolsonaro"
- "Bolsonaro fez um grande elogio à ditadura. Tentou apagar a máquina de morte produzida pela ditadura". Entrevista com Lilia Schwarcz
- A queda de Bolsonaro. Artigo de Forrest Hylton
- O caso Bolsonaro: a nós cabe a justiça, a Deus a vingança. Artigo de Leonardo Boff
- Centrão fecha acordo sigiloso com ministros do STF que rejeita anistia ampla mas garante domiciliar a Bolsonaro, afirma Folha
- E depois de condenar Bolsonaro? Artigo de Antonio Martins
- Junho de 2013: se antes o ‘gigante acordou’, agora, segue buscando compreender a insônia. Entrevista especial com Bruno Cava
- A confiança e a felicidade do brasileiro: religião, política e Junho de 2013 nas emoções nacionais. Artigo de Christina Vital da Cunha
- Junho de 2013: rio revolto e incompreendido. Artigo de Roberto Andrés
- Os ecos de junho de 2013
- Junho de 2013. Dez anos depois a questão urbana ainda não é prioridade de governo. Entrevista especial com Roberto Andrés
- “Erradicação das causas estruturais da pobreza” A Exortação do Papa Leão XIV sobre o amor aos pobres. Artigo de Francisco de Aquino Júnior
- "Dos mais vulneráveis, Deus conserva memória". Artigo do Papa Francisco
- Inspirado em ideias do Papa Francisco, encontro em PE discute novos modelos de economia e sociedade