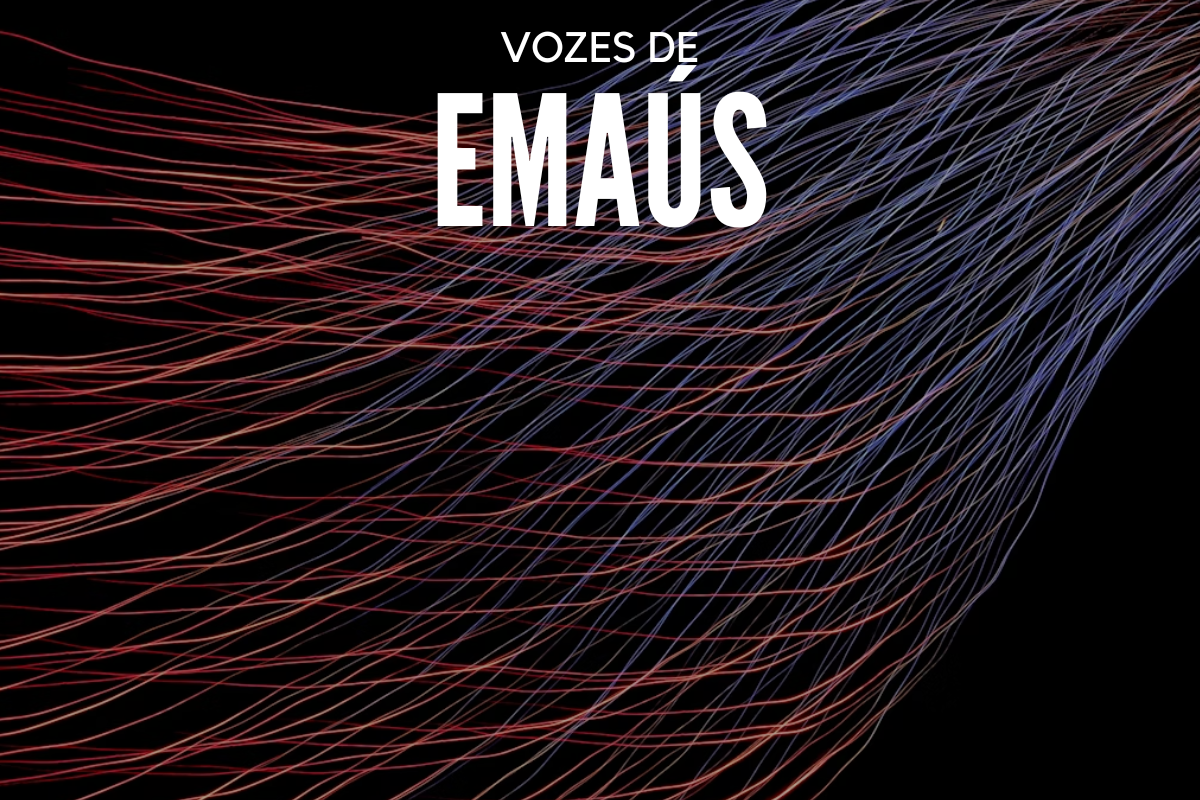28 Setembro 2024
"Pôr fim à guerra em Gaza, o que também acabaria com a atual rodada de enfrentamento entre Israel e o Hezbollah, está nas mãos de Netanyahu. Há uma oferta crível do Hamas para acabar com a guerra em três semanas e devolver os reféns israelenses em troca de uma retirada israelense de Gaza e uma troca de prisioneiros que Netanyahu não parece contemplar", escreve Ezequiel Kopel, jornalista, pesquisador e autor dos livros Oriente Médio: lugar comum (Capital Intelectual, 2021) e A disputa pelo controle do Oriente Médio (Capital Intelectual, 2022), em artigo publicado por Nueva Sociedad, 26-09-2024.
Eis o artigo.
O país dos cedros é há anos um terreno de enfrentamento que tem como pano de fundo o conflito palestino. Os sabotagens israelenses aos aparelhos de comunicação do Hezbollah e o assassinato de seus líderes militares, junto com os ataques da milícia pró-iraniana ao norte de Israel, podem fazer com que o conflito escale novamente. Um acordo em Gaza, que poderia reduzir a tensão, ainda não aparece no horizonte.
Na semana passada, Israel intensificou seu conflito com as milícias do Hezbollah, primeiro mutilando centenas de membros do grupo xiita libanês com o sabotagem de sua rede de comunicações e depois matando dois importantes comandantes da organização em Beirute. As ações israelenses começaram com a explosão de milhares de bipes e walkie-talkies que a organização libanesa usa para se comunicar, uma vez que seus telefones celulares estão grampeados por Israel. Os bipes explodiram, então membros do grupo receberam a ordem de usar walkie-talkies, mas como mais tarde esses aparelhos também explodiram em cadeia, a alta cúpula do Hezbollah decidiu organizar reuniões presenciais, o que normalmente não faz por motivos de segurança. Assim, Israel voltou a atacar, matando toda a cadeia de comando das forças especiais Radwan, corpo de elite militar da organização.
Independentemente do erro de marcar uma reunião depois que uma grande quantidade de membros do Hezbollah foi descoberta ao sair à superfície para ser atendida em hospitais quando seus aparelhos de comunicação explodiram, ficou evidente que a penetração da inteligência israelense sobre a organização (e também sobre seu padrinho iraniano, como ficou claro com o assassinato do líder do Hamas Ismail Haniyeh em Teerã há dois meses) é muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E essas operações foram complementadas com ataques generalizados israelenses em diferentes partes do Líbano (com mais de 500 mortos em apenas dois dias) e com a decisão do Hezbollah de ampliar a zona que vem bombardeando em Israel desde 8 de outubro passado, quando começou a lançar foguetes contra o norte israelense como uma ação de solidariedade pelo sequestro e massacre de israelenses perpetrados pela organização palestina Hamas no sul de Israel, em uma ação espelhada de um plano que o Hezbollah tinha para conquistar por várias horas a Galileia israelense.
A eliminação da totalidade da cúpula militar do Hezbollah representa um feito superlativo para Israel e uma perda impressionante para a organização libanesa e para o Irã (a própria Guarda Revolucionária iraniana ordenou a todos os seus membros que deixem de usar qualquer tipo de dispositivo de comunicação sem antes revisá-los). No entanto, a frustração de Israel com o Hezbollah continua, pois o grupo xiita foi e é capaz de fazer o que muitos inimigos do Estado judeu não conseguiram realizar por um extenso período: transformar a parte norte de Israel em cidades fantasmas, com centenas de milhares de habitantes evacuados sem poder voltar para suas casas. Mas, para uma análise correta da situação atual, devemos lembrar como a “guerra sem nome” (como é conhecida em Israel) vem se desenvolvendo sem pausa há décadas.
Tudo tem um começo
Há 40 anos, em 03-06-1982, militantes palestinos tentaram assassinar o embaixador de Israel na Grã-Bretanha, Shlomo Argov, que ficou gravemente ferido. Israel respondeu um dia depois com um intenso bombardeio dos postos de comando da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) no Líbano, embora o ataque tenha sido perpetrado por membros da organização Abu Nidal, que se opunha ao então líder da OLP, Yasser Arafat. Os bombardeios israelenses puseram fim a dez meses de tranquilidade na fronteira norte, que havia sido alcançada com a mediação dos EUA em julho de 1981, e ofereceram ao ministro da Defesa, Ariel Sharon, uma oportunidade para colocar em prática um grande plano de redesenho regional: expulsar a OLP do Líbano, que desde 1975 estava envolto em uma guerra civil, e estabelecer ali um governo favorável a Israel dirigido pelos cristãos maronitas. A invasão do Líbano marcou o início da primeira Guerra do Líbano, mas Israel ficou preso na nação dos cedros por nada menos que 18 anos – estabelecendo uma cruel ocupação militar no sul do país – até a saída das últimas de suas forças militares em maio de 2000 por iniciativa do primeiro-ministro Ehud Barak.
Em 1982, como chefe da Direção de Planejamento do Exército israelense, Barak havia escrito um documento interno no qual explicava que a invasão tinha como objetivo “uma mudança duradoura na estrutura do regime do Líbano”. A ideia na época parecia simples, pois o Líbano carecia de uma liderança nacional – sua liderança estava dividida entre os diferentes grupos confessionais e políticos – não possuía um exército unificado e estava mergulhado em uma profunda violência sectária que incluía a OLP e os refugiados palestinos. Trata-se de um país que contém diversas minorias religiosas, como a xiita, a drusa, a sunita e a alauíta, junto com outras denominações cristãs, o que dificulta seu governo. Foi nesse contexto que o Hezbollah emergiu como uma resposta à invasão israelense, mas também como uma oportunidade para a recentemente estabelecida República Islâmica do Irã de transformar o Líbano – e, especialmente, sua relegada comunidade xiita local – na ponta de lança de sua revolução islâmica regional. Em agosto de 1981, Ali Akbar Mokhtashmi, um homem próximo ao aiatolá Ruhollah Khomeini, foi nomeado embaixador do Irã na Síria. Sua principal tarefa era estabelecer um movimento islâmico xiita no Líbano que fosse leal a Khomeini, pois a outra organização que pretendia representar os xiitas libaneses, o Movimento Amal, respondia em maior medida a uma liderança local encarnada no clérigo Musa al Sadr do que aos desígnios regionais ditados de Teerã.
Se a primeira ideia do Irã foi que a força militar do Hezbollah se ocupasse da resistência a Israel no Líbano e, posteriormente, a partir de 1985, na zona de segurança em que se estabeleceu o Exército israelense no sul do país, a segunda missão foi estabelecer uma estrutura civil de apoio na comunidade xiita que complementasse as necessidades dos membros do grupo combatente (centros educacionais independentes, hospitais, supermercados e até caixas eletrônicos para driblar o sistema bancário libanês, etc.). Tudo isso, subordinado ao dinheiro enviado pela Guarda Revolucionária iraniana para sustentar seu investimento e projeto.
Depois de ganhar legitimidade local ao lutar contra a ocupação israelense, o Hezbollah (encabeçado desde 1992 pelo clérigo Hassan Nasrallah, após Israel assassinar seu líder anterior, o que, por sua vez, provocou que o grupo atentasse contra a embaixada israelense na Argentina) converteu o sul do Líbano em uma plataforma de lançamento para ataques contra os israelenses quando estes se retiraram do país em 2000. Apenas cinco meses depois da retirada israelense, milicianos do grupo cruzaram a fronteira e capturaram os corpos de três soldados do Exército de Israel, que quatro anos mais tarde seriam trocados por 400 prisioneiros palestinos e libaneses. Em 2005, o Hezbollah participou do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri e, em seguida, se opôs à retirada das tropas sírias do Líbano, que estavam no território libanês desde a guerra civil e foram acusadas de instigar o magnicídio do respeitado político.
Em 2006, membros da organização cruzaram novamente a fronteira com Israel para sequestrar soldados, o que acabou provocando uma guerra de 32 dias, onde morreram mais de 1.200 libaneses. Mais tarde, em 2008, o Hezbollah ocupou parte de Beirute quando uma aliança de diversas forças políticas lhe exigiu abandonar o controle do aeroporto da capital, entre outras potestades exclusivas, mas um acordo mediado pelo Catar deu ainda mais poder ao partido-milícia à medida que se erodia a estabilidade política e econômica do Líbano. Já em 2012, os combatentes do Hezbollah se deslocaram para a Síria a pedido da liderança iraniana para lutar contra os rebeldes que buscavam derrubar a ditadura da família Assad (aliada também do Irã). A inusitada movimentação começou a despertar críticas no mundo árabe, que observava que o Hezbollah não se limitava a agir como um ente de resistência diante da agressão israelense, mas acabava funcionando como o braço longo dos desígnios regionais iranianos para o Levante.
Uma nova rodada com final incerto
Desde a semana passada, Israel intensificou exponencialmente seu conflito com o Hezbollah. As ações de Tel Aviv vão além de atacar os comandantes militares: estão desmantelando a confiança entre o grupo e sua comunidade circundante, que sempre acreditou estar protegida por um aparato militar e de segurança altamente profissionalizado. O objetivo declarado de Israel tem sido deter o bombardeio do norte pela milícia pró-iraniana e assim levar seus cidadãos de volta a suas casas. No entanto, apesar dos avanços táticos alcançados por meio de suas operações multifacetadas, Israel corre o risco não apenas de perder o controle do norte do país, mas de colocar em perigo outras áreas em uma guerra direta na qual os mísseis, foguetes e drones do Hezbollah podem se tornar uma ameaça para os centros urbanos do centro do país.
Israel desejaria que fosse o Hezbollah quem iniciasse uma guerra em toda regra, pois o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não parece ter um mandato da população para iniciá-la (os israelenses estão divididos entre aqueles que acreditam que o premier israelense está ampliando a guerra em Gaza para se manter no poder e aqueles que consideram que seu líder deve priorizar uma improvável destruição do Hamas e do Hezbollah em detrimento do retorno dos cativos israelenses). No entanto, o Hezbollah tem afirmado repetidamente que começou a atacar Israel em solidariedade ao Hamas, de modo que um cessar-fogo em Gaza (mais uma retirada israelense da Faixa, junto com uma troca de sequestrados por prisioneiros) é uma condição sine qua non para estabilizar a situação atual entre Israel e o Líbano. Mais uma vez, a questão palestina funciona – como tantas outras vezes – como um catalisador para incendiar toda a região.
É muito difícil que Israel consiga alcançar seu objetivo declarado de terminar com o fogo transfronteiriço do Hezbollah apenas por meio da força. Pode, sem dúvida, degradar as forças aliadas do Irã, mas o Hezbollah é a joia da coroa de todos os proxies iranianos, que custaram à República Islâmica não apenas muitos milhares de milhões de dólares, mas também décadas de investimento de recursos humanos em campo. Portanto, o Irã não permitirá que o grupo se imole diante de Israel por Gaza; o confronto total está reservado para uma guerra direta entre Irã e Israel, não para apoiar a causa palestina. Da mesma forma, a atual guerra de baixa intensidade entre Israel e Irã não pode acabar apenas com a diplomacia. Talvez possa ser contida por meio de uma mistura de arranjos temporários e pressão militar, embora apenas até um novo confronto, pois Israel considera o Irã (e seu conhecido desenvolvimento nuclear) como uma ameaça existencial, enquanto o atual governo do Irã acredita que os israelenses são um enclave estrangeiro na região que deve desaparecer.
Israel sempre temeu o Hezbollah muito mais do que o Hamas. A milícia libanesa é considerada a mais poderosa do mundo e é um daqueles raros casos em que um ator não estatal é mais forte que o sistema de segurança do país do qual faz parte. Conta com mais de 50.000 milicianos treinados e um arsenal de pelo menos 150.000 mísseis que apontam para Israel. É provável que Israel continue com uma campanha aérea e assassinatos seletivos em Beirute para provocar um deslocamento mais amplo de civis libaneses como moeda de troca para negociar o retorno dos deslocados internos israelenses. Isso aprofundará a “doutrina Dahiya”, uma política militar israelense que remete ao subúrbio de Beirute bombardeado em 2006 por Israel, onde o Hezbollah concentra parte de seu poder e que teve deliberadamente como alvo a infraestrutura civil libanesa com o intuito de provocar um amplo sofrimento como forma de dissuasão.
O Hezbollah enfrenta, por sua vez, um desafio extremamente difícil: deve decidir se para seus ataques para reorganizar sua frente interna ou continuar com os bombardeios que, afinal, mais do que buscar a retirada israelense de Gaza, visam garantir a sobrevivência do Hamas. Uma ampliação do campo de batalha ou a introdução de armamento de última geração parecem inevitáveis, dado que dificilmente o Hezbollah possa aceitar uma derrota política contra Israel e se comprometer a retirar suas forças ao norte do rio Litani (como concordou no cessar-fogo de 2006, que depois não cumpriu) se Gaza não estiver na mesa de negociações.
Israel aposta que o Hezbollah se detém pela pressão dos libaneses, mas basta observar como uma organização infinitamente menor e mais fraca como o Hamas não se rendeu e continua lutando há um ano contra o próprio Exército israelense dentro de Gaza. Por sua vez, Israel deveria lembrar que a guerra de 2006 não pôde ser vencida apenas com a força aérea e que a invasão terrestre de 1982 também não lhe conferiu uma vitória total.
Pôr fim à guerra em Gaza, o que também acabaria com a atual rodada de enfrentamento entre Israel e o Hezbollah, está nas mãos de Netanyahu. Há uma oferta crível do Hamas para acabar com a guerra em três semanas e devolver os reféns israelenses em troca de uma retirada israelense de Gaza e uma troca de prisioneiros que Netanyahu não parece contemplar.
No entanto, embora suba nas pesquisas com suas medidas mais agressivas, Netanyahu parece não querer uma guerra – por enquanto – na qual Israel entre com o grosso de seu Exército em um território libanês ao qual é fácil entrar, mas do qual é muito difícil sair. “Bibi” lembra que a primeira guerra do Líbano terminou com a carreira política de Menáchem Begin e a segunda guerra fez o mesmo com a de Ehud Olmert. Assim, o que busca é uma escalada sangrenta no Líbano – e talvez uma pequena operação terrestre cosmética – para afetar o resultado das negociações indiretas, mais do que provocar uma guerra total. Mas é claro que Netanyahu, que sempre priorizou em sua carreira política as decisões táticas, dificilmente terminará se destacando como um gênio da estratégia no Líbano depois do desastre estratégico de Gaza.
Ausência de liderança dos Estados Unidos
É preciso ressaltar também que a situação atual foi alcançada pela ausência de liderança do país mais poderoso do mundo. Embora seja compreensível o apoio dos Estados Unidos a Israel – um aliado estratégico – após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, hoje não está claro se ainda deseja assumir seu papel de superpotência garantidora da ordem regional ou se abandonou essa posição desde os tempos de Barack Obama. Israel não apenas desconheceu a “linha vermelha” que Joe Biden estabeleceu em relação a Rafah, a única área da Faixa de Gaza que se mantinha como um refúgio de deslocados palestinos, mas descartou um acordo pelo retorno dos sequestrados elaborado por Washington.
Este é um momento crítico, que coincide com as eleições presidenciais em andamento nos Estados Unidos e no qual Gaza e Cisjordânia (e até Sudão) estão em chamas devido à inação dos EUA. Tampouco no Líbano o governo de Biden parece querer utilizar sua influência para evitar um conflito sem controle.
A maioria dos libaneses que se opõem ao Hezbollah, sejam muçulmanos ou cristãos, estão descontentes com o que Israel fez em Gaza e com o que está fazendo no Líbano. Para muitas pessoas, não tem sido fácil navegar pela complexidade moral que envolve se posicionar diante do fato de que o Hezbollah iniciou os ataques para apoiar uma massacre que o Hamas cometeu em solo israelense e que depois Israel utilizou como justificativa para transformar Gaza em uma zona inabitável, aprofundando uma ocupação de mais de meio século sobre os palestinos que continua a erodir a estatura internacional israelense.
Os rimbombantes ataques por meio da explosão de bipes e walkie-talkies, junto com a decapitação da cúpula militar do Hezbollah, podem provocar admiração, indignação ou surpresa, mas não criaram uma situação que permita que os residentes do norte israelense possam retornar a suas casas. No entanto, negociar um cessar-fogo em Gaza sim o faria e também levaria à libertação dos reféns israelenses que ainda estão retidos pelo Hamas. A outra opção, e o último que se precisa em uma região extremamente convulsionada, é uma guerra sangrenta e sem final certo.
Leia mais
- Tudo o que explode no Líbano. Artigo de Merin Abbass
- Explosões de aparelhos no Líbano: cresce temor de retaliação
- População libanesa vive sob o medo em meio a ‘guerra eletrônica’, após explosões de aparelhos
- Caos no Líbano: como a sabotagem de pagers deixou 11 mortos e 4.000 feridos
- O que acontece no Líbano? Artigo de Riccardo Cristiano
- Irã, Hezbollah e a ‘guerra de apoio’ a Gaza. Artigo de Riccardo Cristiano
- Hezbollah entre luto, vingança e mediação. Artigo de Riccardo Cristiano
- Morte de líderes do Hamas e Hezbollah gera temor de escalada
- Israel bombardeia o Líbano na maior troca de tiros com o Hezbollah desde 2006, provocando temores de escalada
- Israel em caos. Artigo de Riccardo Cristiano
- Nasrallah: eu sou o Líbano. Artigo de Riccardo Cristiano
- Morte de líderes do Hamas e Hezbollah gera temor de escalada
- Hezbollah entre luto, vingança e mediação. Artigo de Riccardo Cristiano
- Israel à beira de guerra total contra o Hezbollah
- Beirute, o patriarca dos maronitas: “O Hezbollah apoia Gaza, mas o faz às custas do Líbano”. Entrevista com Béchara Butros Raï
- Os temores do Papa sobre a guerra no Líbano
- “O Líbano será o novo front e corre o risco de pagar o preço mais alto”. Entrevista com Mohanad Hage Ali
- Líbano: entre a catástrofe e a esperança. Artigo de Riccardo Cristiano
- O exército israelense vê como inviável acabar com o Hamas e aumenta o clima de tensão com Netanyahu
- Israel matou mais de 207 funcionários da ONU e destruiu 80% de Gaza, desde outubro