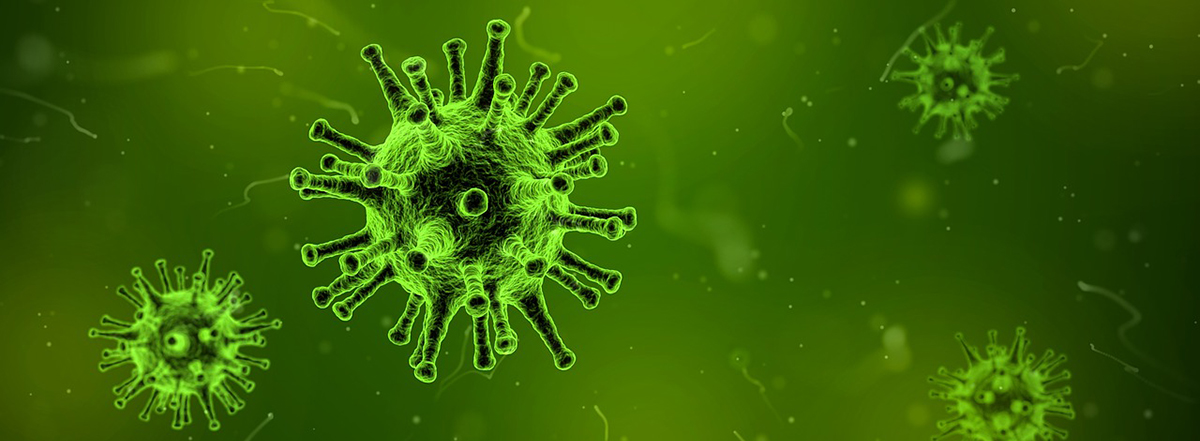06 Abril 2021
Joan Benach é professor titular do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Pompeu Fabra - UPF, onde leciona disciplinas de Saúde Pública e Saúde Ocupacional.
Benach também é diretor do Grupo de Pesquisa em Desigualdades na Saúde - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) da UPF e codiretor do Public Policy Center (UPF - Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos).
Joan Benach possui vínculos acadêmicos com a Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos), a Universidade de Toronto (Canadá) e a Universidade de Alberta (Canadá), entre outros.
Conversamos com ele sobre desigualdade, pandemias, vacinas, capitalismo, gestões e “La salud es política”, seu último livro.
A entrevista é publicada por Contrainformación, 05-04-2021. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
Quais são as causas da saúde? Por que adoecemos e desigualdades são geradas?
As causas fundamentais que determinam a saúde de uma população não são, como muitos pensam, a biologia e a genética, os “estilos de vida” ou o atendimento sociossanitário, mas as causas sociais. Por quê? Porque os fatores biológicos e genéticos quase sempre são “ativados” ou não segundo o ambiente, pois os comportamentos associados à saúde, como os hábitos alimentares ou fumar, são condicionados pela família e o ambiente social, e porque o atendimento à saúde, apesar de ser um serviço fundamental quando adoecemos, contribui relativamente pouco à saúde da população e também depende de fatores sociopolíticos.
Então, por que adoecemos? Sobretudo por causa dos “determinantes ecossociais”: a precarização do trabalho, da moradia, ou a poluição ambiental, para citar apenas três fatores. Estes fatores incidem desigualmente nos diferentes grupos sociais, segundo sua classe social, gênero, etnia, situação migratória e lugar onde se vive, gerando desigualdades em saúde.
Apresentemos um exemplo. As mulheres das classes sociais populares têm mais obesidade porque, por razões sociais e históricas, sofrem mais discriminação e exploração no trabalho. Com o tempo, muitas destas mulheres expressarão a situação de desigualdade social na forma de transtornos metabólicos, diabetes e morte prematura. É por isso que dizemos que a sociedade entra de forma desigual em nossos corpos, expressando-se biologicamente na forma de doença.
Os determinantes sociais da saúde se relacionam de forma intrínseca ao capitalismo?
O fator crucial que origina toda a cadeia causal do motivo de estarmos saudáveis, adoecermos ou morrermos prematuramente é a política. Por quê? Porque as ideologias e as relações desiguais de poder político condicionam as políticas públicas que são realizadas no que diz respeito às políticas fiscais, o emprego, a moradia, o meio ambiente, a saúde, ou os serviços sociais, entre outras. Cada uma destas políticas está inter-relacionada e gera mudanças nas formas de viver, trabalhar, consumir, se relacionar e no ambiente que, por uma via ou outra, ainda que não vejamos ou não sejamos conscientes, afetarão nossa vida e, finalmente, a saúde.
Além disso, as decisões políticas se associam ao sistema econômico e cultural que vivemos. Como apontou Lula da Silva: “tudo depende da política”. Vamos dar um exemplo para compreender a causalidade sistêmica e histórica que vai do capitalismo à saúde. Os desempregados têm maior probabilidade de ficar deprimidos e abusar do álcool. Caso a situação se prolongue, têm maior probabilidade de cometer suicídio ou ter uma doença hepática. Agora, conforme os estudos de Mark ou Kalecki deixaram claro, o desemprego é inerente ao capitalismo, razão pela qual há um fio mais ou menos direto da saúde ao capitalismo. A saúde coletiva é, portanto, um produto social muito ligado à economia política.
Parece-me uma visão tão interessante como pouco conhecida. Poderia dar mais exemplos?
Sim, claro. Há muitos exemplos relacionados à história e evolução do capitalismo, como o neocolonialismo, as práticas mercantis dos grandes oligopólios e o patriarcado. Um exemplo é como, em poucos anos, o uso em massa de açúcares acrescentados à produção industrial de alimentos “lixo”, realizado pelas grandes corporações da chamada Big Food, criou uma epidemia de sobrepeso e obesidade mundial (talvez 1,5 bilhão de pessoas), ao mesmo tempo em que isto convive com a fome e a desnutrição (cerca de 1 bilhão de pessoas).
Outro exemplo é a epidemia do tabagismo surgida no século XX, muito estreitamente relacionada às práticas comerciais, de relações públicas e marketing das corporações da Big Tobacco, e o impacto criminoso que infelizmente seguem tendo. Estima-se que no século XXI haverá cerca de 1 bilhão de mortes relacionadas ao tabaco, sobretudo nos países pobres e nas classes mais empobrecidas do planeta.
Um terceiro exemplo são as alterações hormonais e os cânceres produzidos pela excessiva exposição a produtos químicos sintéticos gerados e comercializados pela indústria química. E mais recentemente temos a pandemia de coronavírus, que faz com que muitas mulheres vivam sob uma crise de saúde permanente, com semanas de trabalho – dentro e fora de casa – intermináveis que, como disse Silvia Federici, é quase equiparável às operárias da revolução industrial.
No contexto da pandemia, onde se deve situar o discurso tão reiterado pelas autoridades, desde o início da pandemia, sobre a “responsabilidade individual” para evitar o contágio? É uma maneira de deslocar o peso dos determinantes sociais da saúde ao estilo de vida pessoal?
O discurso hegemônico, fomentado pelo poder político e reproduzido pelos principais meios de comunicação, fala de vírus, atendimento médico, hospitais, tratamentos e vacinas. Por outro lado, fala-se menos da prevenção, e quando isso acontece, quase sempre tem a ver com a responsabilidade pessoal. Quando falamos de um problema coletivo como a pandemia, com causas estruturais associadas à saúde pública, enfatizar os fatores pessoais “culpabiliza” e não é suficientemente eficaz. Além disso, o individualismo nos isola e não soluciona os problemas.
O que diríamos se para enfrentar a crise ecológica e climática estrutural que sofremos, disséssemos que a solução fundamental é que cada um recicle e poupe energia em casa? O que diríamos se para enfrentar a epidemia de tabaco existente, disséssemos que é um “problema pessoal” em vez de implementar leis restritivas, controlar os preços do tabaco e proibir sua publicidade, entre outras medidas de saúde pública? Ter responsabilidade individual diante de um risco é sempre algo importante, mas quando falamos de temas populacionais como a saúde pública, é imprescindível uma visão coletiva que permita compreender e agir diante das causas sociais de fundo.
Há anos, muitos especialistas avisam que ocorreria uma pandemia assim. Por que o sistema de saúde não estava preparado? Era muito ‘hospitalocêntrico’?
Há pelo menos quatro décadas, muitos especialistas advertiam que as mudanças socioecológicas globais estavam gerando um aumento de doenças infecciosas. Os cientistas afirmaram isto em seus artigos, divulgadores como Bill Gates comentaram, muitas instituições internacionais, incluída a OMS, alertaram.
Parece-me que há três razões principais. Primeiro, pela dinâmica distorcida, de curto prazo, de governos que muitas vezes atuam de forma reativa. Ou seja, preocupam-se quando Santa Bárbara troveja e já temos um desastre sobre nós, mas fazem muito menos para planejar e antecipar problemas que podem ou não acontecer. É que a prevenção é muito menos visível e reconhecida do que uma atuação imediata e muitas vezes é descrita como uma ação pouco ou nada eficiente.
Segundo, pela progressiva mercantilização e precarização, durante décadas, da saúde pública e os serviços sociais, facilitada por uma visão de saúde neoliberal e as pressões do complexo farmacêutico empresarial. Após a crise de 2008, as políticas de “austeridade” foram agravando a situação.
E terceiro, porque nos foi repetido que tínhamos [na Espanha] um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, e é verdade que é bom se o comparamos com muitos países, mas é um modelo biomédico e reducionista, “hospitalocêntrico” e medicalizador, que se fixa muito nas doenças, nos órgãos e na tecnologia, e muito pouco no ser humano, no atendimento primário, nos serviços sociais, nos determinantes sociais, nas desigualdades e na saúde pública, onde estão localizadas disciplinas tão essenciais como, por exemplo, a saúde mental, a saúde ocupacional e a saúde ambiental, entre muitas outras.
Convém repetir o tanto de vezes que for necessário: a “sanidade pública” não é igual à “saúde pública”, uma disciplina que tem como objetivo monitorar e prevenir a doença, e proteger, promover e restaurar a saúde de toda a população, mas que conta com poucos recursos (de 1,5 a 2% do orçamento da saúde). Paradoxalmente, portanto, a saúde tem sido a grande ausente desta pandemia.
Um grande número de países europeus apostou em fazer quarentenas e restrições, ao passo que em muitos países asiáticos e na Oceania se apostou na estratégia “COVID-0”. Quais foram as diferentes estratégias colocadas em prática no mundo? Por que agiu de forma tão diferente?
Se dissermos de forma muito esquemática, podemos dizer que houve três modelos principais para enfrentar a pandemia. Existe o modelo “preventivo-institucional” de muitos países asiáticos e da Oceania, como Taiwan ou Nova Zelândia, previamente alertados pelas pandemias anteriores. Atuaram radicalmente para eliminar a transmissão comunitária com a estratégia COVID-0 e fizeram intervenções rápidas e contundentes: testes e rastreamento em massa, isolamento de contatos, controles rigorosos nas fronteiras e um importante reforço da saúde pública. Além de ter um impacto na saúde muito pequeno, a crise econômica devida à pandemia também foi inferior. Assinalemos também o êxito de Cuba e a região de Kerala, na Índia, onde a ação coletiva comunitária desempenhou um papel relevante.
O segundo modelo é o “reativo-empresarial” dos países ocidentais e americanos, que se centraram em um permanente bloqueio/liberação de atividades e quarentenas para minimizar os danos econômicos, buscando reduzir o impacto na saúde somente quando o sistema sanitário, colapsado para atender as necessidades da população, chegava a uma situação limite.
E o último modelo é o que podemos chamar de “necrófilo”, representado por Trump e Bolsonaro (também Boris Johnson, no início), caracterizado por ter cortado e desmantelado tudo o que tivesse relação com a saúde pública, com uma estratégia autoritária de corte neofascista, muito associada aos interesses do capital financeiro e as empresas farmacêuticas, e com um forte desprezo à vida daqueles que “não são dignos de viver”, caso queiramos dizer da maneira como os nazistas diziam.
Você criticou a gestão dos Governos, em relação à pandemia, por terem realizado ações reativas e deficientes. Considera que a gestão poderia ter sido melhor?
Acredito que o governo espanhol e o catalão (e outras comunidades autônomas, especialmente Madrid) enfrentaram a pandemia de modo deficiente. Inicialmente, é possível considerar que foi pego de surpresa e que não havia, como reconheceu o ex-secretário de saúde catalão Joan Guix, nem preparação, nem os recursos humanos e materiais para agir diante de um risco que quase o mundo todo havia minimizado. Abusou-se de slogans publicitários (“é preciso paramos juntos o vírus” ou “ganhar esta guerra”), repetiu-se que estava sendo feito tudo o que era possível para controlar a pandemia, enfatizando a responsabilidade individual, improvisando, fazendo políticas reativas, com pouca liderança e com um olho sempre nas pressões empresariais.
Mas depois de meses, parece claro que faltou humildade e previsão, e que houve uma incapacidade de agir com diligência e eficácia diante de uma situação de emergência, sem que tenha havido investimentos em massa em saúde pública (atendimento primário, serviços sociais, rastreadores, testes, etc.). Sempre é mais fácil falar do que fazer, e é preciso dizer que em alguns lugares foram realizadas muitas ações, como por exemplo em Barcelona, que fez um esforço social importante, mas acredito que, em geral, em uma situação de grave emergência e de colapso dos serviços sanitários e sociais, faltou planejamento, coragem, e capacidade de decisão para agir diante de uma situação de emergência populacional.
Isto quer dizer que se focou na “solução” de fazer quarentenas e restrições, total ou parciais, quando a pandemia se acelera e cresce, em vez de colocar em marcha uma estratégia radical, utilizando com rapidez e eficiência todos os instrumentos de saúde pública e comunitária: planejamento, vigilância e análise epidemiológica, educação sanitária comunitária, análise dos determinantes sociais e equidade, envolvimento em massa da comunidade, entre outras ferramentas e estratégias.
Em definitivo, os países ocidentais optaram por uma visão de “conviver com o vírus”, com quarentenas e restrições, em vez de querer controlá-lo e eliminá-lo com uma estratégia integral de saúde pública “COVID-0”. Isto produziu um desastre social e de saúde pública, com numerosas consequências que apenas começamos a conhecer.
Quais deveriam ter sido, em sua avaliação, as ações mais prioritárias? O que dizer do futuro?
Com o passar do tempo espero que teremos uma avaliação crítica e integral do que se fez, mas acredito que há seis pontos prioritários. Primeiro, faltou uma visão mais sistêmica e integrada da pandemia, com um conhecimento de saúde pública e das ciências sociais mais adequado e profundo do que se teve.
Segundo, uma melhor gestão com maior liderança e coordenação, e com uma visão mais preventiva que reativa.
Terceiro, uma ação mais transparente e democrática, com campanhas educacionais comunitárias desde o início, com temas centrais como a prevenção, o risco, a estigmatização, evitar as fake News, etc.
Quarto, ter fortalecido de forma urgente e contundente as residências, a saúde comunitária, serviços sociais, o atendimento primário e a saúde pública, com a contratação em peso de rastreadores e testes diagnósticos, em vez de seguir mercantilizando a saúde com subcontratações de empresas privadas.
Quinto, deveria ter sido pensado mais nas desigualdades, investindo em peso na proteção social e econômica da população “vulnerada”, mais do que vulnerável, sobretudo nas populações e bairros mais desfavorecidos e naqueles que vivem sem lar. Foram feitas coisas, claro, mas foi muito insuficiente.
E sexto, deveria ter sido favorecida a participação mais ativa da comunidade, fomentando ações solidárias e de apoio social coletivas, assim como aconteceu em alguns países.
Frente ao futuro, além de uma avaliação detalhada dos impactos da pandemia, será necessário fortalecer e desenvolver uma agência nacional de saúde pública capaz de prevenir e controlar as muitas ameaças à saúde pública existentes e as futuras pandemias que muito provavelmente virão. Neste sentido, será preciso investir muito mais em recursos materiais e dispor de pessoal treinado em saúde pública, melhorando e ampliando os programas de formação e os sistemas para vigiar e responder às novas pandemias.
A vacina é a solução para a crise sanitária? A quem favorece o “modelo hegemônico de saúde” que você mencionou? Como seria possível garantir um acesso equitativo se, em última instância, está nas mãos das farmacêuticas?
As vacinas disponíveis são seguras e eficazes a curto prazo, mas há muitas perguntas que ainda devemos fazer sobre a duração de sua imunogenicidade e sua eficácia diante das variantes e possíveis mutações do coronavírus. Sendo assim, a vacinação do mundo não é um tema científico ou sanitário, mas sobretudo geopolítico.
Em inícios de março, tinham sido colocadas no mundo umas 4 doses para cada 100 pessoas, com uma grande desigualdade, já que em muitos países ainda não havia vacinados. O próprio diretor da OMS disse que “o mundo se encontra à beira de um fracasso moral catastrófico”. Por quê? Porque os investimentos na pesquisa de vacinas foram sobretudo públicos, mas a produção e comercialização está em mãos privadas, devido ao acordo de 1995 sobre os “Direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio” da OMC (TRIPS), que impõe os interesses das multinacionais farmacêuticas sobre os estados, em especial do sul, que são dependentes de patentes e licenças sobre produtos, vacinas e fármacos.
As grandes farmacêuticas gastam muito em publicidade e não em medicamentos e vacinas que não são rentáveis, mas que são absolutamente vitais para a sociedade. A geopolítica sanitária imposta pelo complexo médico farmacêutico financeiro global (a Big Pharma) controla o consumo em massa de fármacos e tecnologias sanitárias, defende seus interesses com uma grande influência sobre os estados, e gera enormes lucros.
Índia, África do Sul e outros 90 países tentaram suspender os acordos de propriedade durante a pandemia, mas a União Europeia, os Estados Unidos e outros países anglo-saxões se opuseram. Desta dinâmica só escapam Rússia, China e Cuba, mas algumas de suas vacinas também se encontram mercantilizadas e associadas a laboratórios privados nacionais da Índia, Brasil, Argentina, entre outros.
Pode dar mais exemplos do poder corporativo dessas empresas?
60% do financiamento da Aliança para as Vacinas (GAVI) vem das companhias farmacêuticas e de doadores de países ricos que, ao estar presentes nos comitês de especialistas, defendem os interesses da indústria. A “Coalizão para a Inovações em Preparação para Epidemias” (CEPI), criada no ano de 2015 pelo Fórum Econômico de Davos, com a ajuda da Fundação Gates e o Fundo Wellcome Trust (um fundo da companhia GlaxoSmithKline), anunciou um plano de vacinação global.
O Fundo de Acesso Global às Vacinas COVID-19 da OMS, chamado COVAX, junto com a GAVI e a CEPI faz com que os direitos de “patentes” das vacinas sigam uma lógica mercantil, razão pela qual apenas fornecem vacinas de forma limitada nos países pobres, e não como “um direito”, mas como uma forma geopolítica caritativa de tipo colonial, onde os países competem isoladamente para conseguir cotas de doses.
Não é estranho, então, que a imensa maioria das vacinas disponíveis tenham ido parar nos países ocidentais ricos (e entre eles, muitas vezes, nos mais privilegiados). Cabe dizer também que 80% do orçamento da própria OMS depende de doações e não dos Estados (a Fundação Gates, por exemplo, paga 90% de seu programa de medicamentos), o que demonstra o seu grau de dependência dos interesses da indústria e meios privados.
Isto quer dizer que fazer uma mudança social e política, radical e profunda, seria a vacina mais eficaz e que é fundamental democratizar a vacinação, tornando-a um bem comum de toda a humanidade. Será necessário gerar uma resposta geopolítica que libere as patentes, e criar uma associação de países do sul com soberania para produzir e distribuir vacinas para todos.
Alguns casos que podem ir nesta direção são a possível distribuição de vacinas fabricadas na Índia (o país que mais fabrica), o desenvolvimento da vacina cubana “soberana 02” para a população, turistas e outros países ou que, sobre a ALBA, Cuba e Venezuela querem criar um banco de vacinas para os países pobres. Em definitivo, precisamos de uma “vacina social”.
Em seu último livro “La salud es política” (Icaria), aprofunda que é necessário incentivar uma mudança de modelo em grande escala para enfrentar as crises que virão, derivadas em boa parte do colapso ecológico. Mas como começar a fazer essa mudança dentro de um marco capitalista que prioriza os lucros acima de tudo?
A pandemia é um banho de humildade que deveria nos fazer compreender que somos parte da natureza, e que quando a prejudicamos também prejudicamos a nós. Somos frágeis e somos dependentes. Agora, isto não é suficiente para fazer as mudanças que necessitamos, já que as inércias econômicas, políticas e culturais existentes fazem com que seja muito difícil mudar. O neoliberalismo destrói a vida, mas também “infecta” nossas mentes dificultando compreender o que acontece. Isto significa que, se queremos mudar, a consciência social sobre as causas e efeitos profundos da pandemia deve aumentar.
Para alcançar uma mudança profunda, será necessário, como quase sempre na história humana, a luta social. A emergência climática e a crise ecossocial e energética que padecemos – e padeceremos – serão infinitamente piores que a pandemia. É que a constante acumulação, crescimento ilimitado e a pilhagem de bens comuns pelo capitalismo é o nosso pior “vírus”. As reformas são cruciais, mas será necessário realizar mudanças sistêmicas muito profundas. Ou mudamos radicalmente ou caminhamos para a extinção humana ou, em todo caso, para um genocídio e ecocídio em massa.
Em um mundo submetido a múltiplas e quase inevitáveis crises ecossociais sistêmicas, é preciso “mudar tudo”, dizem as feministas. Devemos reinventar – e devemos fazer isso logo – a organização da produção e a reprodução social, fazendo uma revolução econômica, política e cultural.
Como fazer esta mudança? Proponho quatro dos elementos que acredito que são essenciais. Primeiro, experimentar como viver de uma forma diferente, com cooperativas de produção e consumos, novas formas de vida e relações onde a liberdade de uns não dependa do sofrimento dos outros. O grande escritor português José Saramago disse: se não mudarmos de vida, não mudaremos a vida.
Segundo, aumentar a consciência da crise sistêmica que nos cerca e que é possível viver bem de outra maneira, com menos consumo, de forma mais saudável, humana e realmente sustentável. Isto significa uma reeducação cidadã política e cultural muito profunda.
Terceiro, criar grupos de análises (think tanks) poderosos que façam análises críticas e propostas de atuação políticas mais adequadas.
E quarto, unir-se e mobilizar-se continuamente com movimentos sociais ao mesmo tempo descentralizados e coordenados, que conectem todas as lutas, que sejam “glo-locais”, capazes de criar formas coletivas para pressionar e mudar a política institucional. Fazer estas mudanças nos custará muito, mas não as fazer nos custará ainda mais.
Leia mais
- Pandemia, ano 1: é preciso transformar a saúde global
- Pandemia e desmonte de políticas de saúde colocam Brasil diante da escolha: devastação ou solidariedade econômica e social. Entrevista especial com Pedro Delgado
- Covid: países mais digitalizados e com melhores sistemas sociais e de saúde resistiram melhor
- O relato oficial do coronavírus oculta uma crise sistêmica. Artigo de Joan Benach
- Manifesto da Academia Latino-Americana de Líderes Católicos pela vacinação universal solidária
- Por um 'internacionalismo das vacinas'. A exortação do Papa Francisco
- Vacinas: “Só sairemos desta situação com o fim das patentes”Este capitalismo das doses faria rir até mesmo Marx
- Covid: 1.200 doses de vacina serão “presenteadas” pelo papa aos necessitados na Páscoa
- Ética e repugnância: negociações sobre vacinas para os países pobres
- Um acesso global às vacinas
- Acesso às vacinas: “É preciso ir além da liberação das patentes”. Entrevista com Fabienne Orsi
- Os pobres não desistem: as vacinas devem ser compartilhadas e as patentes livres
- Vacinas: o encontro perdido com a história
- Oxfam – Emergency: “Os países ricos estão vacinando e os pobres ainda não começaram”
- “Sem uma distribuição justa das vacinas não se ganha o jogo”
- Vacinas, dois terços do mundo não têm acesso a elas. As “Organizações Sem Fins Lucrativos” se mobilizam
- Vacinas, saúde para todos sob o domínio do mercado
- Papa Francisco: Vacina para todos, especialmente para os pobres
- Papa diz que pandemia exacerbou desigualdades em muitos sistemas de saúde
- A pandemia de Covid-19 aprofunda e apresenta as gritantes desigualdades sociais do Brasil. Entrevista especial com Tiaraju Pablo D’Andrea
- Nenhuma pandemia cancela as desigualdades de riqueza