Foram publicadas as atas do Congresso Nacional da Associação Teológica Italiana (realizada em Enna, entre 2 a 6 de setembro de 2019), sobre o tema “Repensar o humano? Neurociências, novas mídias, economia: desafios para a teologia”.
Publicamos aqui a parte inicial da conferência de Luigi Alici, filósofo italiano, ex-presidente da Ação Católica Italiana e ex-professor da Universidade de Macerata. O texto foi publicado no blog do autor, 27-08-2021. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Olhando para o panorama contemporâneo com um olho nas dinâmicas culturais e outro nos fenômenos dos costumes, destaca-se um contraste estridente entre o frenético imobilismo da vida cotidiana e a proliferação de pesquisas e estudos voltados para a frente, atraídos pelo paradoxo de uma mudança acelerada do qual o ser humano parece ser, ao mesmo tempo, o protagonista e a vítima.
Segundo a “Breve história do futuro” (Ed. Novo Século, 2008), de Jacques Attali, “é hoje que se decide como será o mundo em 2050 e se prepara aquilo que será em 2100. Dependendo de como nos comportarmos, os nossos filhos e os nossos netos habitarão um mundo vivível e apaixonante, ou viverão um inferno, odiando-nos até a morte”.
Yuval Noah Harari, depois do best-seller “Sapiens: uma breve história da humanidade” (Ed. L&PM, 2015), escreveu “Homo Deus: uma breve história do amanhã” (Ed. Companhia das Letras, 2016), no qual identifica três desafios fundamentais: a evolução da ciência para um “dogma abrangente”, segundo o qual os organismos são algoritmos e a vida é um processo de elaboração de dados; a libertação da inteligência da consciência e, portanto, da forma humana; a produção de algoritmos não conscientes capazes talvez de nos conhecer melhor do que nós mesmos. A responsabilidade diante desses novos desafios “será proteger o gênero humano e o planeta como um todo dos riscos ligados ao nosso poder”.
Martin Rees também acredita que o grande desafio será o da inteligência inorgânica, ponto de encontro entre manipulações genéticas, cibernética e robótica. Só uma inteligência coletiva poderia enfrentar duas grandes inovações deste século, “o primeiro em que uma espécie terrestre, a nossa, é tão poderosa e dominante que tem o destino do planeta em suas mãos”, e também “o primeiro em que a raça humana poderia colonizar ambientes extraterrestres”.
A transformação profunda que estamos testemunhando, fruto do concurso entre tecnologia, automação e inovação, “está fadada a empalidecer – acrescenta Alec Ross – diante daquilo que virá com a próxima onda de inovação, que afetará todos os 196 países do planeta”.
Segundo Thomas Eriksen, que entrevê por trás de “uma antropologia da mudança acelerada” uma sociedade “fora de controle”, para citar o título e o subtítulo do seu livro, “vivemos em uma era que, a partir da revolução industrial europeia, caracterizou-se pela atividade e pela expansão humana de um modo sem precedentes. No mundo atual, a natureza, em certo sentido, entrou em colapso na cultura”.
Se é verdade que cada época é definida pelas suas fronteiras, naturais e artificiais, a nossa também tem as suas próprias “colunas de Hércules”, além dos quais a emoção do mar aberto se anuncia diante de nós e dentro de nós: por um lado, devemos reconhecer que entramos em uma nova era geológica, que poderia ser chamada de Antropoceno, na qual a presença do Homo sapiens se torna avassaladora em relação às forças da natureza, a ponto de se transformar em um verdadeiro agente geológico; por outro lado, uma viagem para trás nos leva a entrar em um diálogo inédito com aquele retículo de informações que é como o alfabeto elementar da nossa frágil identidade genética, considerada por milênios como a fonte inalcançável da codificação da vida.
Porém, apesar dessas projeções para a frente, continuamos nos situando na “época dos pós”, com a sua sequência interminável de adjetivos substantivados (pós-industrial, pós-democracia, pós-moderno, pós-metafísica, pós-humano...), ambíguo elemento sintetizador de uma época em que o futuro se assemelha muito à soma de resultados surpreendentes, mais do que ao fruto de um projeto unitário. Por isso, é difícil interceptar linhas de tendências unívocas, especialmente em relação ao nosso tema, e sobretudo lê-las à luz de um ponto de convergência.
Pelo menos dois fenômenos, entretanto, merecem ser assinalados.
Acima de tudo, parece ser possível traçar uma atitude recorrente na tendência de ignorar a herança de um problema não resolvido que transformou a modernidade em uma verdadeira gigantomacia entre empirismo e racionalismo, iluminismo e romantismo, individualismo e coletivismo.
Na sua leitura reconstrutiva da identidade moderna, Charles Taylor compara o paradigma iluminista da “razão distanciada” e o paradigma romântico da autenticidade expressiva: o primeiro, a partir de uma conjugação empírica original, teoriza a abordagem naturalista do “controle mediante o distanciamento” (“objetivar um dado campo significa privá-lo da força normativa que ele exerce sobre nós”), neutralizando toda projeção teleológica e alimentando formas diferentes de reducionismo antropológico; o segundo, confiando a uma espécie de voz interna a identificação e a apropriação autônoma do bem, faz com que a autenticidade do sujeito dependa da sua absoluta autonomia interna: cada um de nós é chamado a viver à altura da própria imaginação criativa original.
Nesse conflito não resolvido, ressurge um antigo pendularismo na relação entre ser humano e natureza, que Pierre Hadot expressou na antítese entre o paradigma voluntarista de Prometeu, que levanta o “véu de Ísis” para libertar a vida dos seres humanos, despojando-se uma natureza hostil de toda aura de mistério, e a de Orfeu, que penetra nos segredos da natureza, da qual se sente parte viva, com a melodia e a harmonia, respeitando o seu mistério mais profundo.
Com o nascimento da ciência moderna e a busca de novos modelos de racionalidade, assiste-se, segundo Hadot, uma extremização de tal antinomia. Uma natureza inteiramente “desvelada” se reduzirá a um objeto mudo nas mãos do ser humano moderno, forçado a pagar o preço do seu próprio poder com uma desorientação e uma solidão cósmica, que a estética romântica tentará vencer na raiz.
Essa polarização continua pesando sobre o nosso tempo, em formas não mais contrapostas e incomensuráveis, mas como a mistura fluida de uma koiné sincrética, de que o sistema precisa para crescer e manter a sua elasticidade. Em muitos casos, um resultado quase esquizofrênico desse movimento oscilante distribui as suas oscilações mais vistosas entre a esfera privada e o espaço público: o primado iluminista do logos, já assimilado a uma forma de racionalidade instrumental, parece hoje dominante na trama impessoal das “relações longas”, enquanto aquilo que resta do primado romântico do pathos contrai o espaço do vivido, reduzindo-o a uma colagem de experiências emocionais e efêmeras.
No nível dos costumes, não é difícil encontrar evidências desse duplo registo – heteronomia pública e autonomia privada – segundo o qual se gostaria de tocar a melodia da vida: uma implacável obstinação moralista em um espaço ampliado, politicamente guardado por instituições frágeis, capaz de opor convenções normativas fracas aos novos poderes invisíveis e, ao mesmo tempo, uma reivindicação duvidosa de autonomia subjetiva no recinto inquestionável do privado.
A própria dimensão religiosa aparece oscilante entre um consumo moralista do sagrado no espaço público, reduzido a um armamentário sectário e militante de ritualidades exclusivas e slogans identitários, usados para proteger os nossos egoísmos e consagrar os nossos medos, e, pelo contrário, uma fé devocional e indolor, compatível com qualquer estrutura social, econômica, política e cultural.
Em segundo lugar, dentro e para além desse agnosticismo, consolida-se a tendência desconstrutiva de inverter o impulso historicista rumo à emancipação, típico da modernidade também segundo Habermas, deslocando o centro de gravidade do humano cada vez mais para trás, na esfera do infra-humano, em uma convergência objetiva com um reducionismo científico que extremiza os resultados da tecnociência.
A absolutização da abordagem reducionista, de fato, ao invés de preveni-la, acaba reforçando uma tendência trans-humanista, mesmo que por meio de passagens complexas e nem sempre explícitas.
Diante daquele que Schaeffer chamou de “O fim da exceção humana”, devemos mais uma vez redefinir a questão antropológica, removendo-a da falsa alternativa entre monismo e dualismo; de fato, até mesmo o reducionismo, além do simples naturalismo biológico, pode ocultar um sistema dualista, mantendo a questão da consciência sempre dentro do dilema cartesiano entre res extensa e res cogitans.
O próprio Jonas, sobre esse ponto, convidara a distinguir entre o chamado “monismo integral da pré-história”, que se fundamentava no reconhecimento de um todo indiviso, e as versões modernas, em sentido materialista e idealista, que na realidade ele considera como formas antitéticas do “monismo pós-dualista”; em essência, dois reducionismos opostos, de sinal empirista ou racionalista, fruto de duas formas de “polarização ontológica” que “encontram a sua posição respectivamente em um dos dois polos, para compreender a totalidade da realidade a partir dele”.
Ainda segundo Jonas, nessa singular mistura de pensamento fraco e tecnologia forte, afirma-se, portanto, “um niilismo no qual o máximo de poder se une ao máximo de vazio, o máximo de capacidade ao mínimo de saber em torno dos propósitos”; uma aliança involuntária que acaba se transformando em um trampolim para as mais ousadas aventuras da liberdade.
Nietzsche jamais imaginaria que o cenário titânico e sofrido do seu “niilismo ativo” poderia ser enfraquecido, banalizado e, no fim, literalmente comprado pela sociedade de consumo. A partir de uma abordagem genealógica, que só autoriza uma interpretação em sentido histórico e em perspectiva da verdade e dos valores, excluindo qualquer aterrissagem em uma raiz última, a vontade de poder coloca o Übermensch não apenas além do bem e do mal, mas até além do ser e do nada. O ato livre não se exerce perante um mundo pré-existente, mas o criou. Ex nihilo: precisamente como Deus.
Em relação a essa abordagem, que aspirava a carregar de valor infinito a possibilidade “humana, demasiado humana” de retomar a própria vida, sem no entanto renunciar à incômoda companhia das grandes perguntas, o niilismo hoje não é repudiado, mas reproposto de uma forma suave e menos penosa, na pretensão insolente de saborear os seus frutos, evitando os seus espinhos.
Neste “tempo do meio”, portanto, concretiza-se a miragem equívoca de uma “má infinitude”, fruto de um processo ilimitado de exploração no micro e no macro – das neurociências à robótica, da cibernética às ciências cognitivas –, até ao encontro entre nano e biotecnologias; em todo o caso, o aumento das cognições corresponde pontualmente a um aumento exponencial das incógnitas, aumentando consequentemente a taxa de incerteza, que se torna uma característica do nosso tempo.
Ao mesmo tempo, uma espécie de embriaguez da autonomia transforma a vivência em um lugar de consumo total, do qual até o sagrado se torna um ingrediente efêmero. No nível da cultura, credencia-se a ideia de uma “origem sem tarefa”, enquanto no nível do costume o cegamento consumista narra simetricamente uma “tarefa sem origem”.
O informe que está às nossas costas torna informe a nossa vocação, tentando se credenciar como a única forma possível de humanidade. O mito do super-homem se afoga miseravelmente no supermercado do efêmero...
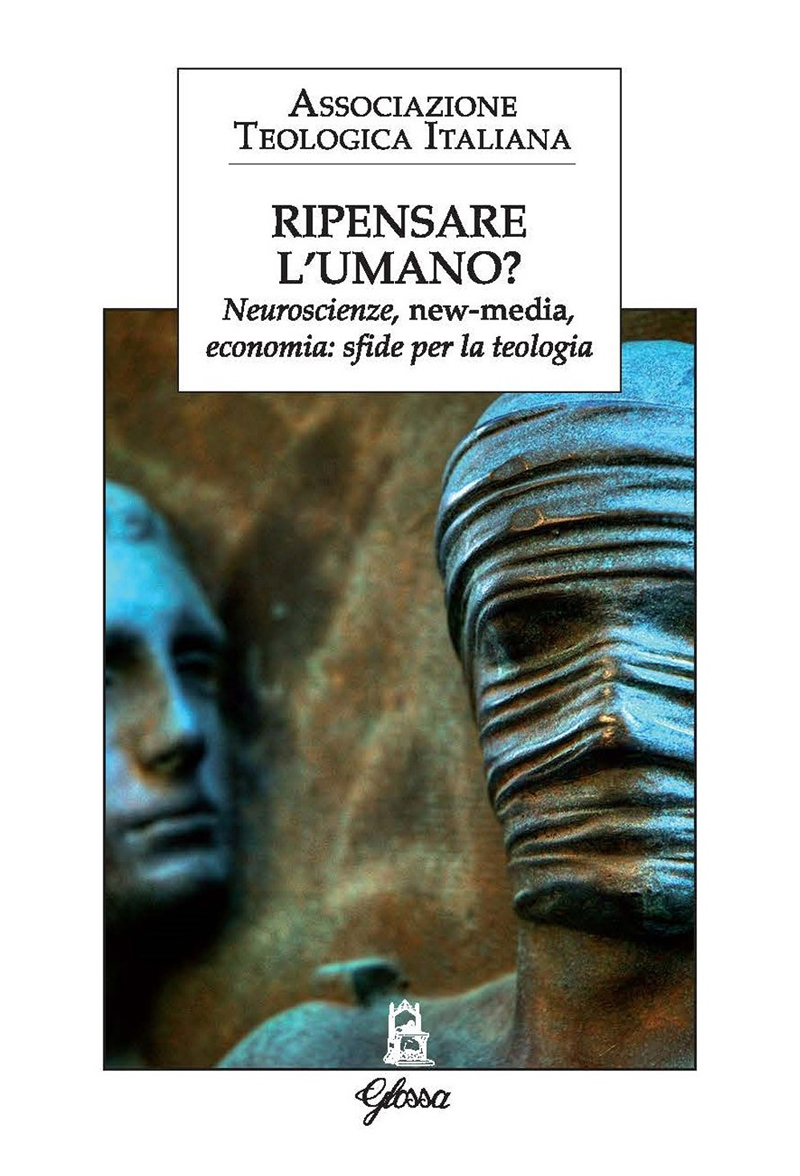
ALICI, L. L’umano oltre l’umano: l’infinito, a un passo dal nulla.
In: VV.AA. Ripensare l’umano: neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia. Milão: Glossa, 2021, pp. 5-35.
De 04 de junho a 10 de dezembro de 2021, o IHU realiza o XX Simpósio Internacional IHU. A (I)Relevância pública do cristianismo num mundo em transição, que tem como objetivo debater transdisciplinarmente desafios e possibilidades para o cristianismo em meio às grandes transformações que caracterizam a sociedade e a cultura atual, no contexto da confluência de diversas crises de um mundo em transição.

XX Simpósio Internacional IHU. A (I)Relevância pública do cristianismo num mundo em transição