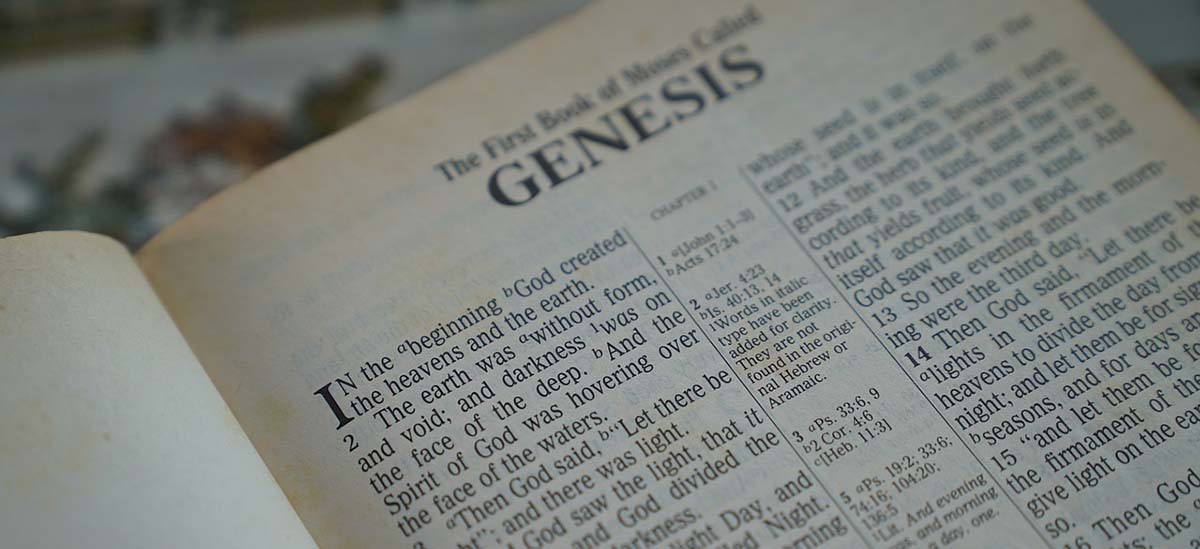21 Agosto 2021
"O homem não apareceu de repente, distinto desde o início das outras espécies animais, idêntico ao que é hoje. A espécie resulta de uma evolução de vários milhões de anos, onde a consciência nasceu em paralelo com a evolução biológica e a material. Muito recentemente, a análise genética estabelece que a humanidade atual é o resultado de cruzamentos entre Sapiens e Neandertais e entre essas duas primeiras espécies e os Denisovanos. Portanto, é impossível estabelecer um momento preciso, um evento singular, uma geração particular em que os nossos ancestrais deixaram de ser animais".
A opinião é de Jacques Neirynck, professor honorário da École Polytechnique Fédérale de Lausanne e ex-conselheiro nacional do Partido Democrata Cristão, da Suíça, em artigo publicado por Baptises.fr, 16-08-2021. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis o artigo.
Se há um dogma inútil e infeliz, é precisamente o do pecado original, do qual chegou o momento de se livrar.
Ninguém mais imagina que as origens da humanidade realmente aconteceram de acordo com o relato do Gênesis. No entanto, o mito do pecado original permanece presente no Cristianismo, induzindo crenças como: o homem nasceria inocente, teria pecado gravemente e seria salvo dessa maldição apenas pelo sacrifício de sangue de Cristo, exigido para satisfazer o Pai.
Derivam desse mito primordial tanto uma mitologia persistente quanto uma prática litúrgica. Por outro lado, quando se aceita a existência de um Pecado Original, deve-se deduzir os dogmas da Imaculada Conceição, do Nascimento Virginal, da Assunção, do Inferno e do Purgatório, do Limbo etc.
Por outro lado, dois importantes sacramentos são interpretados de forma negativa: o Batismo nem tanto celebra a entrada na Igreja quanto a purificação de um defeito hereditário, para o qual é necessário conferi-lo desde o nascimento; a Eucaristia não tanto é uma refeição comunitária, quanto a repetição simbólica do sacrifício de Cristo.
A partir de Galileu e Darwin, o mito do pecado original é minado nessa interpretação tradicional, específica do Cristianismo, enquanto nem o Judaísmo nem o Islã se prendem nessa explicação. O que as ciências humanas oferecem como explicação do emergir de nossa espécie como visão da mesma é radicalmente em contraste com a interpretação cristã do Gênesis, à qual o Catecismo de 1992 dedica múltiplas referências que se estendem por várias páginas.
O homem não apareceu de repente, distinto desde o início das outras espécies animais, idêntico ao que é hoje. A espécie resulta de uma evolução de vários milhões de anos, onde a consciência nasceu em paralelo com a evolução biológica e a material. Muito recentemente, a análise genética estabelece que a humanidade atual é o resultado de cruzamentos entre Sapiens e Neandertais e entre essas duas primeiras espécies e os Denisovanos. Portanto, é impossível estabelecer um momento preciso, um evento singular, uma geração particular em que os nossos ancestrais deixaram de ser animais.
Esse surgimento foi um processo contínuo, que, aliás, continua.
Portanto, não existiu um casal inicial de seres humanos à nossa semelhança do qual todos nós descenderíamos, de acordo com o dogma do monogenismo (posição da encíclica Humani Generis de 1950), a menos que o procuremos em nossa ancestralidade animal dos australopitecos ou talvez ainda mais atrás em nossa árvore genealógica que nos faz primos de orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. Não passamos de primos que tiveram sucesso graças à nossa laboriosidade, um ambiente favorável e uma série de casos fortuitos. Não somos o resultado de um ato singular do Criador, depois de um pecado original, que explicaria a presença do mal, para isentar o Criador. O escriba do Gênesis, que coloca em cena uma serpente diabólica como tentadora, necessariamente admite que ela faz parte da criação e que, portanto, seria o Criador quem induziu a criatura à tentação por interposta pessoa.
Toda essa mitologia se desenvolve desde o primeiro século, durante a redação do Segundo Testamento, que contém seu preâmbulo. “Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram” (Rm 5,12). É verdade que o dogma tem raízes escriturísticas, mas foi Agostinho de Hipona quem inventou o termo, no final do século IV. Essa expressão, embora nunca apareça na Bíblia, tornou-se um elemento central da teologia principalmente católica e calvinista e da prática litúrgica. O texto do Ordinário da Missa está impregnado por ela.
Ensinar no futuro a inocência original do homem não será fácil, mesmo que a paleontologia impunha sua prova. No entanto, a persistência do dogma na pastoral não é mais suportável e causa um reflexo de repulsa. Antigamente podia-se evocar uma culpa transmissível por geração em um mundo mediterrâneo que praticava a vingança. Hoje, em um estado de direito, cada um é responsável por seus próprios crimes e não existem responsabilidades coletivas. As últimas manifestações dessa aberração aconteceram nas ditaduras (com o Holocausto), em conflitos étnicos (Ruanda), em guerras religiosas (Irlanda, Bósnia). A imagem de um Pai que exige o sacrifício do próprio Filho suscita a aversão por aquele ídolo.
Já Rousseau falava com ironia daquele pecado "pelo qual somos muito justamente punidos por pecados que não cometemos" (Mémoire à M. de Mably). Desde o Iluminismo, essa visão se espalhou. O dogma do pecado original, com qualquer distorcida explicação que possa ser dada a ele, tornou-se objeto de repugnância. Isso explica a deserção das igrejas e dos seminários pela persistência de uma atitude dogmática que busca impor crenças inverossímeis e práticas ultrapassadas. Se fosse feito um esforço vital para se livrar desse fardo, seria mais fácil abandonar a cultura patriarcal, a relegação das mulheres, a culpabilidade dos homossexuais, a cumplicidade com os abusos sexuais e espirituais. Porque esse dogma poderia, de fato, ser sua raiz mais profunda e mais difícil de erradicar.
Leia mais
- Enfrentando as causas do clericalismo: o pecado original e as dinâmicas institucionais
- Ainda sobre o mal e o pecado original. Artigo de Carlo Molari
- Nas fontes do pecado original
- Pecado original: apenas um dogma passado?
- ''A revelação do pecado original remonta a Jesus''. Artigo de Pierangelo Sequeri
- Pecado original? Todo processo vital é Logos mais Caos. Artigo de Vito Mancuso
- Evolução e pecado original: releituras do Gênesis