28 Setembro 2018


Alessandro Pignocchi | Foto: www.revue-ballast.fr
Da Amazônia a Notre-Dame-des-Landes, Alessandro Pignocchi – pesquisador em ciências cognitivas e filosofia da arte e autor de três histórias em quadrinhos e com o mesmo número de ensaios – não abandona a humildade do antropólogo diante do objeto muitas vezes incompreendido de suas observações. Na sua prancheta de desenho, ele convoca os pensadores para fazê-los dialogar com políticos que se tornaram animistas, abelharucos revolucionários ou moradores de uma aldeia de Seine-et-Marne. Entre uma visita à ZAD [Zonas a Defender, em que ativistas resistem a projetos devastadores criando novas formas de convívio] de Roybon e uma temporada em Nantes, encontramos o autor em um café lionês, à margem de um festival de histórias em quadrinhos.
A entrevista é publicada por Ballast, 24-09-2018. A tradução é de André Langer.
Eis a entrevista.
Houve uma mudança repentina de estilo entre o seu primeiro livro em quadrinhos, Anent, e os dois seguintes, muito mais satíricos. Cada um, no entanto, baseia-se em sua experiência antropológica. Por que esse deslocamento?
Eu escrevi quase ao mesmo tempo meus dois primeiros livros em quadrinhos. Anent é um documental relativamente clássico. Nele eu conto minhas viagens à Amazônia, às comunidades dos Jivaros, seguindo os passos do antropólogo Philippe Descola. O que está por trás destas minhas viagens e da história que eu montei é o fascínio pela ideia, teorizada especialmente por Descola, de que o pensamento amazônico ignora a distinção que o Ocidente moderno faz entre Natureza e Cultura: as plantas e os animais são considerados como pessoas e as relações que os índios da Amazônia têm com eles são semelhantes às interações sociais.
Esta ideia é sedutora, intelectualmente falando, mas é difícil ver o que isso significa na prática, especialmente se, como Descola e outros, nos perguntarmos como o Ocidente poderia se alimentar disso para sair do dualismo Natureza/Cultura. Estranhamente – e este é um dos objetivos de Anent –, minhas viagens à Amazônia não me permitiram fazer muito progresso nesse ponto. Meus posts no blog, que depois viraram minha segunda história em quadrinhos, Petit traité d’écologie sauvage (Pequeno Tratado de Ecologia Selvagem), são uma tentativa de tornar essa ideia mais concreta, de colocá-la em prática.
A principal motivação por trás desta história em quadrinhos é, sem dúvida, o desejo de fazer humor bobo com ideias sérias, que vieram em parte do meu passado como universitário. Mas a posteriori posso justificá-lo da seguinte maneira: ver concretamente como seria o nosso mundo se, como os índios da Amazônia, eliminássemos de repente a distinção entre Natureza e Cultura, se nos esquecêssemos do nosso conceito de “Natureza” e como ela afasta e torna funcionais todos os seres, territórios e fenômenos que abrange. Eu nem sempre sou capaz de justificá-lo explicitamente, mas rapidamente ficou claro nesta história em quadrinhos que só vamos poder eliminar a distinção Natureza/Cultura se atacarmos outro pilar do Ocidente moderno: a superposição entre poder político e poder coercitivo.
E, mais uma vez, a inspiração para isso vem da Amazônia. Como já mostrou Pierre Clastres, e como eu tive muitas vezes a oportunidade de ver isso entre os Jivaros, os chefes amazônicos nunca dão ordens – e eles não teriam, de qualquer modo, meios para torná-las efetivas. O grupo só os ouve se quiser e os chefes estão inteiramente ao seu serviço. De maneira um pouco pedante, eu poderia pretender que a minha próxima história em quadrinhos sobre a ZAD de Notre-Dame-des-Landes [que surgiu contra o projeto de construção de um novo aeroporto em Nantes, projeto abandonado pelo presidente Emmanuel Macron no começo deste ano] é uma tentativa de explorar ainda mais as ligações entre o pensamento de Descola e de Clastres.
A história em quadrinhos tem um escopo específico na disseminação do conhecimento antropológico?
Ela é um meio muito eficaz para o documental em primeira pessoa. Ela permite desenhar-se a si mesmo e de fazer graça de si mesmo, de lançar um olhar irônico sobre o que se era quando estava em campo. Com outras palavras, torna possível reivindicar a dimensão subjetiva de qualquer pesquisa antropológica – uma reivindicação que está faltando em muitas monografias de antropologia...
Você retoma uma forma mais documental com seu trabalho atual sobre a ZAD.
Minha história em quadrinhos sobre a ZAD procura mesclar os dois registros. Uma parte documental, como em Anent, mas tudo entremeado com digressões absurdas, como nos meus dois Pequenos Tratados. Minha principal fonte de inspiração para mesclar os dois é Kobane Calling, a obra-prima de Zerocalcare [cartunista italiano].

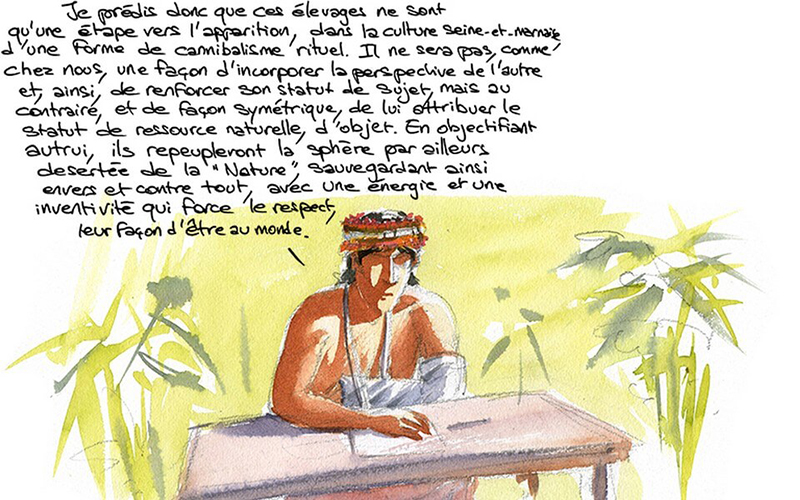
Ilustração do livro em quadrinhos Anent, de Alessandro Pignocchi (Fonte: www.revue-ballast.fr)
Se lhe perguntarem sobre o que há de comum entre a Amazônia e a ZAD de Notre-Dame-des-Landes...
Principalmente a distinção entre Natureza e Cultura que já evoquei – ela não, ou não mais, ocorre. Os índios da Amazônia nos ensinam que essa distinção não tem nada de universal; é uma construção social que tomou forma dentro de uma trajetória histórica própria do Ocidente. Muitos pensadores – o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro ou ainda Bruno Latour – consideram que esta distinção fez época e que é urgente se livrar dela, especialmente sob a pressão da crise ecológica.
Trata-se também de abandonar com ela muitas noções que ajudam a estruturar e organizar a nossa vida cotidiana – o “valor trabalho” ou a noção de “progresso”, por exemplo. Na Europa, é na ZAD, e especialmente na Notre-Dame-des-Landes, que esta revolução cosmológica começa a se esboçar, de maneira exploratória, mais claramente. Tanto que ela parece ir de mãos dadas com a recusa de todo poder coercitivo e a colocar em primeiro plano o comum em detrimento da propriedade privada. Sobre este último ponto, além disso, as ZADs se afastam dos índios da Amazônia – que são formidáveis individualistas – para se aproximarem mais dos indígenas dos Andes.
Você assume a proteção da natureza “à moda ocidental” através de um personagem, o antropólogo jivaros. Renunciar à distinção de que estamos falando redefine necessariamente o ideal de uma natureza protegida que confinará os espaços poluídos e abandonados em termos ambientais. Então, que proteção podemos imaginar?
A proteção no estilo ocidental apresenta dois problemas. Primeiro, quando uma zona é protegida, sempre podemos mudar de ideia e decidir explorá-la (por exemplo, no Alasca, assim que o preço do barril aumenta, planejamos reduzir um pouco mais as fronteiras dos parques, em cujos subterrâneos encontramos petróleo). Esta oscilação entre proteção e exploração, que caracteriza a relação ocidental com a natureza, leva, portanto, necessariamente à destruição.
Em segundo lugar, a proteção mantém e até reforça o estatuto de objeto da natureza. Ela impede, assim, a formação de relações com plantas, animais, ecossistemas e territórios, com base nas relações sujeito-sujeito, ou seja, nas relações mais ricas e estimulantes. É preciso que o próprio termo proteção seja abandonado. Que a boa relação com o que hoje chamamos de seres da natureza se torne evidente.
Você citava o antropólogo Bruno Latour. Ele lembra regularmente o papel preponderante do apego aos territórios – “Defender a natureza: nós bocejamos. Defender os territórios: nós nos movemos”, resumiu ele ao sítio Reporterre. Você concorda com essa ideia?
Intuitivamente, sim. Mas é um tema que eu estou descobrindo; não tenho muito a dizer se não são lugares comuns em termos de laços, de afeto, de experiências encarnadas, etc. Só posso acrescentar que eu fiquei muito agradavelmente surpreendido, chegando na ZAD, com a velocidade com que eu me reapropriei dos laços que aí se tecem com o território e com seus habitantes, humanos e não-humanos. Eu esperava ter que me colocar numa posição de observador externo, de antropólogo, mas depois de algumas horas em um canteiro ou em uma horta comunitária, tive a impressão de estar aí desde sempre.
As relações com o território que se inventam na ZAD são de um tipo oposto àqueles que, reacionários, muitas vezes se pensa falando da ligação com a terra (e que dizem respeito aos ancestrais, à história do lugar, do sangue, etc.), todos esses laços que permitem que os habitantes de um lugar chamem você de “estrangeiro”, mesmo quando você compartilha suas vidas durante vinte anos. Na ZAD, qualquer pessoa que está de passagem pode, em poucas horas, se sentir em uma malha de entrelaçamento de elos que ali estão entrelaçados, pode sentir esse apego ao território.
Esse é um ponto importante: receio que parte da esquerda esteja perdendo essa distinção entre duas formas opostas de se vincular a um território. Penso, por exemplo, no artigo do Le Monde Diplomatique de junho, “A Terra não mente”, que traz as relações com a terra mais reacionárias – o retorno à terra petainista – até aquelas mais progressistas (com uma noção de progresso redefinida, é claro) –, ou seja, as relações que os zadistas tecem com o território que eles defendem.
Nós encontramos facilmente, na ecologia mainstream, a ideia de que a biodiversidade deve ser defendida por causa dos “bens e serviços” que a humanidade dela retira. Por que isso é um problema?
Neste pensamento, o conceito de Natureza designa um objeto. Um objeto certamente muito valioso, mas que não deve ser protegido, na verdade, por causa dos serviços que nos oferece. No entanto, quando se considera o valor de uma coisa unicamente pelo prisma de sua utilidade prática, assume-se implicitamente como dado que esta coisa é substituível por qualquer outra coisa que cumpra as mesmas funções. Para a natureza, o substituto é encontrado: será o progresso tecnológico. Nós não nos mobilizamos em massa por um objeto substituível.
Desfazer a distinção Natureza/Cultura, livrando-se do conceito de Natureza, significa que as plantas, os animais, os ecossistemas, passam de um estatuto de objeto a um estatuto de sujeito. Isso não significa um estatuto idêntico ao dos seres humanos, mas um estatuto que atribui uma forma de interioridade ou, pelo menos, que incentiva a prestar atenção nas ligações recíprocas. Portanto, uma boa relação com não-humanos não precisa mais ser respaldada por uma utilidade concreta ou uma função. Existe por si mesma. Buscar uma boa relação com não-humanos torna-se um objetivo tão imediatamente desejável quanto apontar para uma boa relação com os outros seres humanos: isso me parece uma condição fundamental para fazer da Terra um lugar um pouco mais agradável para se viver.
Qual é a sua opinião sobre a reação policial implementada na ZAD após o abandono do projeto do aeroporto?
Antes de ir à ZAD, eu não tinha muito contato com o meio militante. Eu esperava um despejo de fantoche, encenado para a mídia, para agradar a direita e a todos aqueles que detestam a ZAD, ajeitando as coisas para que o tema fosse esquecido. Para explicar o incrível desencadeamento da violência que ocorreu, vejo duas razões, sem dúvida parcialmente complementares. Em primeiro lugar, as forças de segurança são um poder de decisão completo. Os policiais móveis não queriam uma expulsão para a mídia: eles queriam um confronto, para lavar a afronta de 2012 – o Estado não tinha, em geral, nenhuma vontade de contrariá-los. Na véspera dos despejos, os jornalistas que estavam na ZAD receberam textos de pessoas próximas ao governo alertando-os contra os policiais que se tornaram incontroláveis.
Então, e acima de tudo, devemos acreditar que o Estado tem medo de um contrapoder enraizado em um território. Enquanto os contrapoderes estão difusos na sociedade, ele sabe administrá-los de todas as maneiras. Mas quando um território, por menor que seja, mostra na prática que existem alternativas, que aquilo que acontece diariamente não é uma fatalidade, aí se preocupa mais ainda. Essa manifestação de medo por parte do Estado também valida o que estávamos falando: as lutas futuras devem tentar se ancorar em territórios. É o que David Graeber recorda em seu prefácio ao livro Éloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la ZAD (Elogio das ervas daninhas. O que devemos à ZAD):
“Os líderes mundiais não se incomodam com as manifestações de raiva ou de ódio dirigidas contra eles (de alguma maneira eu suspeito que eles estejam bastante lisonjeados); o que os deixa realmente encorelizados é quando um número significativo de pessoas começa a dizer: vocês são ridículos e inúteis. É por isso que eles temem lugares como a ZAD. Alternativas tão visíveis abalam a ideia de que, apesar das repetidas crises, o sistema atual deve ser reformado para manter o status quo”.
O que pode acontecer agora neste território?
Eu não sei. O ideal seria certamente manter uma autonomia completa em relação ao Estado, ao mesmo tempo em que continuaria a estreitar a rede de solidariedade que a une a outros territórios em luta. Mas, no momento, a relação de força está, sem dúvida, longe de ser suficiente – eu alimento, talvez um pouco ingenuamente, a esperança de que em breve será... A luta jurídica que se trava neste momento para tentar uma legalização de fachada é inevitável, mas ninguém pode realmente prever no que vai dar!
Leia mais
- Ore Ywy – A necessidade de construir uma outra relação com a nossa terra. Revista IHU On-Line, Nº. 527
- O genocídio dos povos indígenas. A luta contra a invisibilidade, a indiferença e o aniquilamento. Revista IHU On-Line, Nº. 478
- Em busca da terra sem males: os territórios indígenas. Revista IHU On-Line, Nº. 257
- A Ciência em Ação de Bruno Latour. Artigo de Letícia de Luna Freire, Cadernos IHU ideias, Nº. 192
- Animais, plantas, natureza: os direitos do meio ambiente. Entrevista com Philippe Descola
- Em busca de um novo lugar para o homem e a natureza. Entrevista com Philippe Descola
- “O capitalismo nunca será subvertido, será aspirado para baixo”. Entrevista com Bruno Latour
- Bruno Latour, antropólogo e escritor: "Temos que reconstruir nossa sensibilidade"
- "Não se pode imaginar uma civilização ecológica vindo da Ásia", diz Bruno Latour. A esperança do mundo repousa muito sobre o Brasil
- ZADs: nova forma de resistir ao capital?





