18 Mai 2018
A revelação feita pela descoberta pelo pesquisador Matias Spektor, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de um memorando do diretor da CIA em 1974, William Colby, ao então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, de que Geisel autorizou execuções de “subversivos perigosos” presos pôs fim ao mito da autonomia dos chamados “porões da ditadura” à época do regime militar. Esta é uma das conclusões da entrevista da historiadora mineira Heloísa Starling, que assessorou a Comissão Nacional da Verdade (CNV) nesse período de nossa história, em entrevista ao Blog do Nêumanne. É que não se sabia até agora que a decisão sobre a vida e a morte de prisioneiros cuja vida estava sob guarda do Estado fosse tomada no Palácio do Planalto, e não nesses subterrâneos da polícia e dos quartéis das Forças Armadas.
Heloisa Murgel Starling é professora titular livre do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e coordenadora do Projeto República: núcleo de pesquisa, documentação e memória da mesma instituição. Doutora em Ciência Política pelo Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), atua como pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Seu campo principal de pesquisa está voltado tanto para o estudo da história das ideias quanto para a investigação e análises de temas próprios à tradição republicana e à tópica do republicanismo. Entre seus trabalhos mais recentes estão o livro Brasil: uma biografia (Companhia das Letras, 2015), em coautoria com Lilia Schwarcz; e o ensaio As ruas da República (1954-1964), que integra o livro Conflitos: fotografia e violência política no Brasil, 1989-1964 (Instituto Moreira Salles, 2017), organizado por Angela Alonso e Heloisa Espada. Ela também é coordenadora da coleção Arquivos da Repressão no Brasil (Companhia das Letras).
A entrevista é de José Nêumanne, publicada por O Estado de S. Paulo, 17-05-2018.
Eis a entrevista.
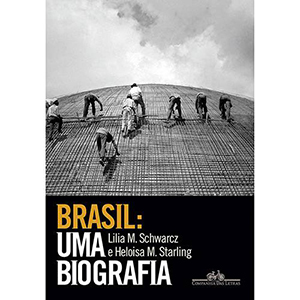
Capa do de Brasil: Uma Biografia,
de Heloísa Starling com Lília Schwarcz
A senhora surpreendeu-se com a descoberta do pesquisador da Fundação Getúlio Vargas Matias Spektor de um memorando do diretor da CIA William Cosby ao secretário de Estado dos EUA, em 1974, informando que Geisel adotou a política de execução de “subversivos perigosos”, dando a Figueiredo, chefe do SNI à época e depois seu sucessor, poder para decidir quem matar e quem salvar?
Sim. Uma coisa é aquilo que sabíamos: Geisel estava informado da política de extermínio de presos políticos. Outra coisa muito diferente é saber que o presidente da República assumiu a responsabilidade direta sobre a execução de prisioneiros políticos e, além disso, determinou que o general Figueiredo – o então chefe do SNI, cargo com status de ministro, que viria a ser o sucessor de Geisel – autorizasse pessoalmente os assassinatos. Isso é de uma gravidade imensa: o Palácio do Planalto foi o local onde se decidiram execuções sumárias de opositores políticos. A expressão “porões da ditadura” é usualmente utilizada por jornalistas e historiadores para indicar a clandestinidade em que foi praticada a política de extermínio – os porões não eram paralelos nem autônomos; o termo é utilizado para indicar que estavam ocultos dentro da máquina do Estado. Mas não se sabia até agora que “os “porões da ditadura” tinham sede no Palácio do Planalto. Também é estarrecedor – e chocante – saber que, no Brasil, num tempo que não está distante de nós, o presidente da República tinha poder de decidir sobre a vida e a morte de seus prisioneiros políticos. Isso também joga por terra o argumento de que os militares estavam envolvidos numa guerra interna, uma “guerra suja”, e as mortes seriam consequência dessa guerra. Não tem guerra: eram prisioneiros e estavam sob a guarda do Estado. Geisel levou práticas criminosas para dentro do Estado brasileiro e agiu em oposição ao fundamento legal estabelecido pela própria legislação de exceção criada pelos militares no pós-1964. A descoberta do Matias Spektor ilumina a matança e o horror que tudo isso significa – e nos deixa muito próximos do coração das trevas.
A seu ver, por ter sido emanado de um diretor da CIA e dirigido sigilosamente ao secretário de Estado dos EUA, não tendo sido produzido por testemunhos pessoais da reunião dos generais Ernesto Geisel, Milton Tavares, Confúcio Danton de Paula e João Figueiredo, paira alguma dúvida de autenticidade sobre esse memorando?
Não. Trata-se de um memorando feito pelo então diretor da CIA, William Colby, em 11 de abril de 1974, encaminhado ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, arquivado e desclassificado de acordo com as regras que regulam a divulgação pública dos arquivos norte-americanos. Nós não sabemos se o autor do relatório de onde se originou o memorando estava ou não presente à reunião. Ou se foi fruto de escuta secreta. Ou ainda se seu relatório está sustentado em relato posterior feito por um dos participantes nomeados no documento – os generais Geisel, Figueiredo, Milton Tavares e Danton de Paula. Mas isso não lança dúvidas sobre a autenticidade do documento. Possivelmente o nome do autor do relatório está encoberto pelas tarjas do memorando. O documento é autêntico, é uma fonte primária da maior relevância para a História recente do Brasil e traz informações absolutamente novas. Só não é suficiente – tem muita coisa que não sabemos e há uma investigação a ser feita que pode ampliar ou não o escopo do memorando. O memorando é nossa primeira indicação documental. É necessário suspender o sigilo dos parágrafos tarjados. É também necessário que seja suspenso o sigilo dos documentos apontados no memorando. Cabe ao Itamaraty solicitar formalmente – e insistir muito – ao governo norte-americano a liberação desses documentos, ainda classificados como sigilosos. E cabe aos historiadores pressionarem o governo nesse sentido e avançar nessa investigação. Afinal, essa é uma história que precisa se tornar pública – ela diz respeito a todos os brasileiros.
Há, se não um consenso, no mínimo uma teoria consagrada segundo a qual a ditadura militar acabou por decisão de um grupo dos próprios militares, sendo os mais graduados destes Geisel, Golbery e Figueiredo, que teriam propiciado o fim desse regime num processo controlado de abertura lenta, gradual e segura. Será que esse documento põe, pelo menos, um pingo de dúvida nessa certeza?
Creio que não. Não se deve confundir o projeto de abertura com a adoção um projeto democrático. O processo de descompressão do sistema político orquestrado pelos generais Ernesto Geisel e Golbery do Couto e Silva era uma solução autoritária construída originalmente para manter a oposição longe do Executivo. Pretendia garantir que a alternância de poder se realizasse de maneira tutelada, restrita aos círculos civis aliados, sem risco de solavancos institucionais. Iria substituir gradativamente a coerção da ditadura por um governo civil de tipo autoritário. E nenhum dos generais comprometidos com o projeto de abertura controlada almejava democracia sem restrições. “Democracia é relativa”, declarou Geisel, em 1977. O fracasso dos militares na tentativa de superar a ditadura para institucionalizar uma ordem autoritária ocorreu por várias razões. A mais evidente: eles perderam o trunfo da economia. A outra razão: as forças de oposição se organizaram num amplo arco oposicionista que fincou raízes no interior da sociedade civil e alterou o ritmo, a forma e a linguagem do enfrentamento político com a ditadura. O engajamento das oposições foi expresso num único slogan, “Pelas liberdades democráticas”. Não se tratava mais de “derrubar a ditadura”, como pretenderam fazer as organizações revolucionárias de luta armada durante a década de 1960, e sim de “derrotar a ditadura”, deslocando a ênfase da movimentação oposicionista para a ocupação dos caminhos legais disponíveis de atuação política. Foi a partir desse giro que os brasileiros começaram a definir como seria o caminho para reimplantar a democracia no Brasil e a reconhecê-la de outra maneira. Não mais como uma etapa ou uma ferramenta para se travar uma batalha maior – a revolução socialista, por exemplo –, mas como um objetivo a ser construído e um valor em si mesmo. A democracia era uma forma de sociedade e estava acima de qualquer regime de governo.
A senhora trabalhou duramente na busca de documentos para reforçar as investigações da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Até que ponto as Forças Armadas a ajudaram nessa pesquisa?
No meu caso não ajudaram. Em minhas pesquisas sobre a ditadura, desde minha dissertação de mestrado, não contei com a colaboração das Forças Armadas.
A ausência dessa documentação oficial tem permitido que grandes revelações sobre o golpe de 1964 e a ditadura dele proveniente encontrem mais fontes primárias nos EUA do que aqui. Citando de memória, lembro o caso do filme de Camilo e Flávio Tavares especificamente sobre 1964 e o furo que Marcos Sá Corrêa deu sobre o deslocamento da frota dos EUA para evitar surpresas para os ianques na chamada Revolução de 1964. Passa-lhe pela cabeça aprofundar a pesquisa iniciada para a Comissão da Verdade nos arquivos americanos?
A historiografia produzida nas últimas décadas sobre a ditadura militar é muito rica, temos excelentes historiadores e jovens pesquisadores continuam debruçados sobre o tema. Também temos jornalistas investigativos muito competentes. Tenho certeza que a pesquisa nos arquivos norte-americanos em busca de documentos inéditos vai ser realizada com sucesso. Afinal, não é um procedimento novo. Você lembrou bem que foi um jornalista extraordinário, Marcos Sá Corrêa, que localizou os documentos referentes à Operação Brother Sam, um amplo plano de ação preparado em Washington com a cumplicidade de militares brasileiros para providências de apoio aos golpistas. A operação incluía um porta-aviões de ataque pesado, o Forrestal, um porta-helicópteros, um posto de comando aerotransportado, seis contratorpedeiros – dois deles equipados com mísseis teleguiados –, 110 toneladas de armas e munição e quatro navios petroleiros bélicos carregados com 550 mil barris de combustível. Creio que foi a primeira vez que os arquivos norte-americanos contaram aos brasileiros um pedaço de sua História recente.

Capa de Os senhores das Gerais
Não sou historiador, nem pesquisador, nem sequer jornalista especializado no assunto, mas em meus 50 anos de jornalismo profissional não me parece lógico que os militares não tenham destruído evidências que comprometessem sua atuação à época dos governos que controlaram. A senhora chegou a acreditar, no começo de seu trabalho, que encontraria alguma? A ausência de qualquer documento a frustrou?
Sem dúvida é frustrante e, sobretudo, inconvincente. Existe um paradoxo muito bem apontado pela historiadora Mariana Joffily. O Brasil detém um acervo público respeitável em volume de documentação sobre o período da ditadura militar. No entanto, nesse acervo não existem informações documentais sobre sequestro, tortura, assassinato, ocultação de cadáveres, infiltrações. Os acervos que poderiam trazer essas e outras informações – Cenimar, Cisa, CIE, CIEx e as unidades dos Codi-DOI – nunca vieram a público. Também sabemos pelo livro do jornalista Lucas Figueiredo (Lugar Nenhum: Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura, Companhia das Letras, 2015) que o Cenimar microfilmou seus arquivos pelo menos até o ano de 1974. Entre 1972 e 1973 foram microfilmadas 1.213.230 páginas de documentos, incluindo 42.777 páginas com dados sobre “mortos”. Nunca foram trazidos à luz da cena pública. Também não conhecemos, escreve Lucas, os devidos termos de destruição que permitiram a eliminação legal de documentos públicos, pelos militares, em operações de rotina. É lamentável que a História recente do Brasil seja contada pelo Departamento de Estado norte-americano. Mas se de fato não sobraram documentos no Brasil, talvez seja o caso de as Forças Armadas apoiarem publicamente a solicitação para a liberação desses documentos ainda classificados como sigilosos nos EUA. É importante também para a instituição conhecer sua própria história.
Com a ajuda de presos no DOI-Codi de São Paulo, inclusive o saudoso colega dirigente comunista Marco Antônio Tavares Coelho, mineiro como a senhora, publiquei num movimento coordenado com os jornalistas Boris Casoy, então diretor de redação da Folha de S.Paulo, e Evaldo Dantas Ferreira, diretor de O São Paulo, órgão oficial da Arquidiocese de São Paulo, uma reportagem no Jornal do Brasil sobre métodos e instrumentos de tortura naquela delegacia da rua Tutoia. Desde então, parece-me que a ditadura ruiu muito mais por causa da briga interna entre Ernesto Geisel e Sylvio Frota, com participação de Ednardo D’Ávila Mello, que resultou no assassinato de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho, do que da abertura de cima para baixo. A seu ver, o documento revelado reforçaria essa hipótese?
Creio que não. A ditadura ruiu principalmente pelo que discutimos na questão 3. O culto ecumênico em memória de Herzog foi o marco a partir do qual a sociedade recuperou seu acesso ao espaço público e as forças de oposição começaram a formar um amplo arco de alianças para dar combate à ditadura. O núcleo aglutinador da aliança oposicionista era a exigência de retorno ao Estado de Direito e a reivindicação dos direitos de cidadania e, dali em diante, as oposições iriam avançar persistentemente no rumo da retomada democrática – e não na direção do projeto de abertura controlada proposto pelos generais. E demorou 11 anos contados a partir da realização do culto até que o último general da ditadura deixasse o palácio do Planalto. O memorando da CIA sugere um confronto intestino de facções, nos termos de Maquiavel: as facções são ruinosas ao Estado porque subvertem as leis a seu favor, promovem a corrupção das instituições por perseguirem seus próprios interesses dentro da esfera pública, são atravessadas por rivalidades e oposições e geram divisões artificiais dentro do corpo político.

Corisco, cabra de Lampião, com sua cadela, Jardineira. (Foto: Benjamin Abrão, exposta no IMS/Rio)
A direita dita chucra atribui a divulgação dada ao documento da CIA a Kissinger a uma tentativa de evitar a eventual vitória eleitoral de seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Esse é um delírio autorreferente, é claro, mas é também um pretexto para lhe perguntar se o aparecimento desse documento neste terrível embate eleitoral que vivemos exercerá alguma influência no resultado final da eleição de 2018?
O memorando, em si, eu não creio. Desse ponto de vista, dos defensores da ditadura, ele já está sendo desqualificado. Determinados grupos ou setores da sociedade brasileira hoje são abastecidos por informações fraudulentas, mas capazes de fornecer ao sujeito que as consome uma visão coerente do mundo – mesmo que essa visão esteja em flagrante contradição com os dados da realidade. Esses grupos também praticam o exercício da mentira como categoria política e isso consiste em negar, reescrever e alterar fatos, até mesmo diante dos próprios olhos daqueles que testemunharam os fatos. Isso é preocupante no Brasil de hoje.
A senhora está entre os que acreditam que o barulho produzido pelos nostálgicos da ditadura militar nas redes sociais se traduzirá em votos que levariam Bolsonaro ao segundo turno contra um candidato de esquerda, ou acha que tudo não passa de areia molhada jogada nos olhos da Nação, órfã neste momento difícil de crise por que passamos?
Não sei se entendi corretamente a sua pergunta. Evidentemente, não há nada errado em ser de direita, conservador e democrático. O problema é que existe hoje no Brasil, no campo político das direitas, uma vertente que não tem nada de liberal e é profundamente autoritária. Ela se alimenta da mentira na política, como eu disse, do ressentimento que faz o sujeito se enxergar como vítima de alguém mais poderoso que cometeu com ele uma injustiça irreparável – como a de suprimir seus privilégios históricos. E de um ingrediente de efeito direto: da disseminação da intolerância, que nega qualquer divergência e elimina o horizonte da igualdade. Creio que essa é a base eleitoral de Jair Bolsonaro – e que defende a ditadura militar e seus crimes. Não sabemos seu tamanho real nem qual será sua capacidade de expansão, se conseguirá capturar a insatisfação difusa ou o desprezo pela política, veiculados por alguns grupos sociais. Mas eu não recomendaria subestimar essa vertente
Na exposição Conflitos: fotografia e violência política no Brasil (1889-1964), com a qual colaborou, no Instituto Moreira Salles no Rio, a senhora revelou interesse acadêmico intenso pela consolidação de nossa democracia. Pelo que tem observado, essa consolidação, desde a frustrada esperança em Tancredo Neves até hoje, tem evoluído a ponto de dizermos que nossas instituições estão, finalmente, funcionando?
Quando Lilia Schwarcz e eu terminamos de escrever Brasil, uma Biografia, em janeiro de 2015, o livro não fazia nenhuma previsão categórica acerca do futuro, mas trazia uma boa dose de expectativa sobre a maneira como o País iria usar os novos ativos políticos, criados no mais longo período democrático da nossa História republicana. Pelo menos até 2014 qualquer indicador de curto prazo usado para medir a qualidade da democracia num país – procedimental, comparativo ou histórico – confirmava que escolhas sensatas haviam sido feitas e o Brasil se abriu ao século 21, com um sistema político democrático recente, mas razoavelmente fortalecido. Alguma coisa, contudo, não andou nada bem. Entre 2015 e 2017 uma mudança vertiginosa sucedeu, a qualidade da nossa democracia foi posta em dúvida, os procedimentos democráticos entraram em crise, as instituições estão sendo minadas e funcionando mal, a democracia está em desamparo. A pergunta dos cientistas políticos, historiadores, jornalistas é a mesma: o que está acontecendo no Brasil? A História do Brasil não traz uma perspectiva de destino – ela é feita de escolhas e de suas consequências. O final de toda procura é o encontro. E esse encontro poderá ser desta ou daquela maneira, dependendo da deliberação, escolha e ação dos brasileiros. Mas, nem sempre são fáceis os encontros e não existem escolhas simples. Fica a pergunta: o que está acontecendo no Brasil?

Prisão de jagunços pela cavalaria em Canudos. (Foto: Flávio de Barros, exposta no IMS/Rio)
Leia mais
- “O debate público tem sido substituído pela intolerância", diz historiadora
- Geisel soube e autorizou execução de opositores políticos, indica documento da CIA
- "Nem a democracia nem a República estão consolidadas", diz Lilia Schwarcz
- Não é de hoje que a violência é marca da política brasileira
- Livro revela pacto entre militares e civis para ocultar arquivos da ditadura
- Riocentro: documentos revelam que Figueiredo encobriu atentado
- Documento da CIA sobre Geisel é perturbador
- Documentos mostram evangélicos nos porões da ditadura
- Presidente ordenou extermínio na ditadura, diz Comissão
- 'Sempre soube que tinha sido o Geisel', diz irmã de guerrilheiro do Araguaia morto na ditadura
- Documento da CIA relata que cúpula do Governo militar brasileiro autorizou execuções
- Homenagem ao general Golbery provoca revolta em cidade gaúcha
- A história de resistência e morte dos povos indígenas na ditadura militar
- Livro esmiúça ingerência dos EUA em sindicatos brasileiros na ditadura militar
- Ministro da defesa libera visita de Erundina ao antigo Doi-Codi
- CIA. Uma história de torturas
- “60% dos que indicam voto em Bolsonaro são jovens”. Entrevista com o diretor do Datafolha
- Antonio Candido e sua lufada de ar na forma de ver o Brasil. Entrevista especial com Lilia Moritz Schwarcz
- ‘Último prego no caixão de Geisel’, diz coordenador da Comissão da Verdade sobre memorando da CIA
- A CIA achou que Geisel dominaria a 'tigrada'
- Hildegard Angel: Minha mãe foi morta por ordem de Geisel
- 1964. Um golpe civil-militar. Impactos, (des)caminhos, processos. Revista IHU On-Line, N° 437.








