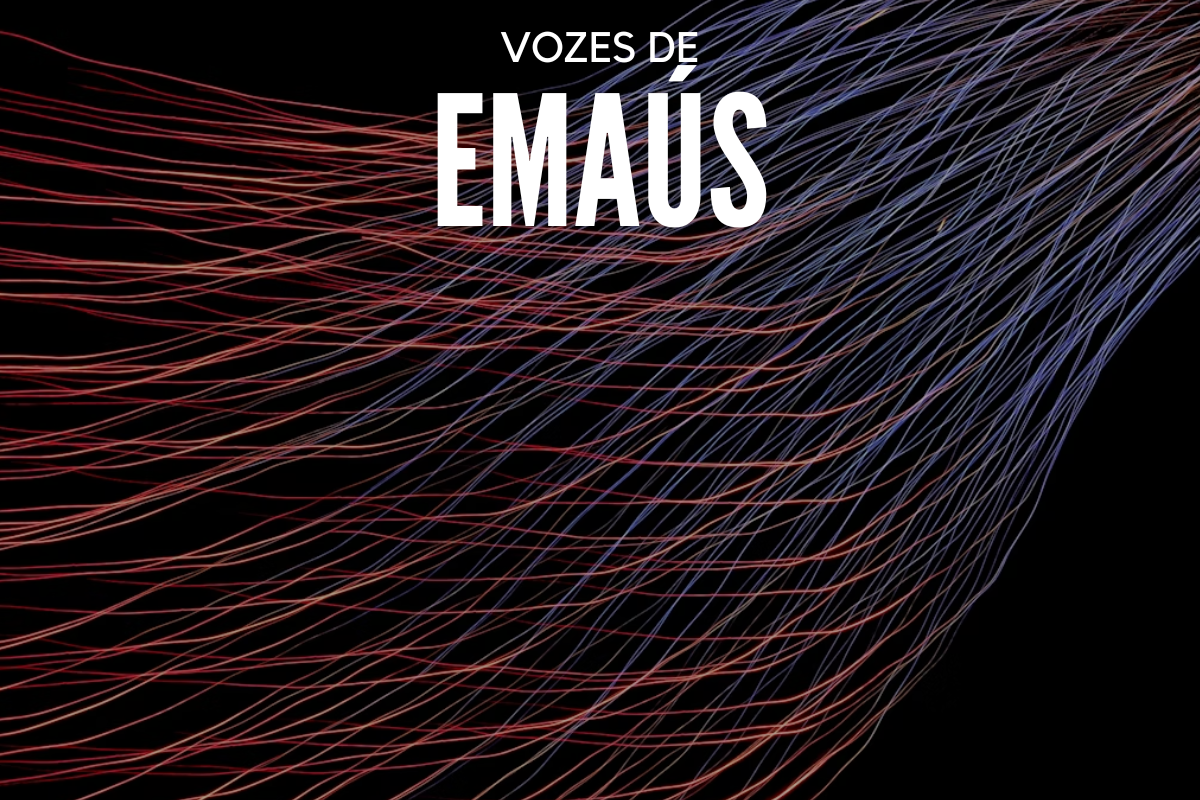26 Janeiro 2018
Deixamos de ser protagonistas. De vez. E é este gosto amargo que fica na boca. Não se trata de Lula. Trata-se de confiarmos na possibilidade de o futuro ser construído por nós.
O comentário é de Rudá Ricci, sociólogo e cientista político, em artigo publicado por Fórum, 25-01-2018.
Eis o artigo.
Ontem, a página da história virou. Sei que, como diz minha esposa (que é historiadora), a história acontece todos os dias, todos os minutos. Mas, assim como a poesia transforma algo pueril em som especial, há momentos desta história cotidiana em que se quebra um vínculo com o passado. Foi o que ocorreu ontem.
Em 1979 eu tinha 17 anos. Vivia em São Paulo para fazer o último ano do ensino médio (que se chamava, na época, colegial) e tentar ingressar na faculdade. Participei de todos movimentos de redemocratização do país que explodiam em cada esquina da capital paulista. Não se tratava de política, apenas. Era um giro. A tal virada de página. Tudo se alterava: o jeito de dar aula (com Marilena Chauí na vanguarda), o jeito de se educar (com a volta de Paulo Freire), o jeito de se pensar a justiça (a Constituinte era tema central em bares descolados onde artistas esbarravam em estudantes e políticos), o jeito de se pensar e fazer arte (você entrava em qualquer ateliê ou ensaio de grupos experimentais de música à luz do dia ou entrava na casa de cineastas sem bater, apinhadas de gente como uma grande, democrática e confusa república de estudantes), o jeito de se discutir (com debates sobre sexualidade nos auditórios do Hospital das Clínicas ou no “Pátio da Cruz” da PUC-SP), o jeito de se fazer música (ouvindo a obrigatória coluna de Maurício Kubrusly sobre a nova música paulistana, do Premeditando o Breque, do Grupo Rumo ou do experimentalismo de Arrigo Barnabé). Era ousadia pura.
Na política, nada era mais novo que a greve dos metalúrgicos. E, tinha Lula. Lula tinha ironia e deboche. Mas, desde aquele momento, Lula não era dono de sua imagem. Era interpretado. O primeiro libelo do Partido dos Trabalhadores foi um artigo de Francisco Weffort publicado na Folha de S. Paulo. Lembro vagamente do conteúdo, embora recorde com facilidade do impacto que me causou. Ele dizia sobre um momento marcante e definitivo da política nacional, quando os trabalhadores entravam pela porta da frente. Não eram objeto de discursos de lideranças de classe média, mesmo as mais bem-intencionadas, mas eram donos de seus próprios discursos. O artigo discorria sobre uma meia-verdade. E ele era a prova da outra parte que não dizia. Weffort era sociólogo reconhecido. Havia escrito uma tese famosa sobre uma greve espetacular que havia ocorrido em plena ditadura militar. Havia criticado duramente o populismo trabalhista. Era um intérprete. Foi um dos intérpretes de Lula. Diziam que ele escrevia alguns dos discursos de Lula, após a fundação do PT, e cometia alguns erros gramaticais para manter um tom de originalidade. Trabalhei com b, anos mais tarde, mas nunca tive coragem de perguntar se este boato tinha sentido. Imagino que, mesmo se tivesse, ele negaria.
O fato é que o movimento libertário do final dos anos 1970 – e que invadiria toda a década seguinte até o ápice da constituinte de 1987 ou das eleições de 1989 – não foi um desenrolar de acontecimentos, mas uma interpretação de toda uma geração sobre o presente que apontava para um futuro distinto. Aqui é o marco de minha geração. Ao menos, parte dela que mergulhou nesta construção do futuro. O que ocorre agora, não é construção de um futuro, mas a destruição deste potencial. Explico: minha geração sentia que tudo estava para ser construído. Não era reconstrução, mas construção. Algo novo, não uma reforma. E, por este motivo, reinterpretava e interpretava tudo o que ocorria. Os acontecimentos tinham que ter um sentido, se encaixar nesta tarefa empolgante e coletiva de construir um país. Mergulhamos, de cabeça.
O tom destoante, que se destacaria a partir de meados dos anos 1990, eram José Dirceu e as centenas de ativistas que o seguiram. Diria que era a faceta racional no interior de um movimento passional. A reinterpretação do Brasil – que enquadrava em perspectiva a figura de Lula, sempre controversa – era marcada pelas pulsões libertárias. Pulsão é uma espécie de catarse, um jorro de desejo, uma explosão de sentimentos e sentidos que dão cor à vida. Era assim que o petismo – apenas a ponta do iceberg das mudanças que uma geração promovia – reinterpretava todo racionalismo da esquerda dos anos anteriores. Reinterpretava as intenções tímidas do MDB, a linha justa e o amplo arco de alianças promovido pelo PCB, o populismo que sequestrava o protagonismo dos trabalhadores dirigido pelo PTB ou pelo brizolismo. Na política, falava-se do protagonismo dos trabalhadores, sem intérpretes, mas que eram interpretados por jovens, pesquisadores e jornalistas. Lula era o artista que criava o “efeito stand up”, aquela tirada surpreendente para falar sobre algo que já sentíamos, mas que não tinha sido racionalizada em palavras. Lula não era o que ele pensava ser. Era nosso intérprete. O intérprete de uma geração. Um intérprete criado por nós.
O que os juízes de ontem não parecem se dar conta é que não julgavam Lula. Nem sei quais eram suas intenções e isto pouco importa. Mas eles julgaram todo um movimento libertário que começou a ser deformado na segunda metade dos anos 1990 pelo velho e carcomido racionalismo de parte da esquerda, que havia sido criticada pelos movimentos libertários de 1980.
O final do jorro da década libertária do Brasil já aparecia no final dos anos 1990. Era como um gosto amargo na boca depois de uma ressaca. Mas, como uma ressaca, basta um comprimido e muita água para se ter a certeza que logo tudo voltará ao normal. Nem sempre volta. A vitória de Lula não era mais a vitória dos libertários dos anos 1980. Era algo mais racionalizado e enquadrado em esquemas mentais, em discursos fabricados em gabinetes fechados. A vitória de Lula foi programada por quem queria interpretar a sociedade. O inverso do que ocorrera duas décadas antes. Nós, os da rua, tínhamos perdido o protagonismo da mudança, mais uma vez. Mas, mesmo assim, o “artista que sintetizava o que sentíamos” tinha chegado ao poder. Seu ápice era uma espécie de prêmio de consolação do que, um dia, imaginávamos ser o futuro. Não era aquele futuro radiante, mas era como se um velho conhecido, já com rugas e voz pastosa e grave, tivesse conseguido chegar lá. Não exatamente nos representando ou representando aquele momento espetacular em que sentíamos que estávamos construindo o futuro. Era mais adequação ao presente.
O governo Lula cometeu vários erros em nome do racionalismo, mas cometeu vários acertos. Para minha geração, tenho a impressão, o maior acerto foi combater a pobreza e a fome. Não tenho receio de dizer que era apenas um dos pontos de pauta que criavam uma identidade no passado. Mas, ao menos um, Lula e o lulismo haviam conseguido cumprir. Para muitos, já bastava, dava sentido ao passado. Para outros, não bastava, mas justificava a crença que tínhamos na mudança em algum ponto do futuro.
Pois bem, foi este futuro e esta geração que pensava poder construir o futuro que foram julgados no dia de ontem. Viramos a página de nossa história. Não para a frente, mas para trás. Voltamos décadas. E, o mais importante, não viramos a página pela vontade das ruas, dos jovens, dos artistas, dos crentes. A página foi virada por quem existe para manutenção da ordem vigente. E, como afirmei, uma ordem construída pelo racionalismo que procurou nos interpretar e nos conduzir.
Deixamos de ser protagonistas. De vez. E é este gosto amargo que fica na boca. Não se trata de Lula. Trata-se de confiarmos na possibilidade de o futuro ser construído por nós.
Leia mais
- "O problema do Brasil não é 2018, mas 2019". Entrevista especial com Rudá Ricci
- O principal problema do Brasil não é a corrupção, mas a desigualdade. Entrevista especial com Rudá Ricci
- Eleição do desencanto do eleitor. 'Não temos mais um partido hegemônico de esquerda no Brasil'. Entrevista especial com Rudá Ricci
- ¿Cuál será el reposicionamiento político de la izquierda brasilera pos juicio político? Entrevista especial con Rudá Ricci
- O plano B de que Lula precisa para sobreviver
- Como a televisão brasileira cobriu o julgamento de Lula?
- Situação de Lula mergulha eleições de 2018 em insegurança política e jurídica
- Afinal, se condenado Lula pode ser candidato?
- "Lula só não começa a campanha em agosto se o PT ou ele não quiserem"
- Lula durante ato em São Paulo: “Quero avisar a elite que espere, porque nós vamos voltar”
- Histórico, julgamento de Lula leva novos ressentidos ao banco dos réus
- O julgamento e os impactos políticos da condenação do ex-presidente Lula. Algumas leituras
- Julgamento de Lula faz bolsa disparar e dólar cair
- No bastião perdido da esquerda, eles queriam proteger Lula de sua pior derrota
- Chance de julgamento definir futuro de Lula é 'zero', diz diretor de consultoria nos EUA
- Processo contra Lula é mais político e ideológico do que construído sobre as bases do direito público. Entrevista especial com Roberto Romano