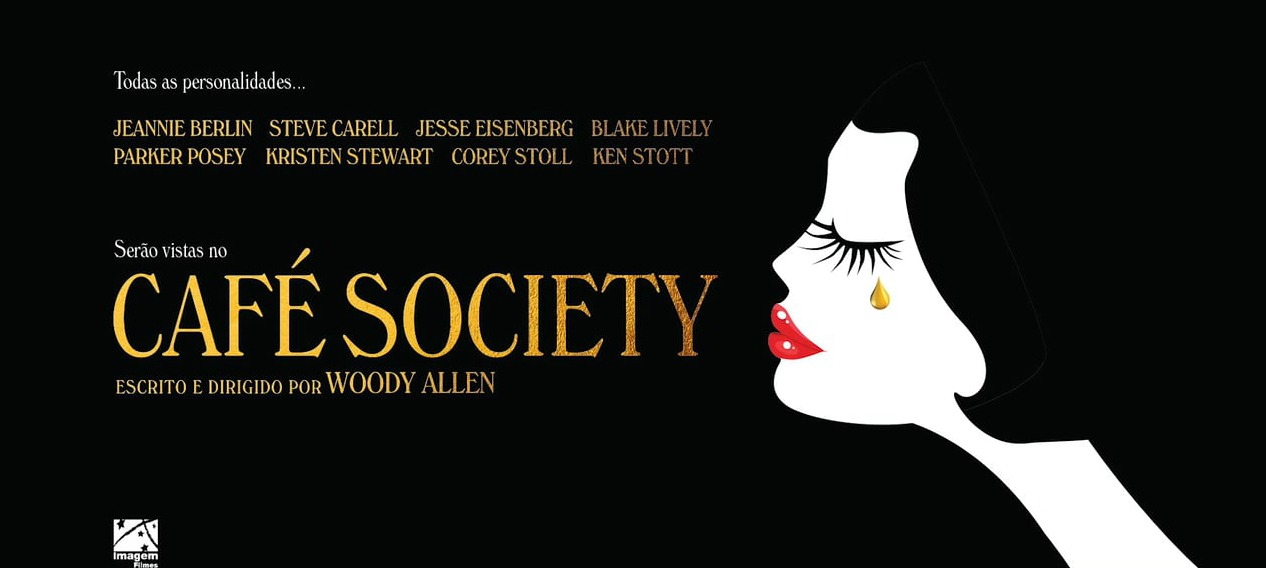16 Mai 2017
Hoje, nos despedimos da criatura de Ridley Scott na saída do cinema e vamos comer uma pizza. Antes, ele nos fecundava na poltrona e voltava pra casa com a gente. O que aconteceu?
A reportagem é de Eliane Brum, escritora, repórter e documentarista, publicada por El País, 15-05-2017.
Eis o texto.
(Aviso de Spoiler: se não assistiu ao recém lançado Alien Covenant e quer assistir, não leia este texto antes disso.)
É numa poesia do início do século 19 que está a chave para a tragédia, a da humanidade e a do criador de Alien, o oitavo passageiro.
“...E no pedestal tais palavras aparecem:
‘Meu nome é Ozymandias, o rei dos reis:
Vejam minhas obras, ó fortes – desesperem-se!’
Nada resta: junto à ruína decadente
e colossal, de ilimitada aridez,
areias, lisas e sós, ao longe se estendem.”
No recém lançado Alien Covenant, a poesia é evocada por um robô, ou “sintético”, como é chamado no filme. Seu nome é David, como a estátua de Michelangelo. David conversa com outro sintético, chamado Walter. E ele diz a Walter que a poesia é do poeta inglês Byron. Neste momento, alguns têm um sobressalto na plateia: Ridley Scott, o diretor do filme, errou? Os roteiristas erraram? Não é possível cometer um erro como este num filme desta magnitude. O que então ele quer dizer? Mais tarde, Walter esclarece a David, de um irmão androide para outro: a poesia não é de Byron, mas de outro poeta, Percy Shelley.
O erro daquele que foi projetado para não cometer erros aponta que o androide se humaniza. E a tragédia, para os humanos da espaçonave Covenant, é justamente a humanidade do sintético. Ao pensar por si mesmo, ao ser capaz de fazer suas próprias escolhas, David conclui que a humanidade é um erro. E, assim, os 2 mil colonos que viajam na nave para um planeta onde poderão recomeçar, na opinião de David, não têm direito à “ressurreição”. A espécie humana, que destrói seu próprio planeta, não deve ter direito a um novo paraíso que possivelmente também irá destruir. David, o robô que se humaniza, está errado ao pensar assim? Ou esteve errado apenas ao confundir Byron com Shelley?
Talvez a resposta esteja no nome que não está lá, mas está. Mary Shelley, mulher de Percy e amiga de Byron, é a autora de Frankenstein ou O Prometeu Moderno, a obra clássica em que um cientista ousa ser deus e criar vida. Sua criatura, como sabemos, é feita de pedaços de humanos mortos e, ao “nascer”, não é fisicamente perfeita como seu pai a idealizava e por isso é rejeitada. Mas o “monstro” olha para os humanos, não para o seu corpo, mas para a sua alma, e também se horroriza.
A monstruosidade deste filho renegado é também a de apontar a monstruosidade do pai. Em Alien Covenant, em certa medida, acontece o mesmo. David, o androide humilhado por seu criador e pela humanidade, despreza a espécie enquanto se humaniza mais e mais em seu percurso trágico. O diferente iguala-se aos que o renegam exatamente quando os destrói.
Sobre criadores e criatura
O diretor britânico Ridley Scott, hoje com 79 anos, dirigiu o filme fundador – Alien, o oitavo passageiro (1979) – e a obra foi decisiva para torná-lo um dos realizadores mais importantes da segunda metade do século 20. Em seguida, ele faria outro clássico da ficção científica, Blade Runner, o caçador de androides (1982), baseado na obra de Phillip K. Dick, que volta neste ano dirigido por outro cineasta. No primeiro thriller da saga Alien, o “monstro”, um organismo perfeito com grande poder de destruição e um apetite feroz pela vida, arrasa a tripulação da nave Nostromo. O filme já se tornou um clássico da ficção científica – ou do terror espacial – e criou uma horda de Alienmaníacos.
Para os menos obcecados por Alien, é preciso explicar que, depois deste primeiro filme, houve três outros. O segundo – Aliens, o resgate (1986) – foi dirigido pelo canadense James Cameron. Ele já tinha feito pelo menos um sucesso, O Exterminador do Futuro, e depois faria vários outros, como Titanic e Avatar. Alien 3 (1992) teve uma produção conturbada e foi dirigido pelo americano David Fincher, um estreante no cinema que mais tarde faria filmes importantes como Clube da Luta e A Rede Social. O quarto – Alien, a Ressurreição (1997) – é do francês Jean-Pierre Jeunet. Ele já tinha se tornado conhecido por Delicatessen e, curiosamente, depois de um Alien perturbador, faria o hit da fofice máxima: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Ridley Scott viu portanto seu filho mais original arrasar pelo menos mais um planeta e viajar clandestino em diferentes espaçonaves pelas mãos de outros enquanto ele empreendia seus diferentes projetos cinematográficos. É só anos depois, já na segunda década deste século, que ele decide reapropriar-se de sua criatura para enfrentar a pergunta não respondida pelos seus sucessores: a origem de Alien e os porquês. O primeiro filme chama-se Prometheus, lançado em 2012. Alien Covenant, agora nos cinemas, é o segundo filme. E anuncia-se que pelo menos mais dois virão por aí.
Já não há mais futuro – nem espaço
Ozymandias, o poema de Percy Shelley, evocaria Ramsés II, um dos mais poderosos faraós do Egito, reduzido a uma estátua arruinada no deserto. Em Alien Covenant, o poema é lembrado para expressar a derrocada dos pais criadores da humanidade, buscados e encontrados em Prometheus. E anunciar a derrocada dos humanos, pais criadores dos robôs que travam o diálogo. O poema fala da efemeridade do poder e fala também da mortalidade e do esquecimento. Do pó de onde viemos e do pó para onde voltaremos enquanto a vida segue seu curso sem aquele que um dia se considerou insuperável – e indestrutível. Em Alien Covenant, não apenas um indivíduo, mas uma espécie inteira.
Ozymandias tem sido uma referência na cultura pop. Nomeou, por exemplo, o capítulo decisivo de Breaking Bad, uma das mais cultuadas séries de TV deste momento em que as séries se tornaram a expressão cultural que melhor reflete o tal do espírito do tempo. Quando tomamos uma referência do passado para falar do futuro no presente, como faz Ridley Scott, corremos o risco de que a citação nos cite para além do que desejamos.
Talvez Ozymandias aponte aqui para a impossibilidade de criar um futuro distópico que já não pertença ao passado. Ou, dizendo de outro modo: o futuro distópico é passado. Alguns meses atrás escrevi aqui sobre os efeitos sobre o presente de não se conseguir imaginar um futuro que não seja uma distopia, na medida em que o presente é também determinado pelo futuro que somos capazes de imaginar. Alien Covenant talvez aponte para a impossibilidade desta época de imaginar qualquer futuro, mesmo um distópico.
Esta é uma das minhas hipóteses para a perda de potência de Alien como obra capaz de dialogar com nossos horrores mais profundos, algo que os primeiros quatro filmes fizeram de forma magistral. A nova saga é, em certa medida, muito menos um conto de terror e mais uma tentativa de criar uma distopia. Mesmo quando se volta para o passado de Alien, ou da própria criação humana, é no futuro que Ridley Scott mira. Mas talvez já não seja possível criar um futuro distópico, o que faz com que a nova saga também se enrede em citações e criações de outros sem conseguir criar uma síntese própria. Pelo menos até agora.
Esta é a tragédia de Ridley Scott como pai criador deste tempo. Ele é, como boa parte da população atual, um humano do século 20 que chega ao 21 mergulhado num presente que é, ele em si, uma distopia. Mas uma distopia em que as referências já não dão conta. Busca-se desesperadamente nossos mitos fundadores, recicla-se os personagens arquetípicos e reedita-se as tragédias clássicas, mas já são oráculos sem respostas porque nós, que os interrogamos, estamos condenados ao presente. Já não há nem mesmo como contar com o espaço como fuga. E a Terra, o único planeta que temos, se assemelha cada vez mais a uma nave superpovoada e avariada demais, da qual nada indica que se possa sair.
E, assim, giramos todos em falso. E o filme de Ridley Scott gira também em falso. Paralisados pela impossibilidade de imaginar um futuro, qualquer futuro, já não conseguimos dialogar com nossos mitos como antes. É este o vazio que, contrariando a lógica, não se preenche. Não a falta que produz movimento de busca, mas o vazio paralisante.
A nave já não é a caravela que nos leva ao novo mundo – ou ao paraíso perdido. A nave é o presente onde estamos confinados. Nos brancos corredores claustrofóbicos viajamos com a destruição que carregamos.
Para dizer que não falei de mães
No primeiro Alien, assim como nos três filmes que se seguiram a ele, havia dois protagonistas. Este outro que chamamos de monstro – ou de “xenomorfo”. E a humana que luta contra ele, interpretada por Sigourney Weaver. Alien, a criatura, foi criada por um artista suíço fascinante, H.R. Giger. Ele criava a partir de seus sonhos, que anotava.
E, durante a criação de Alien, conta que leu também “o livro dos sonhos” de Freud. A criatura é uma criação coletiva de todos os envolvidos, mas tem o DNA inconfundível de Giger. E ela vêm do espaço insondável do inconsciente, de tudo aquilo que fica hibernando à espera de uma chance de emergir. Tudo aquilo que somos nós e os outros que habitam nossas profundezas abissais. O espaço, o desconhecido, está dentro, não fora.
É por ser feito da matéria dos sonhos que Alien, o primeiro, provocou tanto horror e identificação na plateia e tornou-se aquele pesadelo que precisamos repetir e repetir e repetir mais uma vez. Como as crianças que pedem que a história perturbadora seja contada de novo e de novo e de novo. Alien é um conto de fadas para adultos que dialoga com nossos medos mais profundos e inconfessáveis. Todo criador é um intérprete. Ao dar carne ao pesadelo, transformando-o numa criatura, num alienígena que é, ao mesmo tempo, estrangeiro e íntimo, seus criadores engendraram algo original.
Alien, a criatura, aparece pouco e sempre rapidamente no primeiro filme. Feito da matéria dos sonhos, ele só pode ser vislumbrado. Quando aparece, o monstro segue de certa forma oculto. Não fosse esta a decisão dos realizadores, Alien possivelmente seria apenas um filme B de terror espacial que seria logo esquecido.
Na sua primeira aparição, a criatura arrebenta o peito de um homem de dentro para fora. É assustador, mas não apenas porque é assustador em si, mas porque é um parto. Não apenas o medo, mas uma perturbação profunda e visceral, provocada pela cena, faz com que muitos deixem a sala de cinema. Ao ter contato com os ovos da criatura desconhecida, um homem foi violado e fecundado pela boca, como assistimos em cenas anteriores, e agora um bebê Alien nasce do seu peito. E o mata ao nascer.
A criatura que se esconde e cresce com velocidade nos corredores escuros da espaçonave evoca um falo.
Neste primeiro filme, estabelece-se que a protagonista que combate o alienígena e sobreviverá a ele é uma mulher. Sigourney Weaver, a tenente Ripley que estará nos quatro primeiros filmes, é muito alta, magra, cabelos curtos. Já na estreia, Alien esboça que é (também) um conto de terror erótico no cinema. E o erotismo velado, o erotismo que conversa com nossas pulsões mais profundas, é parte do sucesso que leva ao constante retorno de Alien. Não custa lembrar que, ao final, Ripley extermina – ou literalmente manda para o espaço – este pinto gigante e ameaçador, o alienígena que penetrou na nave. E que retornará no próximo filme. E no próximo. E no próximo.
A partir do segundo filme, o confronto torna-se quase que exclusivamente feminino. Ou materno. Sabemos logo no início que a tenente Ripley vagou no espaço por mais de 50 anos depois do primeiro embate com Alien, como única sobrevivente da nave Nostromo. Ao finalmente ser encontrada e despertada, ela descobre que sua filha já havia morrido de velhice. Enquanto Ripley dormia, o planeta em que sua tripulação encontrou o Alien foi colonizado. E agora a empresa que financiou a ocupação e a controla envia Ripley de volta porque há sinais de que a população foi dizimada.
Ripley encontra uma única sobrevivente, uma menina que tem a idade aproximada da filha que deixou. Descobrimos então que a criatura se reproduz de forma semelhante a das abelhas. Há uma rainha, e ela protegerá sua prole. O embate passa a ser entre estas duas mães terríveis, a humana e a outra. Cada uma delas garantindo a continuação de sua espécie. Primeiro, ambas enviam seus respectivos soldados. Depois, o embate é entre elas duas. James Cameron foi brilhante ao filmar esse encontro de maternidades ferozes.
Não é todo filho um alienígena enquanto se engendra nos interiores da mãe?
Mas o mergulho neste feminino visceral torna-se mais complexo a partir do terceiro filme, de David Fincher, que se passa num planeta que é todo ele uma prisão de segurança máxima só ocupada por homens, parte deles convertida a uma espécie de religião evangélica. Ripley descobre ao despertar que perdeu também a filha adotada, aquela menina que tinha conseguido salvar. E, mais uma vez, a protagonista penetra um mundo totalmente masculino. Cercada por homens, e um deles tentará estuprá-la, é ela quem decidirá o futuro. Mais uma vez.
Ripley descobre que foi fecundada pela criatura. Dentro dela há uma rainha que agora é parte dela mesma. Ripley faz uma escolha: sacrifica-se, suicidando-se, como única forma de matar a filha indesejada que carrega. Incinera-se. Não é todo filho um alienígena enquanto se engendra nos interiores da mãe?
E assim a saga Alien vai alcançando novas camadas de tabus e de pesadelos. Esta cena, que é ao mesmo tempo um sacrifício e um filicídio, é belíssima.
No quarto filme, o que encerra essa primeira tetralogia, Ripley ressuscita numa nave militar como resultado de uma clonagem. Ela é humana, mas é também alienígena, já que a clonagem foi produzida a partir do que restou dela e de sua filha. O inconsciente, este lugar em que os outros que somos respiram, agora se encarna. Ripley torna-se seu pesadelo. Neste novo corpo, aparentemente humano, a criatura espia com seus olhos.
E é nesta forma que ela mata aquele que está na posição de filho. Um filho que, na transgressão da clonagem, é dela e da outra, ao mesmo tempo. A rainha, agora também com o DNA humano, não bota mais ovos. Ela agora gesta e parirá em dor. Mas entre estas duas personagens ocupando a posição de mãe com relação à criatura que nasce, mas ao mesmo tempo familiares uma da outra, o filho escolhe Ripley, a humana – ou a mais ou menos humana. E matará a alienígena – ou mais ou menos alienígena. É uma tragédia matricida. Ripley reconhece-se no olhar deste filho monstruoso e mais tarde o matará violentamente para salvar uma androide que, mesmo sintética, se parece muito mais com a filha que gostaria de ter. Ripley chora por este filho enquanto escuta seus gritos de dor. São cenas terríveis – e muito, muito perturbadoras.
A saga atinge camadas ainda mais fundas de pulsões humanas que a maioria preferiria transferir para alienígenas. Talvez a tal ponto que ela encerra. Estes dois últimos filmes da tetralogia foram destruídos por parte da crítica, na minha opinião injustamente. São filmes que trazem um feminino feroz. Neles, os machos de cada espécie são meros coadjuvantes, o que pode ter incomodado alguns. Até neste sentido a saga Alien quebra um tabu. Ripley é uma das primeiras mulheres protagonistas de um filme de terror no espaço. E o erotismo, tanto quanto a maternidade que ela conjura, foge aos clichês. Há algo em Ripley que sobrevive filme após filme também para seguir nos perturbando.
Na primeira década deste século, a criatura retornou em filmes que a colocavam em oposição a outro personagem do cinema, um caçador alienígena chamado “Predador”. O primeiro Alien versus Predador é competente como diversão, o segundo é além do ruim. Mas em ambos Alien deixa de perturbar e vira só mais uma criatura. O pesadelo aqui é apenas o usual: a redução de tudo à vulgaridade do entretenimento.
E então Ridley Scott volta para contar sobre a origem de Alien.
Para não dizer que não falei de pais
A ideia de ter uma mulher como protagonista no primeiro Alien foi do produtor Alan Ladd Jr, então presidente da Fox. Os roteiristas haviam deixado essa possibilidade em aberto, ao dizer que todos os personagens podiam ser homens ou mulheres. A saga certamente não seria o que foi nem trilharia os caminhos que trilhou não fosse essa escolha que mudou tudo. Na nova saga Alien, dirigida por Ridley Scott, as mulheres ainda são importantes. Mas já não há Sigourney Weaver, o que faz enorme diferença. E o protagonismo é enviesado.
As heroínas, mulheres com biótipo e estética semelhantes ao da tenente Ripley, exceto na altura, são personagens bem menos interessantes. Ainda existe a conexão visceral e erótica com a criatura: em Prometheus, a personagem da ótima Noomi Rapace não conseguia engravidar enquanto a fecundação era exclusivamente humana, mas engravidou quando seu namorado é contaminado por um alienígena. Depois, esta mãe faz uma cesariana para arrancar de si o filho monstruoso que desempenhará um papel crucial mais adiante.
Já em Alien Covenant, a personagem de Katherine Waterston ganha algo de Bambi. Ela perde o marido logo no início do filme. E era com ele que tinha o projeto de construir uma cabana na beira de um lago no novo planeta. A personagem cria então uma relação afetiva com o robô, a quem trata com humanidade. E é salva por ele. Sim, porque agora as heroínas precisam ser salvas por homens, mesmo que os pintos sejam sintéticos. De certo modo, ela coloca o robô no lugar simbólico de marido, o que pode provocar alguns pesadelos na plateia masculina. No final do filme, pouco antes de adormecer para a próxima etapa da viagem, ela faz uma pergunta bem fofa:
“Você me ajuda a construir uma cabana?”.
Neste momento, o terror é reeditado, para preparar o espectador para o próximo filme, e fica claro que a bela terá pesadelos, já que o androide sobrevivente tem planos bem diversos. Mas a desgraça já foi consumada: uma das últimas frases da personagem feminina de uma saga em que as mulheres conquistaram protagonismo em território historicamente masculino, o da ficção científica, poderia ter sido dita por Branca de Neve.
Mas nem a mulher nem a criatura são de fato protagonistas deste retorno de Ridley Scott. E, se os homens eram coadjuvantes na saga antiga, na nova eles também servem apenas para morrer. Ressurgem, porém, como uma criação mais perfeita, na pele da “pessoa artificial”. Assim, o protagonista agora é o “sintético”, vivido pelo ótimo Michael Fassbender.
Na primeira saga, os androides desenham uma narrativa própria e importante para o enredo. Em especial no primeiro e no quarto filmes. Mas é só neste retorno que tomam o papel principal. Ao afastar-se da oposição entre Ripley e Alien, Ridley Scott se afasta daquilo que fez da sua criação um clássico. Um clássico no sentido usado pelo escritor Ítalo Calvino para a literatura: uma obra que nunca terminou o que tinha para dizer.
Ridley Scott reduz sua própria criatura. Alien, que representava tanto o insondável quanto o incontrolável, passa a ser um organismo manipulado no laboratório da mente cada vez mais humana do androide David. E Alien Covenant vai encontrar o robô vivendo uma versão própria da ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells. Ou, voltando à Mary Shelley, David vai se tornando mais e mais o próprio Frankenstein por quem sente tanto desprezo.
Ao deslocar o protagonismo, Ridley Scott desloca também as questões de sua obra, que passa a refletir sobre a inteligência artificial versus humana, assim como sobre os dilemas de origem. Nessa mudança, sua genial criatura é esvaziada. Já não é capaz de ecoar os impasses humanos mais recônditos. Talvez os próximos filmes criem um enredo mais elaborado, mas o que vimos até agora é uma história pouco surpreendente sobre criadores e criaturas. Ou sobre pais e filhos.
O que sabemos hoje é que os pais criadores desejaram exterminar suas criaturas, nós, os humanos. Sabemos também que foram eles mesmos dizimados. Neste conflito está a gênese da criatura alienígena que bem mais tarde encontrará a tenente Ripley. Talvez outras voltas aconteçam, mas por enquanto Ridley Scott é o pai que mata Alien, seu filho mais brilhante, ao reduzi-lo a um monstro a serviço de uma tese.
Não é que as perguntas de David, a “pessoa artificial”, não sejam interessantes. Elas são – e conversam com nosso tempo. Mas talvez a fragilidade desta nova saga esteja no fato de que ela se proponha a explicar algo. E uma obra de ficção é potente quando ela conversa com nossos medos e pesadelos mais escondidos suscitando novas perguntas – e, especialmente, suscitando mais pesadelos. A ficção nos ilumina quando é capaz de nos carregar para corredores ainda mais escuros. Os corredores brancos da nave Covenant são apenas mais um sinal de que a perspectiva de Ridley Scott agora é outra.
Ao expor sua criatura a mais aparições, ao exibi-la na claridade, também na literalidade do filme, Ridley Scott submete-se à saturação das imagens desta época. Alien deixa de habitar nossos pesadelos e já não consegue nos assustar nem na cadeira do cinema. Nessa nova versão, Alien está lá, nas duas horas do filme, e ao sair nos despedimos dele e vamos comer uma pizza. Na primeira saga, não: Alien nos inseminava na poltrona do cinema e voltava com a gente pra casa.
É curioso o percurso de Ridley Scott. Ele, junto com toda a equipe do primeiro filme e principalmente junto com Giger, havia criado uma criatura mitológica, no sentido de sua permanência como encarnação de pesadelos humanos universais. E agora, ao envelhecer, ele volta a ela, mas não verdadeiramente, porque sua nova saga opta por esvaziá-la. Ridley Scott faz isso reciclando outras mitologias, assim como criações de outros.
É claro que o Alien da primeira saga também partia de muitas referências, já que não há nada que possamos criar que não venha de alguma forma dos universos culturais que partilhamos. Mas nele Ridley Scott, Giger e toda a equipe haviam alcançado uma síntese original. Na nova saga, não.
O que não impede momentos interessantes. Há, por exemplo, muito de Caim e Abel no duelo entre os dois irmãos androides. Neste momento, a relação espelhada da primeira saga, entre a mulher e a criatura, é substituída por este outro espelho. Há também algo de Narciso quando David se apaixona por Walter. O filme acaba quando a nave viaja para o novo planeta carregada de pioneiros – e também de embriões alienígenas. Não sabemos o que acontecerá de fato no terceiro filme, mas neste momento o androide é o filho mau, a caminho do paraíso perdido, disposto a impedir que seus pais a ele retornem.
Todo filho contém, simbolicamente, a destruição do pai. Parece que Ridley Scott não deseja que o seu o faça. Talvez a resposta esteja no diálogo de abertura entre David e seu criador. “Você me criou. Mas você morrerá, e eu não”. Talvez este seja o dilema dos criadores. Talvez exista sempre algo de Ozymandias nessa relação.
Alien deu forma ao que já respirava dentro de nós. É este o espaço insondável que ele seguirá habitando. Até mesmo contra o seu pai.
Leia mais
- Lágrimas na chuva. Revisitando Blade Runner
- O direito de ser esquecido fará da internet uma obra de ficção
- Perversão política: Paulo, Zizek e Watchmen
- O que a ciência diz sobre Moisés, as dez pragas, o êxodo e a travessia do mar Vermelho
- Êxodo, mais reis que deuses. Um colossal com pouca inspiração
- O Filme “Êxodo: Deuses e Reis” é impressionante, mas quase não dá espaço ao milagroso
- Biotecnologia e responsabilidade - para além do Prometeu moderno. Entrevista especial com Antonio Diéguez-Lucena. Revista IHU On-Line, N° 429
- Pós-máquinas ciberhominizadas? O pós-humano e o movimento social do capital. Entrevista especial com Giovanni Alves. Revista IHU On-Line, N° 252
- O Holocausto no cinema. Revista IHU On-Line, 501