Por: João Vitor Santos | 15 Junho 2018
O Brasil chega ao final de um primeiro semestre de ano eleitoral mergulhado em impasses e incertezas. Pesquisas apontam que, mesmo preso e tendo a possibilidade de ser impedido de concorrer, o ex-presidente Lula tem a maioria das intenções de voto. Em segundo lugar, está Jair Bolsonaro e sua extrema direita reacionária, enquanto a dita direita mais moderada, assim como demais partidos de centro e de esquerda, “tateiam” para apontar um nome capaz de fazer frente a esse cenário. Não obstante a nebulosa perspectiva de futuro, o país ainda rema para superar a crise econômica e, a cada dia, parece afundar ainda mais nas crises políticas e institucionais. O professor Renato Janine Ribeiro define esse quadro como um retrocesso. “Eu penso que uma parte — substancial — da crise que estamos vivendo hoje é o fato de que a presidência da República e seus ministros mais próximos perderam o respeito da sociedade”, analisa. Para ele, isso ficou claro no recente episódio da greve dos caminhoneiros. “Vemos um governo que não sabe o que fazer quando o Brasil todo é praticamente paralisado em termos de produção e trabalho”, dispara. E acrescenta: “depois se vê que ele está agindo de forma incoerente para tentar acalmar os caminhoneiros, os acionistas da Petrobras e setores que estão incompatíveis”.
Na entrevista a seguir, concedida por telefone à IHU On-Line, o professor considera que o fato de o governo “não ter rumo” “é fruto dessa ruptura grande que foi o impeachment”. Janine viu de muito perto toda a gestação do que culminou na derrocada do governo petista à frente do Planalto. Sua rápida passagem pelo Ministério da Educação se deu no momento que, para ele, marcaria o início de uma crise que começa como econômica e se derrama para problemas éticos e políticos. “Se não tivesse havido impeachment, se a presidente Dilma tivesse negociado com a oposição e os setores responsáveis do PSDB tivessem dito que não valia a pena promover a aventura do impeachment, se uma política econômica tivesse sido definida e retomasse o crescimento econômico, nós já teríamos superado essa crise há algum tempo”, analisa. Esse é um dos inúmeros pontos que trata no livro que está lançando, A Pátria Educadora em colapso (São Paulo: Três Estrelas, 2018), em que constitui a sua narrativa dessa experiência nos bastidores da política nacional.
Sobre as eleições de outubro, reitera que é o momento ideal para enfrentar esses retrocessos, mas reconhece que o cenário é muito incerto. “Tem analistas que dizem que tem muita fumaça, mas pouco fogo embaixo. Quem tem densidade são PT e PSDB, dois partidos que têm projeto para o Brasil”, aponta. Para Janine, o projeto do PT teve suas falhas. Entretanto, vê que “o projeto do PSDB tem enormes falhas. O projeto que está neste governo hoje é basicamente o seguinte: a economia está com o PSDB”. O que ainda preocupa o professor é o cenário de extremo descrédito da população com a política. Isso, teme ele, pode abrir o flanco para que ocorram no Brasil situações como as da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e do Brexit na Inglaterra. Cinco anos depois das Jornadas de Junho de 2013, lamenta que o traço mais marcante desse período seja esse descrédito pela política. “Tem que mudar a política, melhorar os políticos, mas não pode ficar numa história de desqualificar a política, porque é um retrocesso. O Brasil está vivendo um grande retrocesso hoje, e esse é um problema que temos de enfrentar”, sugere.


Janine Ribeiro | Foto: Agência Brasil
Renato Janine Ribeiro foi ministro de Estado da Educação por seis meses no segundo governo de Dilma Rousseff. É professor titular da Universidade de São Paulo - USP, na disciplina de Ética e Filosofia Política. Possui doutorado em Filosofia pela USP, atua na área de Filosofia Política, com ênfase em teoria política. Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2001 pela obra A Sociedade Contra o Social (São Paulo: Companhia das Letras, 2000). Entre suas publicações, destacamos também A imprensa entre Antígona e Maquiavel: a ética jornalística na vida real das redações (São Paulo: Renato, 2015) e A boa política - Ensaios sobre a democracia na era da Internet (São Paulo: Companhia das Letras, 2017).
Confira a entrevista.
IHU On-Line — Que perspectiva de política a passagem pelo Ministério da Educação revelou ao senhor ?
Renato Janine Ribeiro — Pessoalmente, eu sempre estudei, analisei e teorizei política, mas nunca tinha praticado política nesse nível. A experiência foi muito rica, ainda mais que vivi tudo isso em um momento de crise muito aguda. Não foi um momento trivial, não foi uma ocasião em que se olhava e se percebia tudo bem, em que se davam determinações e elas seriam cumpridas, em que havia dinheiro para realizações. Não havia nada disso e basicamente não havia dinheiro.
Então, naquele momento, todas as políticas conduzidas ao longo de 12 anos — três mandatos inteiros de governos petistas — estavam em crise, essencialmente por não haver novos recursos econômicos para o Tesouro. Com isso, as promessas feitas durante a campanha de reeleição, em 2014, não tinham como ser cumpridas. E coube a mim, como ministro, dar explicações a pessoas muito insatisfeitas com esse fato, pessoas que não estavam nada contentes porque elas esperavam, justamente, o cumprimento das promessas. Muitas vezes, as pessoas ou não entenderam ou não dimensionaram o tamanho da crise econômica. Havia aqueles que apoiavam o governo — e que continuaram apoiando —, mas que não perceberam que estava faltando dinheiro. Além disso, havia aqueles que não queriam saber das condições reais do Brasil. Sobretudo professores e funcionários do Ensino Superior Federal, que fizeram uma greve de quatro meses, no total dos seis que fiquei no governo, por motivos que não sabemos, pois pediam aumento após ter recebido 20% de aumento real acima da inflação entre 2013 e 2016.
Problemas de comunicação
Essa era a situação de um país que estava à deriva, em que o governo era bombardeado pela direita, que queria afastá-lo do poder pela promoção do impeachment — como de fato conseguiu. O governo também não sabia se comunicar muito bem, tinha dificuldade de comunicação política, e setores de apoio ao governo não tinham muita percepção política do que estava acontecendo. A situação ficou bastante grave, e hoje as consequências repercutem no país de maneira muito dura. Então, se não tivesse havido impeachment, se a presidente Dilma tivesse negociado com a oposição e os setores responsáveis do PSDB tivessem dito que não valia a pena promover a aventura do impeachment, se uma política econômica tivesse sido definida e retomasse o crescimento econômico, nós já teríamos superado essa crise há algum tempo.
Prejuízos e consequências políticas
Eu tiro uma grande lição desse momento que prejudicou praticamente todo mundo. Quem lucrou com essas águas turvas foram aqueles que não têm muita preocupação com o país, nem com a sociedade, nem com nada. Houve grandes lucros nesse período de crise, mas não foram das pessoas que realmente tinham um projeto de país. Essas pessoas que teriam um projeto de país, podemos, mais ou menos, associar com aquelas que defendem os Direitos Humanos e a inclusão social. E essas pessoas não estão só no PT, nem só na esquerda. Houve frações significativas dos partidos, inclusive no próprio PSDB, e certas pessoas foram colocadas em segundo plano e afastadas do poder. E o poder, hoje, está totalmente perdido. O melhor exemplo disso é a maneira como lidaram com a parada dos caminhoneiros: não houve preocupações, tinham informações que não foram levadas em conta. Não foi como em junho de 2013, quando não havia qualquer sinal do que iria acontecer. No caso dos caminhoneiros, houve advertências, documentos protocolados e “ameaças” e o governo não deu a menor importância.
O fato é que vemos um governo que não sabe o que fazer quando o Brasil todo é praticamente paralisado em termos de produção e trabalho. O governo não tem um plano de contingência e, segundo, o governo não teve prioridades para o abastecimento, não soube priorizar o abastecimento dos ônibus, do transporte coletivo, do material hospitalar, dos produtos essenciais de alimentação. O governo não tinha nada disso, não soube atuar nessa situação e depois se vê que ele está agindo de forma incoerente para tentar acalmar os caminhoneiros, os acionistas da Petrobras e setores que são incompatíveis. O governo não tem rumo, isso tudo é fruto dessa ruptura grande que foi o impeachment.
Para além do “discurso do golpe”

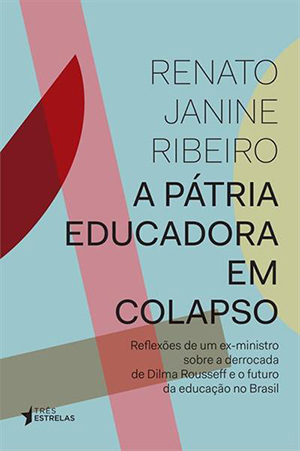
Autor: Renato Janine Ribeiro
Editora: Três Estrelas
Páginas: 352
R$ 47,00
ISBN: 978-85-68493-49-6
Diferente de outros trabalhos sobre o impeachment/golpe, ao contrário do que uma parte da esquerda vem produzindo, eu não estou fazendo uma denúncia das atitudes erradas da oposição. Eu procurei outras questões: por que um governo, depois de quatro eleições sucessivas para a presidência da República, ficou tão vulnerável? Qual foi a fragilidade interna do governo? Em boa parte, eu atribuo à questão da verba – faltou dinheiro para atender as demandas assumidas no Congresso – e à dificuldade de comunicação política da presidente Dilma.
Um segundo ponto diz respeito às falhas dos próprios grupos de apoio ao governo que, ou por terem sido mal informados ou por não perceberem o que estava acontecendo ou, sobretudo, talvez por estarem acostumados a recursos econômicos que foram bastante grandes nas áreas da educação, da saúde e da produção, não conseguiram entender o que era a súbita falta de recursos financeiros no caixa estatal. Isso acabou desarmando muito um setor que tinha legitimidade eleitoral, mas que não soube manter a governança do país. Tem que estudar também este lado, ver onde o governo falhou, a oposição falhou, eu mesmo falhei. São esses aspectos que eu coloquei no livro .
IHU On-Line — O que mais o surpreendeu na sua passagem pelo Ministério da Educação - MEC?
Renato Janine Ribeiro — O MEC era, de certa forma, herói. O MEC, a Inclusão Social e a Saúde foram os três grandes ministérios de forte impacto social e que tiveram avanços de verbas gigantescos. Em termos reais, o orçamento do MEC, tirando a inflação, passou de R$ 42 bilhões para R$ 130 bilhões em 12 anos, isso já deflacionando e colocando o valor de 2016. Portanto, foi um avanço gigantesco, com muito foco na Educação Básica e também no Ensino Superior. O próprio fato dessas duas tendências já mostra o problema grande do Brasil. Quer dizer, fez-se muito pela Educação Básica, por exemplo: escolas sem banheiro na área rural foram fechadas, os transportes escolares na área rural foram extremamente melhorados, foram criados indicadores de desenvolvimento da Educação Básica, permitindo monitorar e alavancar a melhora do desempenho dos alunos, que cresceu, sobretudo, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, o material escolar foi bastante expandido e melhorado. Enfim, uma quantidade enorme de coisas foi feita. Agora, se olharmos o Ensino Superior, notamos que passou de 100 mil vagas para 230 mil, o que é uma façanha. As universidades federais passaram de 45 para 63, foram criados muitos campi.
Então, no Ensino Superior temos um resultado mais redondo do que na Educação Básica. Por quê? Porque o Ensino Superior é menor e a Educação Básica é gigantesca: temos 5.570 municípios. Não é possível nem reunir todos os secretários municipais em auditórios, é preciso ir para um estádio. Já se quisermos discutir o Ensino Médio, temos 27 secretários de Estado, se quisermos discutir o Ensino Superior, temos algumas dezenas de reitores. Essa passagem de 100 mil para 230 mil vagas no ingresso no primeiro ano do Ensino Superior permitiu que fossem criadas cotas sem tirar vagas de ninguém. Nenhum não cotista perdeu vaga, porque os não cotistas tinham 100 mil vagas em 2002, e 115 mil vagas, metade das vagas existentes, em 2015; ou seja, aumentou o número de vagas para não cotistas e surgiu um número de vagas para cotistas. Foi um trabalho fantástico, muito laborioso, que foi conduzido no Ensino Superior. No entanto, no Ensino Médio e na Educação Básica teve muito mais trabalho, por isso ainda não conseguimos dar um salto socialmente, humanamente e economicamente necessário na Educação Básica, mas avançamos bastante.
Fator econômico
Porém, tudo isso dependeu de muita atuação e também de recursos econômicos que foram significativos. Quando faltaram os recursos econômicos havia muita dificuldade da comunidade educacional — não só do governo — de definir prioridades. Ainda hoje vejo uma dificuldade grande na definição de prioridades. Por exemplo, o que é mais significativo? O que é possível suspender? O que é necessário priorizar? Essas são perguntas muito difíceis de ser respondidas.
Houve um episódio com um coordenador de área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes que decidiu mandar e-mail para todos seus familiares e outras pessoas dizendo que dentro de um mês – em junho de 2015 – não haveria mais dinheiro para pagar as bolsas [de estudos]. É claro que foi retirado do cargo. Uma pessoa que participou da expansão das bolsas tem que ser, no momento em que não se tem dinheiro para pagar todas, a pessoa mais adequada para saber onde é possível cortar. É uma decisão muito difícil, pois, às vezes, se corta onde se tem o menor rendimento, mas pode ser justamente ali que é preciso priorizar. Mas, veja, nesse momento, a pessoa mais adequada para fazer a correção de rumos preferiu cair fora. Certamente é muito bom participar de um time vitorioso, mas na hora que tem um time que está sofrendo, está em baixa, com faltas, ir embora não é uma atitude corajosa; atitude corajosa é assumir e enfrentar a dificuldade.
Minha experiência no MEC é uma experiência de aprendizado, de resistência, de inovar, mas não foi uma experiência de vitória. O orçamento continua sendo reduzido, e o MEC perdeu, o governo foi destituído. Não deu certo no fim das contas, mas se não tivéssemos resistido teria sido pior.
IHU On-Line — A falta de recursos econômicos coloca em xeque os governos de coalizão?
Renato Janine Ribeiro — O Brasil está fadado a governos de coalizão. Muita gente fala mal do presidencialismo de coalizão, mas isso quer dizer o quê? Primeiro, o presidente é eleito por sufrágio universal e com maioria absoluta — isso é altamente democrático e praticado em muitos países, como França e Portugal, e foi se estendendo mundo afora. Segundo, ele representa proporcionalmente as várias vontades da sociedade, o que torna muito difícil que o partido do presidente tenha a maioria absoluta. Isso porque há várias dificuldades na sociedade que não podem ser reduzidas. Estados Unidos, França e outros países que têm sufrágio distrital conseguem gerar maioria absoluta com muito mais facilidade. Agora, no proporcional, que é nosso sistema, é muito difícil de conseguir fazer essa maioria facilmente.
Então, é preciso compor com outros partidos e a partir desse ponto conseguir uma governabilidade. E isso depende do presidente e da fala dele. Sobre esse caso da fala, podemos observar que tivemos o presidente Fernando Henrique, que segurava muita coisa “no gogó”, conquistava as pessoas pela fala, tinha uma comunicação excelente com a elite da sociedade brasileira. Depois, tivemos o Lula, que tem uma comunicação excelente com o povo brasileiro. Tivemos dois presidentes que, com ou sem dinheiro — Lula e FHC não tiveram dinheiro o tempo todo —, conseguiram, com o diálogo, suprir a falta de recursos.
A presidente Dilma é uma pessoa que tem projetos inteligentes para o Brasil – e que não é essa caricatura que se fez dela, de uma pessoa que falaria bobagens, muitas vezes ela fala realmente bem, foi melhorando cada vez mais no governo. Agora, o projeto dela, em boa parte, era construir a infraestrutura econômica necessária para que o Brasil crescesse, e eram muitas estruturas, estradas, pontes, viadutos, portos etc. Uma das consequências disso foi o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, que teve milhões e milhões de pessoas formadas a baixo custo, um avanço gigantesco na qualidade da mão de obra brasileira que também acabou, como consequência, gerando um aumento do PIB, e PIB per capita em um país de classe média. Esse cenário estava muito claro na cabeça dela, mas não era um cenário que ela comunicou com facilidade e houve um problema grande.
Baixa de quadros importantes e discurso da corrupção
É muito paradoxal o fato de que no último governo a presidente Dilma foi muito elogiada porque demitiu ministros suspeitos de terem feito alguma coisa errada, sem nem esperar a apuração. Logo, perdeu quadros importantíssimos, como o ministro Antonio Palocci, que estava nessa situação e demonstrou extrema capacidade de trabalho — não estou entrando nas questões pessoais, mas na figura do homem público. O problema disso tudo foi que a presidente, que impressionou pela imagem de honestidade — que, aliás, corresponde à absoluta verdade dos fatos —, por outro lado, tinha dificuldade de se comunicar com o próprio Congresso. Eu não tenho provas, mas não duvido de que ela tenha repulsa pelas práticas habituais do Congresso. Ela é uma pessoa que repudia essa política de conchavo.
É preciso reconhecer e deixar essa conversa de que o PT foi tirado do poder por causa da corrupção. Na verdade, foi o momento de censurar uma presidente que tinha aversão a qualquer conchavo na política e foi tirada para colocar o pessoal que considera o negócio por baixo dos panos absolutamente normal. Depois de toda essa experiência, tudo isso ficou muito claro. Se nós podemos fazer uma crítica justa, é esta: falta de comunicação política. Por outro lado, creio que a maioria da sociedade brasileira, se visse as coisas como eu vejo, perceberia que é uma qualidade humana dela. O problema no Brasil, que de certa forma está apontado hoje, é que sem o azeite da corrupção e dos negócios ilícitos e duvidosos é muito difícil se manter na política, ainda mais em um momento de crise.
IHU On-Line — É paradoxal, mesmo porque no momento que se coloca esse “discurso de limpeza” acaba se retirando alguém que tinha verdadeira repulsa por esse ambiente mais permissivo na política.
Renato Janine Ribeiro — Isso é uma tragédia. O Brasil, com um discurso, fez exatamente o contrário. O caminho que o Brasil tomou é exatamente o contrário do que as pessoas achavam e esperavam que fosse tomado. Isso traz um comentário que está no livro, sobre o momento atual. Tive pouco contato com o presidente [Michel] Temer e gosto pessoalmente dele, é uma pessoa muito agradável. Para mim é desagradável dizer o que vou dizer — insisto em destacar o quanto isso é desagradável para mim —, mas a presença de Temer no cargo da presidência, depois da gravação dele com Joesley [Batista], se tornou algo errado. Ele não pode mais ter uma situação desse tipo, não sei se é corrupção, não há nenhum indício disso, e as narrativas a respeito foram um tanto exageradas, mas é uma situação que moralmente expõe o governo em uma linha muito ruim.
Eu penso que uma parte — substancial — da crise que estamos vivendo hoje é o fato de que a presidência da República e seus ministros mais próximos perderam o respeito da sociedade. Enquanto a perda de respeito de Dilma era muito relacionada ao bolso das pessoas, essa perda agora é muito relacionada à ética. Muita gente pensa: nosso bolso não melhorou, mas, além disso, estamos diante de pessoas complicadas das quais nós temos uma distância moral muito grande e isso desmoraliza a sociedade. Uma sociedade que tolera esta cúpula no poder, por qualquer razão que seja, é uma sociedade que não tem vergonha de si própria.
Isso vemos em qualquer grupo; por exemplo, na greve dos caminhoneiros, diziam “ah não, temos que garantir a governabilidade até a eleição”. São cálculos racionais que podem ter sua legitimidade, mas que são contrários à ética. A ética exige que, em certos momentos, se diga “às favas tudo, menos os escrúpulos de consciência”. Tem uma hora na ética em que é preciso dizer “isso não dá mais, isso é insuportável, é impossível”. Quantos não foram os países em que as pessoas entraram em greve até o governo cair? As pessoas não estavam necessariamente pensando no que a economia ou a bolsa de Nova Iorque iriam achar, as pessoas estavam pensando: “não queremos, não aguentamos mais”.
Militares e a campanha presidencial
O Brasil, nesse ponto, retrocedeu décadas porque, inclusive, o comandante do Exército recebeu por duas horas e meia o defensor de um regime autoritário — o deputado Bolsonaro . Desde o fim da ditadura militar, o alto comando do Exército não se metia nas eleições. Durante quase 20 anos, foram eles que decidiram quem era o presidente. Isso passou, acabou. De repente, eles defendem os candidatos por quê? O que eles têm a ver com isso além de terem voto? Nada mais. Temos uma perda do senso moral que é muito grande.
Inércia institucional
As instituições, ao contrário do que dizem alguns jornalistas políticos que olham o ideal e não o real, não estão funcionando — Executivo, Legislativo, Judiciário —, não fazem nada. O Judiciário faz algo no sentido de que ele toma decisões, mas ninguém é respeitado. Nem os três poderes constitucionais, nem a mídia, o “quarto” poder, conseguem “respeitabilidade” hoje. Não se tem mais aquela perspectiva de que “eu discordo de você, mas te respeito, eu discordo da opinião do presidente, do Congresso, da opinião do jornal, mas eu respeito”. Isso sumiu no Brasil.
O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi o xodó da direita, mas hoje não se tornou o xodó da esquerda e perdeu o amor da direita. Por quê? Só pelo contorno de cada decisão, mas isso não é um negócio. Pode-se concordar com Gilmar em 60% dos casos, mas basta não concordar em 30% que as pessoas começam a ofendê-lo na rua.
IHU On-Line — Como o senhor tem acompanhado a conjuntura política de hoje, com vistas às eleições de outubro?
Renato Janine Ribeiro — O cenário deste ano é bem difícil. Vejamos a pesquisa do Datafolha que saiu ontem [10-06-2018] : em primeiro lugar Lula, que está inelegível; em segundo lugar ninguém; em terceiro Bolsonaro, com 27%. E aqueles que têm 5% ou 6%, como [Geraldo] Alckmin , estão apostando que conseguirão chegar ao segundo turno com 20% e disputar a final. Das três forças mais poderosas, hoje, no país, só duas poderão ir para a final da “Copa do Mundo” das eleições no Brasil: Bolsonaro está bem colocado, e na outra vaga não sabemos se iria, por exemplo, Alckmin, que está muito fraco, ou qualquer outro candidato.
Então nós temos a extrema direita com Bolsonaro, bem posicionado nas pesquisas, temos a direita que não está passando dos 20%, e ainda no mesmo espectro Alckmin, [Henrique] Meirelles e Álvaro Dias, mas que também não bate nos 10%. Na centro-esquerda nós temos Ciro [Gomes] disputando com o nome que ainda será indicado pelo PT, que ainda não foi formalizado e que não sabemos quem é, depende do Lula. Acredito que toda essa mudança política que foi promovida pela oposição perde totalmente o sentido se Lula for eleito, pois fizeram de tudo para evitar isso.
Nesse ponto, é muito parecido com 1964, quando os golpistas diziam: “vamos arrumar a casa, ano que vem, 1965, tem eleição”. No entanto, quando eles viram que [Carlos] Lacerda não iria ganhar, cassaram Juscelino [Kubitscheck] , e quando viram que Lacerda não era confiável, caçaram as eleições. Não sei se chegaremos a esse ponto. Pode ser que impeçam Bolsonaro de concorrer, mas será que conseguem eleger Alckmin com 7% dos votos? Não sei. E a própria esquerda e centro-esquerda dividida entre Ciro e o nome que não sabemos quem vai ser do PT, e ainda os pequenos nomes, [Guilherme] Boulos e Manuela D’Ávila, que estão concorrendo honrosamente com as suas chapas.
Ainda tem a Marina [Silva] , que é candidata de centro, mas que ficou um tanto queimada depois de duas vezes ganhar 20% dos votos e não estar trabalhando esse público de 1/5 da população brasileira que lhe fez confiança. São quatro anos e depois mais quatro anos sem ouvi-la. É uma situação extremamente indecisa.
IHU On-Line — Mesmo depois da prisão, o ex-presidente Lula segue sendo anunciado pelo PT como seu candidato à presidência da República. Como compreender essa estratégia do partido?
Renato Janine Ribeiro — A estratégia do PT faz sentido por duas razões. Uma é a questão de honra e de ética: como Lula foi condenado em um julgamento, pelo menos, duvidoso, falta legitimidade na condenação dele e essa condenação nos coloca muito próximos do que aconteceu na Malásia, na Rússia e na Costa do Marfim, que são três países em que o candidato da oposição, às vezes até com grande intenção de votos, foi impedido de concorrer por decisões judiciais, no mínimo, duvidosas e de sentido basicamente político. E, do ponto de vista do PT, é querer garantir a forte convicção da inocência do presidente e do seu direito de concorrer. Esse é um primeiro ponto que chamaria de ético e até uma questão de honra.
Um segundo ponto é a questão de garantir um percentual de intenções de votos elevado. Existe muito mais gente disposta a votar em Lula do que em [Fernando] Haddad, Tarso [Genro], Jaques Wagner ou Celso Amorim. Portanto, creio que eles pretendem transferir essa intenção de maneira compulsória para um eventual nome que surja no lugar. Quanto a quem seria esse nome, geralmente se fala em Jaques Wagner, o qual, porém, tem sérias ressalvas concernentes a sua vida pessoal. Parece que sua família realmente não quer sair da Bahia e isso é absolutamente respeitável.
Aparentemente, entre esses nomes, o que tem mais chances é Haddad, que é um nome do Sudeste. Uma curiosidade: até a década de 1960 e 1970, São Paulo era considerado região Sul, não se tinha região Sudeste. Hoje, quando falamos de Sul e Sudeste, São Paulo tem muita coisa parecida com os três estados do Sul — politicamente e economicamente. Então, se pegarmos São Paulo mais Sudeste, Haddad é o nome mais palatável entre os outros nomes que surgem. É mais ou menos consenso hoje na política que o ideal é ter uma aliança, se conseguir, com dois partidos, presidente e vice-presidente, um do Sul e Sudeste e outro do Nordeste. Isso porque são os grandes colégios eleitorais do país. Assim, este seria um desenho: Haddad teria um vice do Nordeste, Ciro teria um vice do Sul/Sudeste, e por aí vai. Se tentar alguma coisa Sul puro ou Sul/Sudeste puro, não tem muita chance; por exemplo, Alckmin e Álvaro Dias, ou, pior ainda, Alckmin e [João] Doria — é só um delírio, pois dois paulistas tucanos na mesma chapa é uma coisa sem pé nem cabeça.
Menos tempo para “levar porrada”
Resumindo tudo isso, penso que a estratégia do PT é, por um lado, garantir até quase o fim a candidatura de Lula e, por outro lado, tentar transferir votos na alta. Agora, isso significa um caminho de manter esse nome oculto muito tempo, o que tem uma vantagem, é verdade, pelo cenário. É o que houve com Marina em 2014. Enquanto Aécio, Dilma e Eduardo Campos “levaram porrada” durante um ano, um ano e meio, Marina, quando surgiu como candidata, tinha um mês e meio de campanha e isso era pouco para “levar porrada”. A desconstrução das candidaturas, que é um traço forte, implacável e até cruel das eleições brasileiras, não ocorreu com Marina e, infelizmente, foi uma semi-implosão, pois a própria Marina não segurou a onda leve que recebeu; enquanto os outros recebiam um tsunami, ela recebia uma marola e não deu conta disso.
Fato é que um candidato que entre para concorrer em agosto, por exemplo, com 45 dias pela frente, terá sido menos atacado que os demais que já estão sendo atacados. Embora já queiram também em outro processo político indiciar Fernando Haddad, ele está com muito menos bombardeio do que outros.
Não é loucura
Desejo retomar um ponto: essa ideia de manter o candidato até o fim não é louca, pois em 1985, quando ocorreram as primeiras eleições para prefeito de capital depois da ditadura, Jaime Lerner foi liberado para concorrer em Curitiba cinco dias antes das eleições e ganhou. Logo, se o Lula for liberado cinco dias antes das eleições, ele ganha.
IHU On-Line — Mas isso não geraria problemas posteriores?
Renato Janine Ribeiro — Mas havia, na época, algo equivalente, a inelegibilidade. Jaime Lerner tinha sido prefeito nomeado, por isso a dúvida era se ele poderia concorrer à prefeitura dentro do mandato ou se ficaria inelegível por quatro anos, pois havia dúvida se, talvez, a inelegibilidade dele não seria só de seis meses. A lei da Ficha Limpa afeta Lula pela inelegibilidade, mas se, em algum momento, for decidido que isso não vale, não sei por qual argumento, o nome dele estaria presente — não estou fazendo juízo de valor, estou tentando entender a lógica. De qualquer forma, seja como for, se torna muito difícil uma aliança Ciro–PT.
IHU On-Line — Supondo que não haja uma unidade na esquerda, nem a criação de uma frente, e estando Lula impossibilitado de concorrer, o caminho é mesmo uma coligação com Ciro Gomes? O que viabilizaria uma aliança com figuras como Guilherme Boulos e Manuela D’Ávila?
Renato Janine Ribeiro — São dois casos muito diferentes. No caso de uma aliança do PT com um candidato com intenção de voto forte, que é o Ciro, se preservam votos e ainda soma com a direita e se alia com o candidato com mais intenções de voto. No outro caso, Boulos e Manuela são mais à esquerda, mais “puro-sangue”, mas eles não têm muitos votos e uma parte dos eleitores deles pode não gostar das políticas de alianças do PT. Uma das críticas grandes ao presidencialismo de coalizão, que “rolou” este tempo todo com o PT, é de que ele estaria sendo puxado para a direita, e é isso que Boulos e Manuela não querem. Ou seja, a polícia continua promovendo chacinas de periferias, sobretudo de negros, e isso não mudou em 15 anos de governo petista; além disso, o meio ambiente continua sendo agredido. Tem todo um conjunto de fatores que, quando se tinha uma política social positiva, as pessoas podiam olhar isso meio de lado, mas hoje diminuiu muito a tolerância dos setores mais à esquerda com essa política.
Esse assunto é delicado. Ciro disse uma coisa muito inteligente, que talvez não devesse ter dito: que ele queria garantir o PCdoB e o PSB para ter a identidade ética e pegaria os partidos mais à direita — não lembro se o DEM ou o PPS — para conseguir número de votos. É pragmático e é claro que esses partidos de direita não gostaram, embora não saibamos quantas opções eles têm, pois estão com muito medo de perder a eleição com Alckmin e ficarem fora do poder. O jogo está muito difícil de ser jogado, mas isso é bastante frequente no Brasil.
IHU On-Line — Diante do cenário de hoje, quem o senhor acha que chega ao segundo turno das eleições presidenciais?
Renato Janine Ribeiro — Tem analistas que dizem — Alckmin e Lula também falam — que tem muita fumaça, mas pouco fogo embaixo. Quem tem densidade são PT e PSDB, dois partidos que têm projeto para o Brasil: o projeto do PT teve suas falhas; o projeto do PSDB tem enormes falhas. O projeto que está neste governo hoje é basicamente o seguinte: a economia está com o PSDB; o cargo mais importante que o PSDB tinha no governo não era o Ministério das Relações Exteriores, era o de presidente da Petrobras, com Pedro Parente, e deu no que deu. É fato que o PSDB está tocando este governo.
Existem dois partidos, um com forte apoio empresarial e outro com forte apoio popular e os outros não têm muita coisa atrás. Bolsonaro, Marina e Ciro, na hora do voto, não têm estruturas partidárias, recursos humanos e capilaridade suficiente para se contrapor a esses partidos. Por isso, há muitas pessoas que dizem que o segundo turno será entre Lula ou o candidato do PT e o candidato da direita, o candidato tucano, e não da extrema direita, que é o Bolsonaro. Mas isso tudo, como dizia o Garrincha, “tem que combinar com os russos”. Se a sociedade não der os votos para Alckmin para que ele se posicione no segundo turno, será quem? Bolsonaro, provavelmente, será ele sozinho. No momento atual não vemos nenhum possível candidato a governador competitivo se aliando a Bolsonaro, e isso não dá para ele nenhum poder na hora de fazer aliança, de tempo de TV e de aparecer tentando trabalhar por fora do horário eleitoral pelos governos estaduais.
Tudo isso é muito complicado. Por exemplo, aqui em São Paulo temos o governador atual [Mário França] , que não é do PSDB, mas do PSB, que está querendo a reeleição e tem apoio de muitos prefeitos, da máquina estadual e de uma parte do PSDB. Mas ele não decola, está com 7% das intenções de voto, enquanto Paulo Skaf e João Doria, ambos pela direita, estão com mais de 20%. Então, a não ser que haja uma grande reversão, será que a máquina estadual vai ajudar a esse ponto? Será que todas as máquinas estaduais do Brasil vão realmente ser decisivas para uma eleição?
IHU On-Line – E o apoio do Governo Temer, tem algum peso?
Renato Janine Ribeiro — O beijo do Temer é um beijo que mata: vemos que mais de 90% das pessoas não votam em nome apoiado por Temer. Isso nos leva a uma situação curiosa: Temer tem minutos preciosos de TV e tem a máquina do governo federal, mas ele só pode dar isso a um candidato se o fizer sem as suas impressões digitais, e ele, com toda a razão, não quer passar a imagem de uma pessoa de quem outros sentem vergonha. Ele pensa: “que história é essa? Sou presidente da República, estou fazendo tudo isso e os outros querem se esconder de mim, não querem dizer nada, estão até, de certa forma, querendo me ocultar no período eleitoral”. Isso não é algo de que alguém goste.
IHU On-Line — Em 2018, completam-se cinco anos de Junho de 2013. Passado esse tempo, podemos afirmar que o Brasil compreendeu esse movimento?
Renato Janine Ribeiro — O Brasil é um sujeito muito complicado. Eu escrevi um artigo a respeito, ainda no momento das manifestações, que está retomado no meu livro A boa política: Ensaios sobre a democracia na era da internet (São Paulo: Companhia das Letras, 2017) e continuo convicto do seguinte: a sociedade brasileira, naquele momento, percebeu que a pauta da democracia, 1985, a pauta da estabilidade monetária, 1994, e o começo da inclusão social como política forte do Estado brasileiro, tudo isso é dela, mas se tornou, não digo insuficiente ou insatisfatório, mas fato é que a sociedade queria uma boa qualidade do serviço público e essa boa qualidade não veio. Queria transporte, educação e saúde com qualidade, basicamente, três coisas que o Estado dá.
Com toda essa situação, os movimentos eram legítimos, vinham de baixo etc., mas foram rapidamente sequestrados pela mídia. Aliás, foi a que primeiro pediu a repressão, mas quando a repressão foi muito forte, a mídia virou de lado, passou a apoiar os manifestantes. Entretanto, sequestrou as bandeiras deles, bandeiras que eram reivindicações locais e que foram convertidas em uma bandeira de repulsa ao governo federal e à corrupção do governo federal. Educação básica estadual e municipal, saúde e mobilidade urbana municipal são basicamente as reivindicações dos protestos. Com isso, as pautas dos movimentos acabaram perdendo o fôlego.
O que descobri e vi em 1968 ou em 2013 foi uma sociedade que tinha descoberto a política – “a saída para nossos problemas está na política, vamos para a rua”. Houve um caso do assassinato de um menino boliviano de cinco anos e os bolivianos foram para rua perto do consulado protestar e pedir condições de proteção. Também havia surdos protestando na Paulista. Então eles mostraram que a sociedade brasileira estava descobrindo que, para os nossos problemas, a saída era a política. Hoje, cinco anos depois de 2013, a sociedade está convicta de que a política é algo ruim. Eu costumo dizer que os políticos podem ser um problema, mas que a saída só pode ser política. Tem que mudar a política, melhorar os políticos, mas não pode ficar numa história de desqualificar a política, porque é um retrocesso. O Brasil está vivendo um grande retrocesso hoje, e esse é um problema que temos de enfrentar.
IHU On-Line — A pesquisa Datafolha mostra um grande número de intenções de votos brancos e nulos.
Renato Janine Ribeiro — Muito grande, mas mesmo as pessoas que já sabem em quem vão votar, que são aqueles votos no status quo, são muito poucas. Quem vota no status quo vota em Alckmin, vota em Meirelles, nem sei se o voto em Álvaro Dias é um voto do status quo, eu diria que é um voto de pessoas descontentes. Com isso, temos o quê? Uma popularidade de Temer de 6%, uma intenção de votos nos candidatos próximos a essa saída, que seriam Alckmin, Meirelles e Rodrigo Maia, talvez, o que não chega a 10%. Isto é, está próximo à impopularidade presidencial. É uma situação que mostra uma repulsa muito grande a tudo isso.
O problema é que esse povo que está no governo não quer sair dali de jeito nenhum, não quer deixar o poder. Eles fizeram de tudo para chegar lá sem voto. Como eles vão fazer se 90% da sociedade não os apoia? É difícil. E Temer tem toda a razão, pois acaba sendo usado só para fazer o trabalho de tirar do fogo o PSDB e o deixarem com uma imagem ruim de bode expiatório quanto à política que está fazendo. Se pensarmos que ele bolou o documento Uma ponte para o futuro, veremos que é uma política basicamente tucana. As pautas populares sempre tiveram um pouco mais de espaço no PMDB do que no PSDB. O PSDB sempre teve aquela coisa muito forte dos economistas, dos tecnocratas, das pessoas que acham que fazendo de determinada forma estariam fazendo a melhor coisa para o país. Então, uma ala do PMDB topou chegar ao governo e fazer o jogo para abrir espaço para os tucanos, mas não estão felizes de serem demonizados.
Aliás, isso tudo é muita bravata. A ideia de Temer ser preso depois que sair do governo é uma bravata, pois não sabemos se cometeu crimes, se será preso ou julgado ou condenado, não temos a menor ideia. Por que ele fará todos os esforços para Alckmin ser eleito se irá para a cadeia? Não tem sentido nenhum. Então, vai colocar a máquina a serviço da direita e a direita vai abandoná-lo? Não tem sentido.
As temerárias soluções totalitárias
Tudo isso ainda é muito turvo. Quem vê lógica no processo, diz: o processo vai desembocar no PT e no PSDB e se vai fazer de tudo para que o PSDB ganhe. Quem olha as consequências dos últimos anos do Brexit na Inglaterra e de Trump nos Estados Unidos fala que tem outro elemento que sai da lógica tradicional da política, e esse elemento é um descontentamento popular gigantesco com a política atual. Não havia lógica nenhuma em eleger esse doido como presidente dos Estados Unidos. Mas, e se o Brasil decidir por esse caminho?
É um fenômeno que várias vezes é tematizado; na França eles tematizam mais, é o en avoir ras le bol. Simplesmente é um “estou de saco cheio”, “farto de tudo”, não creem mais. Então, tem aqueles políticos que são corruptos e com isso seguem para as soluções totalitárias, autoritárias, de extrema direita. Mas tem aqueles que consideram as políticas sociais mais importantes e vão votar mais à esquerda.
Além disso, uma parte do voto da direita foi para a extrema direita. O PSDB conseguiu, durante muito tempo, ser votado por pessoas de extrema direita, mas que não tinham nome e candidato próprio e aceitavam os tucanos, não adoravam, mas respeitavam. Quando veio à tona toda a podridão dos casos tucanos, essa franja de gente simpatizante que aceitava o PSDB, votava nele, encontrou um novo ídolo e esse novo ídolo promete as soluções fáceis e ruins, que é o autoritarismo. No Brasil, há um espaço para o autoritarismo, e o fato de termos uma cultura política muito fraca abre espaço para isso.
O caso gaúcho
No Rio Grande do Sul há uma consciência política bem superior à média brasileira. O estado forma as pessoas muito bem, tanto para a vida profissional quanto para a intelectual, a tal ponto que, quando o Rio Grande tem uma crise econômica, não só fiscal do governo, mas do Estado, acaba, por décadas, não absorvendo todos os talentos que forma. Assim, boa parte dos talentos gaúchos conhece uma espécie de diáspora, vai para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Muitos talentos espalhados pelo Brasil são gaúchos.
Justamente desse fato de o estado não conseguir superar essas dificuldades — não estou responsabilizando ninguém por isso e menos ainda o próprio estado —, algum autoritarismo também desponta, e isso onde há a maior consciência política do Brasil. Mesmo quando tem uma consciência política como a gaúcha, chega uma hora que as pessoas cansam. O Rio Grande do Sul não reelegeu nenhum governador, nenhum governador conseguiu fazer um governo que, ao final, a população dissesse “foi bom, resolveu e melhorou o estado”.
Assim, temos uma situação que se até os mais politizados ficam esgotados com a falta de saída, imagine quando se tem um país cujo escore de participação e consciência política é inferior ao do RS. A situação é espantosa porque o Rio Grande do Sul tem uma mão de obra ótima, muito boa, só que essa mão de obra não tem canais institucionais.
Leia mais
- Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Num Brasil sem diálogo, escola vira arena para disputas. Entrevista especial com Renato Janine Ribeiro
- FHC e a missão histórica do PSDB. Artigo de Renato Janine Ribeiro
- Para Renato Janine Ribeiro, 'distritão é retrocesso'
- Ex-ministro Renato Janine Ribeiro compara situação de Lula à de Getúlio Vargas em 1954 e se diz 'chocado'
- A violência faz a diferença. Artigo de Renato Janine Ribeiro
- A essência da técnica não é nada de técnico. Entrevista especial com Renato Janine Ribeiro
- Lucro recorde do Itaú durante a crise é anomalia do capitalismo brasileiro
- MEC culpa os jovens pela estagnação do ensino superior
- Corte no orçamento da educação em 2016 será superior ao deste ano
- Cotas foram revolução silenciosa no Brasil, afirma especialista
- O ajuste fiscal ameaça a 'pátria educadora'
- Tudo que se refere à eleição de 2018 é sintoma da gravidade da crise política. Entrevista especial com Moysés Pinto Neto, Rodrigo Nunes e Caio Almendra
- O teatro do absurdo no Brasil: o que fazer com a candidatura de Lula?
- País está cavando o fundo do poço da depressão. Artigo de João Sicsu
- Uma 'nova' política precisa superar o “apego religioso” ao Estado, a “fetichização do progresso” e a “secundarização das questões ambientais”. Entrevista especial com João Paulo do Vale de Medeiros
- Ódios ou Luzes, o Brasil na encruzilhada
- Os dilemas da estratégia do PT, que aposta em Lula como candidato ou cabo eleitoral
- “O PT vai ter de se reinventar sem Lula”
- 'O caminho lógico para o PT é apoiar Ciro Gomes'. Entrevista com Cláudio Couto
- Para Jaques Wagner, PT pode ser vice de Ciro Gomes
- A ascensão de Guilherme Boulos, o pré-candidato que Lula ungiu antes de ser preso
- Manuela admite aliança com integrantes do PMDB: 'A política é mais complexa no Brasil'
- Três comentários após a pesquisa de intenção de votos do Datafolha de 09 e 10 de junho de 2018
- Eleições: Três tendências e um grande erro
- O voto das mulheres, um muro contra a candidatura Bolsonaro
- A Greve dos Caminhoneiros: entre a guerra civil na direita e a desorganização da esquerda
- "A greve dos caminhoneiros começou a deixar claro o que vamos viver daqui em diante"
- O terremoto de Junho de 2013 foi sufocado e não oxigenou a política brasileira. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Nem coerentes, nem lógicas, as lutas de Junho de 2013 sobrevivem à revelia da compreensão da esquerda. Entrevista especial com Giuseppe Cocco






