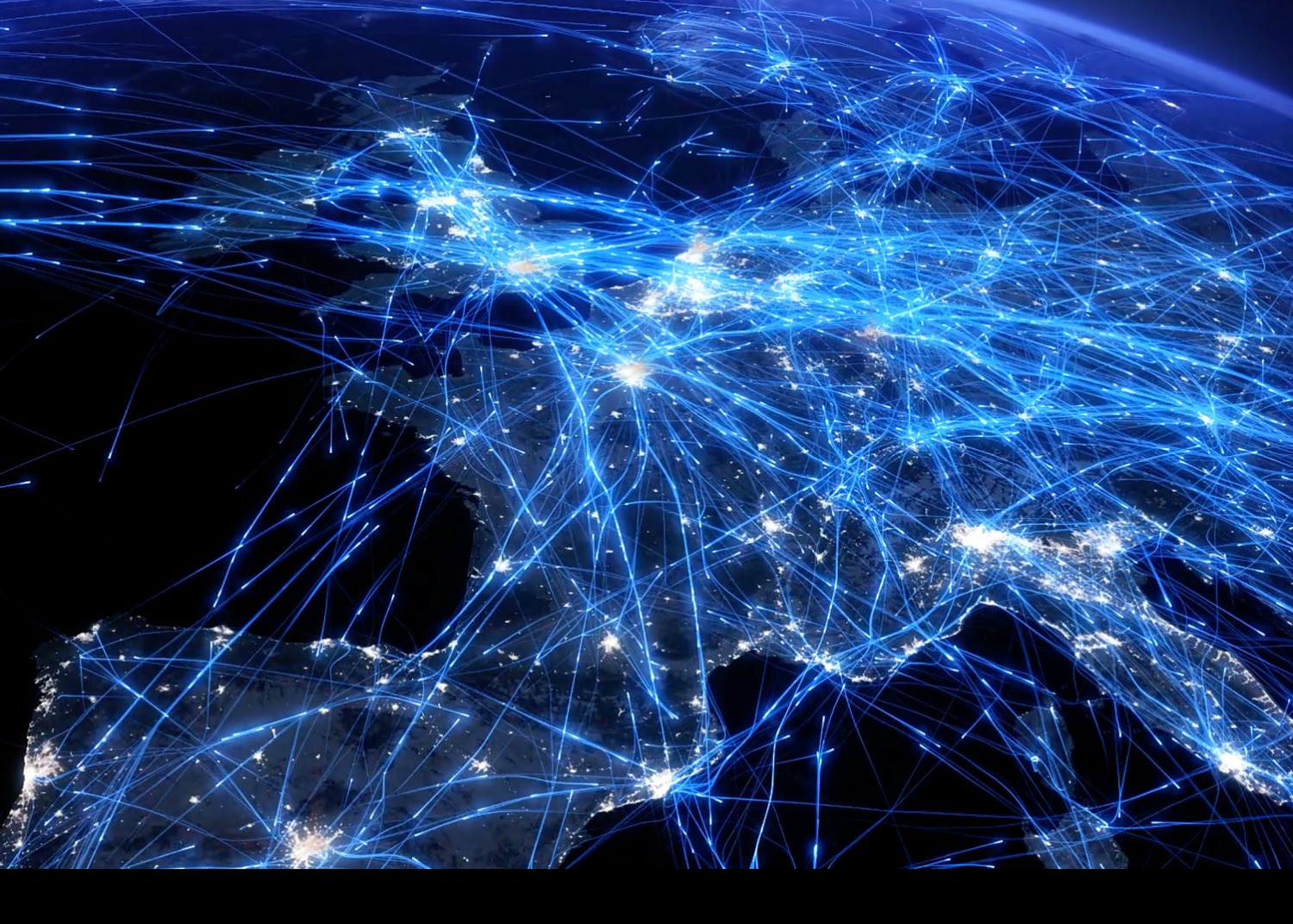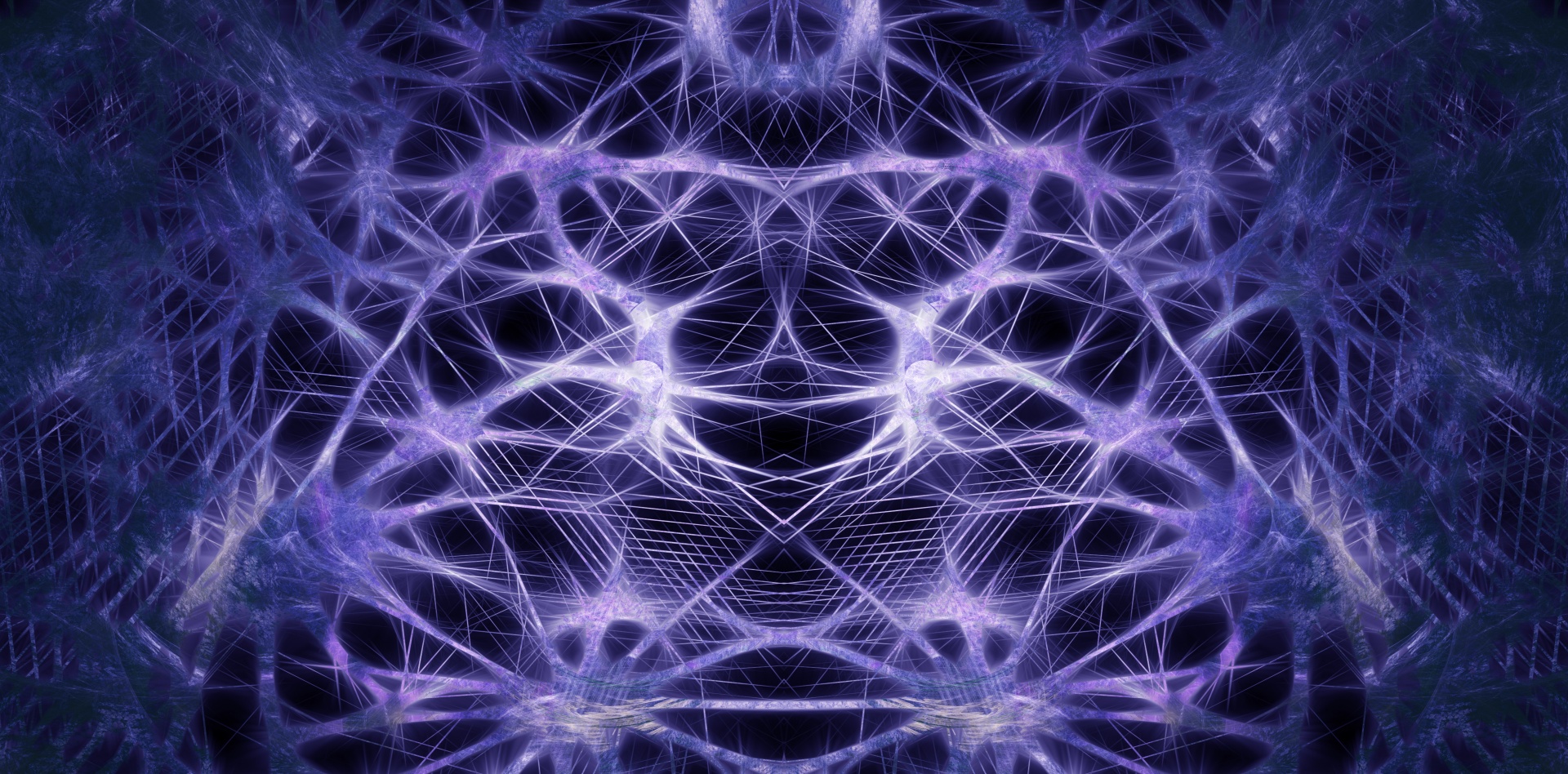07 Dezembro 2021
“A primeira década do século XXI foi a da digitalização e a organização em série. A segunda foi a das plataformas. A terceira década será a dos algoritmos criativos. Estamos preparados para isso?”, questiona Jorge Carrión, escritor e crítico cultural, em artigo publicada por Clarín-Revista Ñ, 06-12-2021. A tradução é do Cepat.
Segundo ele, "por meio desses três passos – digitalização, serialização, algoritmos – a cultura do século XXI foi retirando a importância da obra e do artista singulares e a repassando para a série, a franquia, o universo, o catálogo, a plataforma".
Eis o artigo.
Em 1998, Massive Attack lançou o seu disco Mezzanine, Roberto Bolaño publicou Os detetives selvagens e Svetlana Alexievich recebeu o prestigioso prêmio da Feira do Livro de Leipzig. A Bienal de São Paulo foi histórica por seu discurso antropofágico e pós-colonial e foi lançado o filme A eternidade e um dia, de Theodoros Angelopoulos, que eu vi nos cinemas Verdi de Barcelona. Em 1998, também nasceu o Google.
Naquele ano, portanto, enquanto a cultura e a arte continuavam com o seu atomizado bombardeio estético e crítico de baixa intensidade, solidificou-se um macroprojeto tecnológico que havia sido gestado nas décadas anteriores. A informatização da realidade.
Os grandes computadores da IBM, o design e a inovação na informática pessoal segundo Steve Jobs, a aposta dos Estados Unidos da América nas vias da informação e a progressiva miniaturização dos dispositivos tinham provocado uma revolução que, rapidamente, um algoritmo tornaria definitiva.
O motor de busca do Google começou a organizar a informação textual da internet de um modo novo e logo também incluiu as imagens. No ano 2000, apresentou AdWords, o sistema de publicidade que vinte anos mais tarde seria a maior máquina comercial da história da humanidade. A essa altura, a cultura do mundo já terá mudado radicalmente. Será digital, serial e – após o sucesso brutal do Google e das sucessivas plataformas e redes sociais – profundamente algorítmica.
A digitalização serial do mundo
Nesse mesmo ano 2000, o Napster conquistou grande popularidade, sendo a primeira grande estrutura de intercâmbio de arquivos mp3, o que acabaria transformando nosso modo de nos relacionar com a música. Com o tempo, as séries, os filmes e os livros também seriam convertidos em arquivos e visualizados em dispositivos. Nossa vida cultural foi se tornando híbrida, física e virtual. Na verdade, nossa vida toda.
A música, o cinema, os livros. Costuma-se narrar a digitalização da cultura no século XXI a partir do polo da recepção, quando na verdade a metamorfose se deu tão ou mais rapidamente no da criação e produção.
Muitos de nós continuam lendo livros exclusivamente em papel, mas a grande maioria dos escritores utiliza o computador desde os anos 1990. Em uma velocidade vertiginosa, as câmaras e outras tecnologias de gravação ou edição foram aumentando sua qualidade e diminuindo seu preço até nos habituar a capturar o real por meio de interfaces tecnológicas.
Esse processo culminou, no momento, nos telefones celulares, que são ao mesmo tempo uma caixa cheia de ferramentas (para qualquer tipo de expressão criativa) e uma caixa de Pandora (que saturou os servidores, as nuvens, nossos olhos).
Se a passagem do analógico ao digital era previsível, ninguém imaginaria, vinte anos atrás – por outro lado –, a transição entre as obras únicas e as narrativas seriais. Uma inércia levou à outra. A série faz parte da cultura do capitalismo e nem a rádio, nem os quadrinhos, nem a televisão são compreendidas sem ela.
Mas, após o triunfo da telerrealidade e das telesséries de extensa gama, na exata virada do século, o novo ecossistema midiático digital, onde primeiro foram multiplicados os canais de televisão - coletivos - e depois os pessoais - a partir do lançamento do Facebook e Youtube, em 2005 -, nada mais fez do que potencializar a existência de séries.
Conforme escreveu Mark Fisher, a partir do modelo de Star Wars, a primeira franquia “a tratar o mundo inventado como uma mercadoria de grande escala comercial”, o formato se estendeu rapidamente para todas as linguagens. Do sucesso de Harry Potter e As Crônicas de Gelo e Fogo às sagas cinematográficas ou de videogames.
Como todo o humano, a cultura se articula entre dois conceitos: a novidade e o reconhecimento. Na última década, os objetivos culturais vagamente identificados que foram surgindo ou se assentando – memes, podcasts, stories, listas, gifs, experiências interativas e de realidade virtual ou microvídeos – não são uma exceção.
E uma das principais táticas que seguiram para penetrar na consciência coletiva, para se tornar normais, além de virais, foi a de se tornar sistemáticos. Dos memes que repetem a foto e trocam o texto às webséries, as séries para ouvir ou as intermináveis listas de reprodução, tudo se tornou serial.
E não por acaso. Do ponto de vista humano, um vídeo, um filme ou uma telessérie podem ser igualmente interessantes. Mas na perspectiva das plataformas e seus algoritmos, sem dúvida, são muito mais convenientes os canais de influencers ou uma série com muitas temporadas.
Porque o valor artístico, a qualidade artesanal ou a importância canônica não são fatores que importam no novo paradigma tecnológico. A única coisa que as redes sociais e as grandes produtoras de conteúdos levam em consideração é a capacidade de seduzir de forma duradoura, de sequestrar a atenção para gerar o máximo número possível de dados úteis.
Para o Instagram ou o Amazon Prime Video dá no mesmo se as séries são criadas por David Simon, Amy Sherman-Palladino, Kim Kardashian ou El Ribius.
Todo o novo sistema se sustenta nos rastros, nas correlações, nas linhas de consumo traçadas por cada internauta, cada leitor, cada visualizador de vídeos. Portanto, no novo mundo do Big Data, as obras ou os conteúdos são muito menos importantes do que as linhas de dados que cada um de nós construímos. A série de séries em que transformamos nossas vidas. Isso que você chama – precisamente – de seu perfil.
Algoritmos
O fato de que, no momento, não exista nenhuma manifestação cultural que não seja – ao menos parcialmente – digital e que a maior parte das obras e projetos artísticos se insira em séries projetadas pelos próprios criadores, pelas páginas web ou plataformas que as incluem em seus catálogos ou pelo nosso próprio histórico, tem permitido o crescimento desenfreado dos algoritmos sociais e culturais.
A maior parte da leitura, informação e entretenimento é mediada pelo Google, Facebook, Apple, Youtube, Netflix, Amazon, Spotify, Alibaba e outras corporações. Ou seja, por complexas maquinarias algorítmicas.
Estruturas tentaculares que são – ao mesmo tempo – produtoras de conteúdos próprios, distribuidoras de produções alheias, pesquisadoras em inteligência artificial ou arquiteturas logísticas e inventoras de novas formas de consumo, como agregadores, formas de subscrição ou dispositivos.
Compartilham um espírito de concentração empresarial e a vontade de ser plataformas, que contagiou todas as companhias de entretenimento e comunicação, do New York Times à Movistar ou o grupo Planeta.
Por meio desses três passos – digitalização, serialização, algoritmos – a cultura do século XXI foi retirando a importância da obra e do artista singulares e a repassando para a série, a franquia, o universo, o catálogo, a plataforma.
Encontramos a dimensão mais clara dessa tendência nos grandes projetos coletivos de caráter intelectual, como Forensic Architecture ou Wikipédia. O resumo de sua dimensão mais obscura encontramos em Disney+, uma plataforma que foi totalmente monopolizada por etiquetas e marcas genéricas, em detrimento dos nomes próprios: Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic. Cada vez menos pessoas sabem que Disney é o sobrenome de um ser humano do século passado chamado Walt.
Nesse ecossistema de ascensão dos algoritmos e de imposição de novas regras alheias aos critérios tradicionais, é preciso compreender vários fenômenos que, aparentemente, não estão relacionados.
Do cansaço e a depressão dos influencers com mais seguidores, que formataram suas vidas e suas economias segundo a visibilidade oferecida por algumas fórmulas matemáticas totalmente obscuras e variáveis, e que agora assistem seu declínio sem entender as razões, ao avanço da precariedade nos trabalhos criativos, cada vez mais condicionados pela quantidade e pelo impacto ou o tráfego e menos pela qualidade e recepção a médio e longo prazo, passando pelo auge imparável da autopublicação, que é a lógica das redes sociais e que – a partir delas – foi criando espaços cada vez mais importantes, tanto na Amazon como dentro das grandes editoras tradicionais.
Em um mundo cada vez mais horizontal, de recomendações automáticas e de crítica amadora e coletiva (Goodreads, TripAdvisor), todos somos escritores, fotógrafos, designers, comunicadores ou criadores digitais que despejam constantemente milhões de conteúdos nesse grande desaguadouro que é a rede.
Do outro lado, os algoritmos não param de aprender conosco. Como disse Éric Sadin, em La siliconización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital (Caja Negra): “A interpretação industrial dos comportamentos se tornou o principal pivô da economia digital”. Os algoritmos já traduzem e geram música ou imagens com grande precisão, que alimentam tanto filmes ou videogames quanto o Spotity ou YouTube. Cada vez existem menos linguagens que sejam dominadas só pelos humanos.
Uma nova crítica cultural
As metodologias tradicionais de análise cultural – herdeiras da filologia e da história da arte – começam a ficar obsoletas para o estudo da cultura. Pela nossa formação e pela nossa própria escala, individual e finalmente humana, diante de filmes, obras de teatro ou quadros que estão ao alcance de nossos olhos, com livros que não são muito maiores do que nossas próprias mãos, continuamos acreditando na singularidade da obra que vemos, escutamos ou lemos.
E seguimos pensando-a em relação ao seu autor e sua trajetória, seu contexto, nossa época. Mas, na realidade, não só a forma como lemos mudou brutalmente – através da rolagem e catálogo infinitos, na transição da cultura do livro à cultura do aplicativo -, como também as formas como a cultura é produzida e distribuída.
No momento atual, não apenas a inteligência coletiva e a colaboração entre roteiristas, artistas, técnicos e engenheiros em um mesmo projeto prevalece cada vez mais; não apenas as fórmulas contratuais e estratégias de trabalho em equipe, que lembram as oficinas artesanais da Idade Média ou os estudos de animação e de quadrinhos do século XX, se estendem, sobretudo, o consumo cultural das obras – com suas ideias geniais – feitas na solidão por criadores individuais começa a ser menos importante do que as tendências virais, os padrões do Big Data, as cadeias de sentido detectadas pela inteligência artificial e os formatos desenhados pela aprendizagem profunda.
Por isso, é importante pensar em estratégias de leitura que vão além da semiótica ou a retórica do texto ou da linguagem audiovisual. Seria necessário imaginar uma crítica ao algoritmo. Não só no âmbito macro do código – por exemplo, por meio de exercícios de engenharia reversa – ou dos dados em massa, também no nível do que é transparente: número de visualizações, rótulos, recomendações automáticas, listas de reprodução e o desenho de usuário.
Essa nova gramática e essa nova sintaxe, que ainda não pensamos a sério e que está determinando todas as formas como lemos a arte e a cultura em nossa época.
A primeira década do século XXI foi a da digitalização e a organização em série. A segunda foi a das plataformas. A terceira década será a dos algoritmos criativos. Estamos preparados para isso?
Leia mais
- NewsMedia4Good: “Na era do algoritmo, a mídia pode salvar o humano”. Entrevista com Derrick de Kerckhove
- O algoritmo “vigiador”. Artigo de Paolo Benanti
- O algoritmo que promove discursos de ódio se torna um bumerangue contra o Facebook
- Ainda seremos capazes de dominar a selva dos algoritmos? Entrevista com Aurélie Jean
- O reinado feudal do algoritmo. Entrevista com Cédric Durand
- Big data e informação não são sinônimos
- Assim os Big Data alimentam as desigualdades. Entrevista com Yuval Noah Harari
- “O big data apresenta uma multimetodologia”. Entrevista com Walter Sosa Escudero
- “Os algoritmos já ensinam os computadores a mentir”. Entrevista com Juan Ignacio Cirac
- “A privacidade é pública, se a entregamos, destruímos a sociedade”. Entrevista com Shoshana Zuboff
- A desigualdade automatizada
- A sociedade algorítmica
- O método científico em tempos de Internet
- Os algoritmos podem intensificar a desigualdade
- “Ainda que a privacidade terá sido renunciada, o verdadeiro sofrimento virá com a pobreza”. Entrevista com Cathy O’Neil
- “O Facebook já não tem controle do que acontece com os dados dos usuários”, diz ex-diretor
- Vida 3.0 e o ser humano na era da inteligência artificial
- O Metaverso do Facebook: a maior caixa de idiotas que pode existir
- “As tecnologias digitais têm poder de decisão em nossas vidas”. Entrevista com Éric Sadin
- “Estaremos cercados por fantasmas que administrarão nossas vidas”. Entrevista com Éric Sadin