"As desigualdades são o padrão do trabalho em plataformas, não uma exceção", escreve Rafael Grohmann, professor do Mestrado e Doutorado em Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), editor da newsletter DigiLabour e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), na introdução do livro seu Os laboratórios do trabalho digital, publicado pela Editora Boitempo, publicada por Outras Palavras, 23-08-2021.
A pandemia do novo coronavírus acelerou e intensificou o processo de plataformização do trabalho, que tende a se generalizar para todas as áreas. Trabalho remoto, ensino à distância, lives, e trabalho por aplicativos são sintomas da crescente dependência de infraestruturas digitais – geralmente alimentadas por dados e automatizadas por algoritmos – para a realização de atividades laborativas. Essa é a definição de plataformização do trabalho. Entregadores, professores, jornalistas, profissionais que alimentam dados para a inteligência artificial (IA): seja de casa ou das ruas, os trabalhadores enfrentam um verdadeiro laboratório da luta de classes em seus novos-velhos experimentos.
Conceber o trabalho em plataformas como laboratório da luta de classes é compreender que tanto as novas formas de controle e gerenciamento por parte do capital quanto as possibilidades de construção de alternativas por parte da classe-que-vive-do-trabalho não estão dadas. Por um lado, mecanismos como gestão algorítmica, gamificação, dataficação e vigilância são experiências do capital rumo à intensificação do trabalho e ao controle da classe trabalhadora. Por outro, os trabalhadores também fazem experimentações e prefigurações em torno de novas formas de organização, reapropriações de tecnologias digitais em benefício próprio, pressão por condições decentes de trabalho e construção de plataformas alternativas, cooperativas e autogestionadas.
Esse laboratório não nasceu agora. A plataformização é, ao mesmo tempo, materialização e consequência de um processo histórico que mistura capitalismo rentista, ideologia do Vale do Silício, extração contínua de dados e gestão neoliberal. Uma das bases está na crescente responsabilização individual dos trabalhadores por tudo o que envolve o trabalho, circunstância que Wendy Brown [1] chama de “cidadania sacrificial”. Assim, os trabalhadores são obrigados a fazer a gestão das próprias sobrevivências com toda a sorte de vulnerabilidades, tendo de escutar que isso é um “privilégio”. Já os dados e metadados transformados em capital, somados à convergência de capital, auxiliam a dar forma às distintas possibilidades de extração do valor das plataformas, dependentes das mais variadas configurações de trabalho vivo. Isso significa que não basta olhar somente para as plataformas em si para compreender o trabalho plataformizado, mas é preciso olhar também para as inter-relações entre financeirização, neoliberalismo e dataficação, por exemplo. Não se trata de refeudalização ou protoforma. O capitalismo de plataforma é a própria expressão de seu desenvolvimento a partir dessas combinações.
As plataformas, assim como quaisquer tecnologias, apresentam valores e normas inscritos em seus desenhos, algoritmos e interfaces, podendo apresentar mecanismos discriminatórios. Há materialidades envolvendo as plataformas, pois são fruto do trabalho humano e dependem da extração de recursos naturais e físicos que se transformam em artefatos por meio de cadeias de produção. Essas materialidades servem para pensá-las tanto em relação a processos de trabalho e ao meio ambiente quanto em relação às próprias interfaces das plataformas – enquanto meios – no que tange às affordances inscritas em suas arquiteturas. Isto é, existem políticas em todo o circuito de produção e consumo das plataformas.
A infraestrutura das plataformas, então, fornece as condições básicas e as bases técnicas para a organização do trabalho realizado nelas. Elas são, portanto, desenhadas para determinadas formas de interação em detrimento de outras. Podem facilitar, por exemplo, a relação consumidor-trabalhador em prejuízo das relações entre trabalhadores. Ou seja, podem ser projetadas visando precisamente a essa desarticulação.
O trabalho em plataformas se dá em confluência com processos produtivos e comunicacionais. Em primeiro lugar, são as práticas materiais de comunicação que estruturam e organizam as relações de trabalho, de modo que não há trabalho sem elas. Consideramos, assim, que as plataformas são, ao mesmo tempo, meios de produção e meios de comunicação, ou seja, meios de organização das atividades laborativas e comunicacionais, apresentando-se com contornos também políticos. Os mecanismos das plataformas, como gestão algorítmica do trabalho, extração de dados e vigilância automatizada, configuram-se, pois, como processos comunicacionais e de gerenciamento dos trabalhadores. Dessa forma, as plataformas também contribuem para a aceleração da produção e circulação do capital, como Marx já alertava nos Grundrisse* em relação à função dos meios de comunicação e transporte, reforçando o papel desses meios na circulação do capital.
A comunicação também atua como um braço organizador e mobilizador do trabalho nas plataformas digitais, sendo o centro de disputas nesse universo e envolvendo tanto as lógicas de controle e gestão quanto as de resistência e organização dos trabalhadores. Ela funciona como mecanismo de justificação dos modos de ser e de aparecer do capital; mobiliza e faz circular determinados processos produtivos e usos e sentidos das plataformas em detrimento de outros; e emprega estratégias para fazer circular sentidos que ligam as empresas de plataformas a atributos como inovação, disrupção e responsabilidade social. Quando essas empresas nomeiam diretores para o cargo de “líder de políticas públicas” temos a síntese de como elas pensam o público e o privado a partir das lógicas da racionalidade empreendedora. É a gramática do capital, que circula nos mais diferentes dispositivos midiáticos, desde o LinkedIn até os discursos de coaches, passando inclusive por setores da classe trabalhadora. Isso não quer dizer que os trabalhadores necessariamente aceitem e naturalizem as prescrições do capital a partir de seus signos circulantes; existe sempre uma disputa de sentidos.
É preciso também salientar que os mecanismos da plataformização do trabalho não acontecem no vazio. Isto é, esse processo está longe de ser homogêneo, pois há distintos tipos de plataformas digitais e, por conseguinte, diversos perfis de trabalhadores, com marcadores de gênero, raça, frações de classe e território. Há desde a plataforma francesa Crème de la Crème, considerada “a primeira comunidade seletiva de freelancers”, especialmente dos setores de tecnologia, dados, design e marketing digital, até as conhecidas plataformas de entrega de mercadorias, passando por aquelas cujos trabalhadores produzem dados para sistemas de inteligência artificial. Cada plataforma, ainda que de um mesmo setor, possui mecanismos e materialidades próprios, o que contribui para a complexificação do cenário. Dessa maneira, é impossível dizer que existe apenas um perfil de trabalhador ou de plataforma.
Além disso, as desigualdades são o padrão do trabalho em plataformas, não uma exceção. Segundo Niels Van Doorn, o trabalho plataformizado é “completamente incorporado a um mundo criado pela forma-valor capitalista, que depende da subordinação de trabalhadores de baixa renda racializados e generificados” [2]. Em São Paulo, 71% dos entregadores das plataformas são negros. A pesquisa de Safiya Noble e Sarah T. Roberts [3], por exemplo, mostra como as elites tecnológicas do Vale do Silício trabalham para esconder as inscrições racistas em seus produtos e nas relações de trabalho em suas empresas, a despeito de discursos pós-raciais. Já investigações como as de Gabriella Lukács[4] evidenciam como o trabalho não pago ou mal pago de mulheres em plataformas no Japão é o que estrutura a economia digital no país.
A plataformização do trabalho atravessa diferentes sujeitos sociais de múltiplas maneiras, sem se configurar como um processo homogêneo. São situações de trabalho distintas, entrecortadas por esses marcadores sociais de desigualdades e diferenças, embora o controle algorítmico se coloque como algo neutro e objetivo.
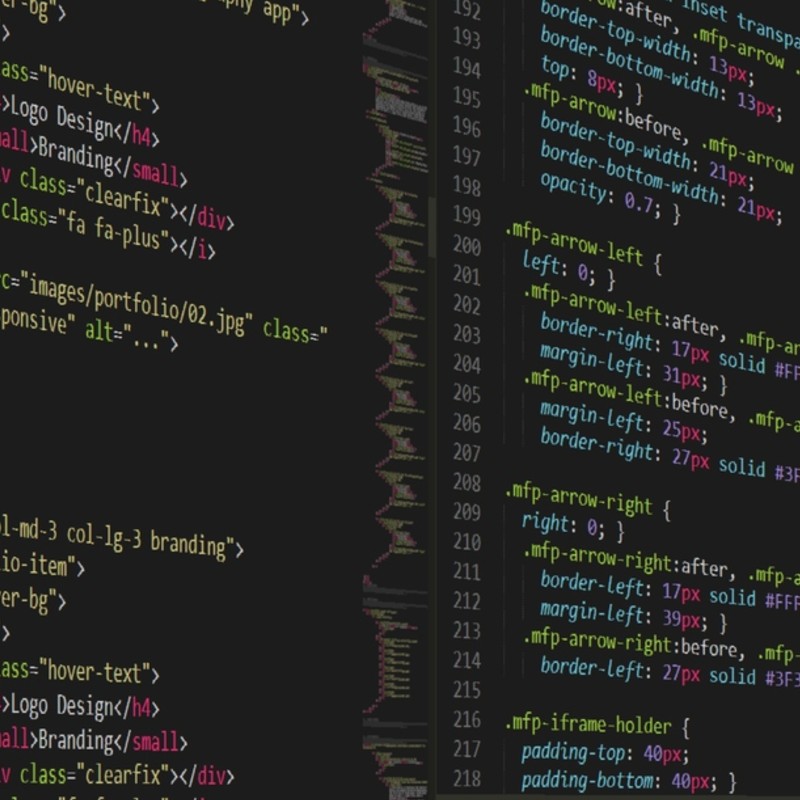
Imagem: Ilustração de um algoritmo | Foto: PxHere
Além de raça, classe e gênero, há outros importantes fatores relacionados ao trabalho em plataformas, como as temporalidades e espacialidades do trabalho digital, que impactam as condições de trabalho. As temporalidades estão marcadas desde o desenho das plataformas, com a cristalização da cultura de seus criadores, em busca de agilidade e otimização da produtividade, auxiliadas por uma gamificação inscrita nos processos de gestão.
As espacialidades envolvem as múltiplas dimensões de locais em que os trabalhadores estão inseridos para executar suas atividades. Em uma dimensão, é necessário entender quais são os espaços concretos de trabalho e suas condições: por toda a cidade? Em casa? Já a dimensão do trabalho em plataformas relaciona-se a uma concretude espacial mais ampla, ligada a uma geopolítica global. Por um lado, pesquisas têm mostrado como as condições de trabalho de entregadores em São Paulo, Londres e na Cidade do Cabo são muito semelhantes – especialmente no que se chama de composição técnica de classes –, o que nos leva a pensar na circulação das lutas dos trabalhadores em contexto de plataformas. Por outro, há especificidades locais que demonstram desigualdades geográficas, com dinâmicas desiguais Norte-Sul, envoltas em contextos políticos, sociais, jurídicos, legislativos e econômicos.

Imagem: Entregador de aplicativo realiza entrega na região noroeste de São Paulo, março de 2021 | Foto: Izabella Giannola / Wikimedia Commons
Segundo o indicador econômico Online Labour Index (OLI), da Universidade de Oxford, o maior empregador de tarefas freelance on-line são os Estados Unidos, e a maioria dos trabalhadores freelance on-line é proveniente da Índia – a maior parte (59,8%) no setor de tecnologia e software. De acordo com o mesmo índice, os países em que essas tarefas mais são desenvolvidas concentram-se na Ásia, com destaque para Índia, Paquistão e Bangladesh. Podemos também ressaltar a proeminência de venezuelanos trabalhando como treinadores de dados para carros autônomos – que, aliás, tendem a atropelar mais pessoas negras do que brancas – e de filipinos como moderadores de conteúdo terceirizados de plataformas de mídias sociais, como mostra o documentário TheCleaners*. Isso significa que há dinâmicas diferentes de trabalho em plataformas no Norte e no Sul, que, por sua vez, são afetadas por relações de raça, classe e gênero.
Contextualizar a geopolítica do trabalho em plataformas significa também compreender os diferentes sentidos de trabalho nas economias de cada país e que a Europa e a América do Norte não são o “padrão”. No Norte, houve a emergência de expressões como gig economy para nomear o cenário do trabalho em plataformas, o que condiz com o contexto específico dos países dessa região, que querem tornar universal a validade de suas denominações. Ora, a história da economia brasileira se traduz em ser uma grande gig economy, com o gig sendo a norma permanente, algo imposto na gestão da sobrevivência da classe trabalhadora. Isso significa que a precariedade e a informalidade não são novidades. Por esse motivo, a expressão gig economy é equivocada para nomear o que se passa atualmente no mundo do trabalho brasileiro. Por um lado, podemos pensar historicamente o trabalho no Brasil como uma grande gig economy em contexto de superexploração do trabalho; por outro, como afirma Ludmila Costhek Abílio [5] , o que acontece agora é a generalização dos modos de vida periféricos. Deve-se também considerar as próprias trajetórias brasileiras para pensar em mecanismos de enfrentamento da plataformização do trabalho.
Não podemos supor que já vivemos algum dia o Estado de bem-estar social no país e não podemos nos esquecer de como a CLT não é a mesma desde a reforma trabalhista do governo de Michel Temer, em 2017. O que há de novidade no mundo do trabalho no Brasil é justamente a plataformização, que joga uma pá de cal no processo histórico de flexibilização e precarização do trabalho, agora em parceria com financeirização, dataficação e racionalidade neoliberal. Como esse cenário se repete em muitos outros países, é notório que não se trata, então, de uma especificidade nossa.

Imagem: Ex-presidente Michel Temer reunido com ex-Ministros e parlamentares em evento em que foi sancionada a reforma trabalhista, 2017 | Foto: Fotospublicas
Porém, o futuro da plataformização não é dado ou definido a priori. É curioso que, enquanto nos anos 1990 havia quem bradasse o “fim do trabalho”, atualmente a coligação LinkedIn – coach não para de circular narrativas sobre o “futuro do trabalho” – evidentemente marcadas por sentidos ligados à ideologia do Vale do Silício. As perguntas, como “seremos substituídos por robôs?”, são as mesmas de trinta anos atrás. Porém, como ressalta Janine Berg [6], economista da OIT, pouca atenção tem sido dada à crescente perda de “qualidade no trabalho” ao redor do mundo. Em direção semelhante, Aaron Benanav [7] argumenta que, em vez de desemprego em massa, haverá uma crescente intensificação de subempregos. Para ele, não é a automação, mas são as consequências da progressiva desaceleração econômica em curso desde os anos 1970 as responsáveis pelo declínio da demanda por trabalho, num processo em que as transformações tecnológicas atuariam como uma causa secundária. O cenário desenhado pela radicalização da plataformização, portanto, é a crescente “taskificação” das atividades de trabalho – e com um papel central do trabalho humano nos processos envolvendo inteligência artificial, o que Hamid Ekbia e Bonnie Nardi [8] chamam de heteromação.
Isso significa que a automação não acontece sem o trabalho fantasma de uma multidão de trabalhadores em plataformas globais de inteligência artificial. Estaremos cada vez mais espremidos em microtarefas freelance dependentes de plataformas digitais para o próprio sustento. É isso que se aponta quando se fala em drones entregando encomendas da Amazon ou do iFood. Não se trata da automação completa, mas de entregadores sendo substituídos por trabalhadores que monitoram drones. Mais um experimento do capital.
Os principais expoentes desse cenário são as plataformas de inteligência artificial, também chamadas de plataformas de “microtrabalho” – discordamos, porém, do uso dessa expressão por considerar que ela não leva em conta a mobilização total dos trabalhadores em torno dessas tasks nem o papel do trabalho humano na complexidade da anatomia de um sistema de IA. Há brasileiros envolvidos em algumas dezenas de plataformas como essas, que apresentam as próprias especificidades. Em primeiro lugar, há plataformas em que trabalhadores produzem e treinam dados para sistemas de inteligência artificial, como a Amazon Mechanical Turk (AMT) – cujo slogan é “inteligência artificial artificial” – e a Appen – “dados com um toque humano”. As tarefas executadas vão desde a avaliação de publicidade e o treinamento de algoritmos de reconhecimento facial até a transcrição de áudio de assistentes virtuais.
Em segundo lugar, há plataformas de moderação de conteúdo, como Cognizant e Pactera, cujos trabalhadores, via de regra, são terceirizados do Facebook e do Google – nessa linha, o próprio Facebook foi obrigado em 2020 a pagar uma indenização de 52 milhões de dólares a moderadores de conteúdo terceirizados que desenvolveram estresse pós-traumático [9]. Por último, há plataformas de “fazendas de cliques” – a maioria brasileiras – em que os trabalhadores são como bots humanos e passam o dia curtindo, comentando e compartilhando posts em redes sociais como Instagram, em troca de pouquíssimos centavos por tarefa. Os solicitantes dessas tarefas vão desde influenciadores e duplas sertanejas até candidatos a prefeito. Há também um processo intenso de vendas e trocas de perfis fakes e bots para que os trabalhadores consigam aumentar os ganhos.

Imagem: Faxada da Cognizant | Foto: Cognizant / Flickr CC
Cada um desses tipos de plataforma também apresenta especificidades de formação e trajetória de trabalhadores, no sentido de frações de classes. Em algumas, proficientes. Em outras, como as de fazendas de cliques, eles têm de criar contas falsas e bots, mais de cinquenta, muitas vezes – para poder sobreviver. Nesses casos, eles passam o dia curtindo e comentando fotos no Instagram e vídeos no YouTube a partir das tarefas solicitadas pelas plataformas, em geral brasileiras.
Esses exemplos revelam uma dimensão mais profunda do trabalho em plataformas – para além de um foco específico em entregadores e motoristas. Se a deep web é aquele lugar oculto da internet, há também a deep web do trabalho em plataformas, com atividades em fazendas de clique, moderação de conteúdo e as possibilidades de generalização da plataformização do trabalho. Isso mostra a capacidade laboratorial do capital em relação aos trabalhadores. O próximo passo já ensaiado é o crescente uso de drones para entregas; nesse sentido, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou algumas operações no Brasil. Esses equipamentos, no entanto, não substituirão os trabalhadores, pois é necessário que sejam supervisionados, em mais um processo de heteromação do trabalho.
É imprescindível que os trabalhadores capturem e se reapropriem da própria noção de futuro a partir de projetos que confrontem o cenário atual da plataformização. O futuro do trabalho é um tema importante demais para ficar nas mãos de “gurus”. Quando tudo parecia convergir para um quadro de extrema competição entre os trabalhadores – algo que muitos viam como um caminho sem volta –, os acontecimentos nos deram uma lição. Não existe trabalhador inorganizável: se há novos métodos de controle e organização do trabalho, são necessárias também novas formas de organização por parte dos trabalhadores. Sem esquecer as lutas históricas, a classe trabalhadora sempre se reinventa – sempre se recompõe a partir da nova realidade técnica do trabalho. Neste laboratório do trabalho em plataformas, os trabalhadores não são amorfos ou entes passivos, mas se organizam, por exemplo, a partir de táticas e estratégias em relação aos algoritmos.
As jornadas extenuantes – que ocorrem de domingo a domingo, para não com- prometer a pontuação do trabalhador, de modo que ele consiga atingir as metas – não são um limite para a organização coletiva dos trabalhadores das plataformas digitais. E não é de hoje: ao longo dos últimos anos, vimos crescer associações, sindicatos e novas formas de organização nas mais diferentes categorias – do setor de tecnologia ao de games, passando por youtubers e influenciadores e incluindo também entregadores e motoristas. A Asociación de Personal de Plataformas (APP), na Argentina, a Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), na Inglaterra, e a #NiUnRepartidorMenos, no México, são alguns exemplos de como os trabalhadores têm se organizado. No Brasil, só entre os motoristas de aplicativos, já há pelo menos dezoito sindicatos e associações, algo que também vem acontecendo entre os entregadores. Há distintas formas de auto-organização por parte dos trabalhadores de plataforma – inclusive experiências de escrita como forma de perceberem-se e enunciarem-se como tal, como mostra a edição de outubro de 2020 da revista NotesfromBelow [10], que traz apenas textos escritos por pessoas trabalhadoras dos mais diferentes setores –, assim como há complexidades e contradições em torno da composição política dessa classe. Ao se organizarem coletivamente, eles mostram que podem frear a circulação do capital, e assim reencontram sua capacidade de barganha e de pressão contra as empresas, em nome de uma vida melhor.
Esses são laboratórios dos trabalhadores das plataformas, que conduzem experimentos com novas formas de auto-organização. A comunicação tem um papel central nessa questão, a começar pelo protagonismo do WhatsApp. Se as plataformas são meios de comunicação e produção que servem para o controle do capital, elas também têm sido reapropriadas para a organização dos próprios trabalhadores. Funcionam ainda como veículos de circulação de sentidos sobre as lutas dos entregadores, processo que ocorre por meio de vídeos, correntes de texto e fotos. Se, por um lado, as empresas querem mostrar que fazem tudo pelos “parceiros”, em um cenário de “disrupção” e “transformação digital”, é preciso fazer circular, também, conteúdos que vêm dos trabalhadores. A comunicação atua na organização e difusão de sentidos, permitindo que as lutas alcancem toda a classe trabalhadora.
As possibilidades de experimentação dos trabalhadores também se concentram na construção de plataformas de sua propriedade, seja em cooperativas de plataforma, seja em outros arranjos de trabalho e desenhos institucionais. O cooperativismo de plataforma é uma possibilidade de unir o potencial tecnológico das plataformas digitais, reapropriando-as para outros usos, às perspectivas autogestionárias do movimento cooperativista, a partir das possibilidades de construção de plataformas de propriedade de trabalhadores. É uma maneira tanto de coletivizar as plataformas digitais quanto de tornar as cooperativas tradicionais mais próximas da economia de plataformas. Esse é um laboratório para prefigurar e fazer circular outros mundos – e sentidos – possíveis, para além de um realismo capitalista de lutas de fronteiras entre circulação do capital e circulação do comum.
Isso significa entender tanto suas potencialidades como seus limites, tais quais as ameaças de cooptação das plataformas cooperativas por meio de narrativas empreendedoras, a competição agressiva com as plataformas privadas dominantes – possibilitadas pelo capital de risco e pela formação de lobbies– e o perigo da autoexploração. Na realidade, por causa desses limites e contradições, elas não substituirão a curto prazo as grandes plataformas de trabalho. Além disso, não será um aplicativo por si a solução dos problemas da classe trabalhadora. A problemática está muito além disso. O cooperativismo de plataforma depende de um conjunto de dimensões – como organização do trabalho e processos de consumo – para além da própria construção da plataforma. Porém, como afirma Marisol Sandoval [11], é preciso enfrentar dialeticamente as contradições históricas em torno das cooperativas – entre constrangimentos e cooptações, por um lado, e possibilidades de reconfiguração em relação à emancipação dos trabalhadores, por outro.
As plataformas cooperativas podem ser de trabalhadores, consumidores ou multilaterais, o que mostra as múltiplas possibilidades de desenhos institucionais para elas. Essas experiências passam por cooperativas de serviço de nuvem, compartilhamento de fotógrafos, músicos, jornalistas e gamers, e plataformas de streaming de música, conteúdo audiovisual, entre outros. Há também plataformas cooperativas no setor de entregas, sendo alguns exemplos a Mensakas, da Espanha, a Resto. Paris, da França, e a Urbe, da Bélgica, todas realizadas por ciclistas, além de uma federação de cooperativas de entregadores, a CoopCycle, com base na França e presente em outros seis países. A CoopCycle possui um software próprio denominado “comum digital”, com licença Copyleft, destinado a cooperativas. A plataforma, criada para gerir a atividade de entregas por bicicletas, tem como objetivo servir às reais necessidades dos trabalhadores.
Existe ainda uma cooperativa de motoristas, chamada Driver’s Seat, cujo foco é a democratização de dados. Os trabalhadores usam o aplicativo dessa cooperativa para compartilhar os próprios dados; então, a Driver’s Seat coleta e vende informações sobre mobilidade para órgãos municipais, com a finalidade de possibilitar uma melhor tomada de decisões de planejamento em relação a transporte. Os dividendos obtidos com a venda dos dados são recebidos e compartilhados pelos motoristas. Isso ajuda a pensar como as lutas contra outras plataformizações também envolvem os direitos dos trabalhadores sobre os próprios dados.
No Brasil, há cooperativas e coletivos mais antigos, como a Pedal Express, e outros mais recentes, como Señoritas Courier, TransEntrega e Levô Courier, responsáveis por fazer circular, a depender da iniciativa, sentidos de mobilidade, de responsabilidade ambiental e social e de lutas em torno da igualdade de gênero. Esses exemplos demonstram as possibilidades de construção, de baixo para cima, de iniciativas locais que desenhem outros circuitos de produção e consumo e o potencial de desenvolvimento sem instruções prescritivas ou normativas, em verdadeiros experimentos. Coletivos e cooperativas de entregadores, por exemplo, podem funcionar em conjunto com cooperativas de programadores e agricultores, além de pequenos restaurantes, projetando valores de trabalho decente, design justice, desenvolvimento sustentável e alimentação saudável.
No cooperativismo de plataforma, há uma busca pela criação de plataformas próprias com lógicas que favoreçam a democracia no ambiente de trabalho e a não vigilância e autonomia dos trabalhadores. Isto é, desde o desenho, elas já devem ser construídas para a autogestão dos trabalhadores. O empenho na construção de cooperativas também envolve a criação de alternativas democráticas em relação às políticas de dados, fazendo circular sentidos sobre dados e algoritmos que os consideram uma forma de capital que deve ser transformada em bens comuns – ou seja, por meio de regimes alternativos de propriedade de dados, algo que aproxima o cooperativismo de plataforma das tentativas de descolonização de dados.
O cooperativismo de plataforma e as plataformas de propriedade dos trabalha- dores também desafiam a ideia de que a economia de plataformas necessita de uma grande escala; afinal, nem as famigeradas startups possuem muitos trabalhadores como regra. Um levantamento da Associação Brasileira de Startups mostra que 63% das startups brasileiras possuem até cinco funcionários [12]. Da mesma forma, não se pode esperar de cooperativas e coletivos de entregadores ou motoristas que haja 30 mil pessoas envolvidas. Não há argumentos para deslegitimar iniciativas autogestionárias com três ou cinco trabalhadores apenas por seu tamanho. Uma das fortalezas das plataformas de propriedade de trabalhadores é justamente sua capacidade de articulação e cooperação entre iniciativas.
Portanto, longe de serem uma solução simples, resumida ao desenvolvimento de um aplicativo, as experiências de construção de plataformas cooperativas e de propriedade de trabalhadores envolvem múltiplas dimensões, como design e materialidade das plataformas, organização do trabalho e processos produtivos, políticas e regimes de dados e algoritmos, intercooperação, estratégias midiáticas e de consumo, além de suas relações com valores já mencionados, como trabalho decente e design justice.
Como demonstra Ursula Huws [13], é preciso combater a generalização da plataformização do trabalho com sua ressignificação em prol dos trabalhadores e do bem público. Isso significa uma reinvenção de circuitos econômicos locais de produção e consumo por meio de plataformas que melhorem as condições de trabalho e, ao mesmo tempo, promovam políticas de mobilidade, melhorias de transporte público, serviços de cuidados e integração ao sistema de saúde. É assim que encaramos as plataformas de propriedade de trabalhadores – algo que envolve não só o desenho institucional de cooperativa: como possibilidades prefigurativas, o que significa que devemos construir hoje experimentos das sociedades que imaginamos viver amanhã.
Pensar no trabalho em plataformas como laboratório da luta de classes significa reconhecer tanto as dificuldades impostas pelos mecanismos atuais da plataformização quanto as possibilidades, frestas, brechas e fissuras de circulação das lutas dos trabalhadores, reconhecendo como centrais suas contradições, que teimam em não se resolver. Falar em potencialidades não significa idealizar a realidade, mas ajudar a construir outros mundos possíveis, algo ainda mais necessário em um mundo em que o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu.
É inútil, e até contraproducente, exigir um movimento pronto – à fast food– sem contradições ou com todas as soluções “para ontem”. O movimento real está em plena construção. São tentativas em meio à dança dialética do trabalho. Os movimentos pela regulação do trabalho em plataformas e pela construção de alternativas só fazem sentido quando ligados à organização coletiva dos trabalhadores. Caso contrário, sem saber suas reais necessidades e demandas, existe o perigo de cair em um solucionismo tecnológico – mais uma iteração da ideologia californiana dos magnatas do silício – ou de pressionar “de cima para baixo”, sem a construção de um movimento orgânico. Como argumentam Sai Englert, Jamie Woodcock e Callum Cant, “podemos começar a ver o germe de uma alternativa que surge da recusa dos trabalhadores das plataformas. No entanto, se propusermos formas de socialismo digital de cima para baixo, corremos o risco de perder não apenas esses germes radicais, mas também a possibilidade de fazê-los circular na economia digital e para além dela” [14].
Entre as tentativas de radicalização da plataformização por parte do capital – com a taskificação e o trabalho que sustenta a inteligência artificial – e as potencialidades de enfrentamento desse cenário e de construção de plataformas alternativas residem os laboratórios do trabalho em plataformas. Se são laboratórios de lutas de classes, é preciso usá-los a favor da classe trabalhadora. A expropriação e o hackeamento das plataformas digitais também devem ser pensados e prefigurados como possibilidades.
1 Wendy Brown, Cidadania sacrificial: neoliberalismo, capital humano e políticas de austeridade (trad. Juliane Bianchi Leão, São Paulo, Zazie, 2018).
* Karl Marx, Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política (trad. Mario Duayer e Nélio Schneider, São Paulo, Boitempo, 2011). (N. E.)
2 Niels Van Doorn, “Platform Labor: On the Gendered and Racialized Exploitation of Low-Income Service Work in the ‘On-Demand’ Economy”, Information, Communication & Society, v. 20, n. 6, 2017, p. 898-914.
3 Safiya Noble e Sarah T. Roberts, “Elites tecnológicas, meritocracia e mitos pós-raciais no Vale do Silício”, Fronteiras – Estudos Midiáticos, v. 22, n. 1, 2020.
4 Gabriella Lukács, Invisibility by Design: Women and Labor in Japan’s Digital Economy (Durham, Duke University Press, 2020).
* Direção de Hans Block e Moritz Riesewieck, Alemanha/Brasil, 2018, 90 min. (N. E.)
5 Ludmila Costhek Abílio, “Plataformas digitais e uberização: a globalização”, Contracampo, v. 39, n. 1, 2020.
6 Janine Berg, “Protecting Workers in the Digital Age: Technology, Outsourcing and the Growing Precariousness of Work”, Comparative Labor Law & Policy Journal, v. 41, n. 2, 2020.
7 Aaron Benanav, Automation and the Future of Work (Londres, Verso, 2020).
8 Hamid Ekbia e Bonnie Nardi, Heteromation, and Other Stories of Computing and Capitalism (Cambridge, MA, MIT Press, 2017).
9 Casey Newton, “Facebook Will Pay $52 Million in Settlement with Moderators who Developed PTSD on the Job”, The Verge, 12 maio 2020; disponível aqui. Acesso em: 26 fev. 2021.
10 Disponível aqui. Acesso em: 29 mar. 2021.
11 Marisol Sandoval, “Enfrentando a precariedade com cooperação: cooperativas de trabalhadores no setor cultural”, Revista Parágrafo, v. 5, n. 1, 2017.
12 Abstartups e Accenture, “O momento da startup brasileira e o futuro do ecossistema de inovação”; disponível aqui. Acesso em: 26 fev. 2021.
13 Ursula Huws, Reinventing the Welfare State: Digital Platforms and Public Policies (Londres, Pluto, 2020).
14 Sai Englert, Jamie Woodcock e Callum Cant, “Operaísmo digital: tecnologia, plataformas e circulação das lutas dos trabalhadores”, Fronteiras – Estudos Midiáticos, v. 22, n. 1, 2020, p. 55.