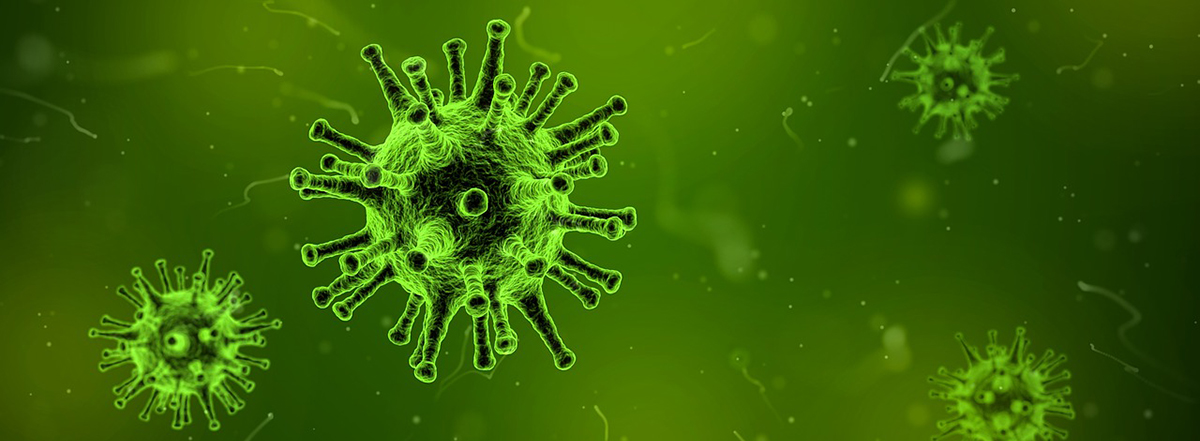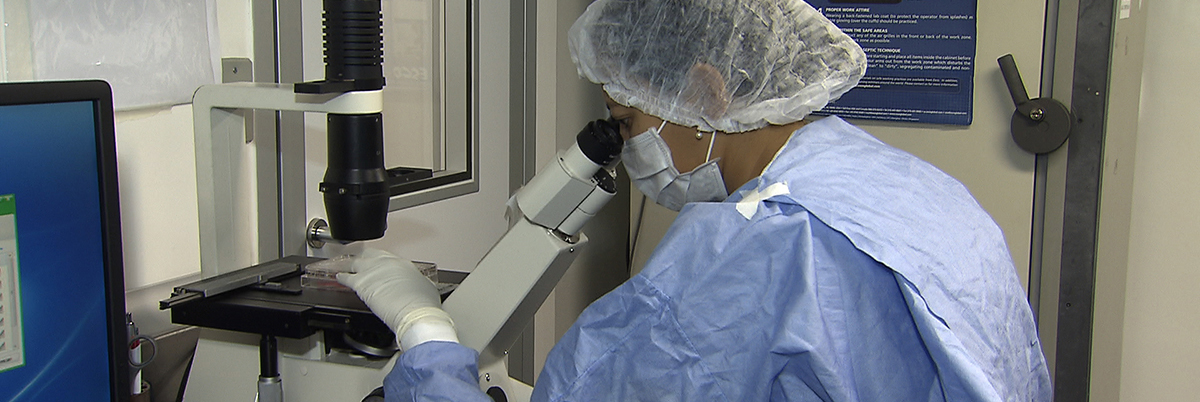05 Fevereiro 2021
Descaso e desigualdade são centrais: ao permitir que vírus circule livremente, governos produzem condições ideais para cepas cada vez mais perigosas. Apartheid global das vacinas completa o desastre. E mais: vale manter escolas fechadas?
A reportagem é de Raquel Torres, publicada por OutraSaúde, 02-02-2021.
Criadouro de variantes
Ficou mais difícil se mover entre as atualizações sobre o SARS-CoV-2 depois que começamos a ser bombardeados por uma confusão de siglas representando as novas variantes e as mutações que cada uma delas contém. Mas o fato é que, junto com a distribuição das vacinas, esse é provavelmente o tema que agora mais preocupa cientistas e autoridades de saúde.
No mundo todo, o segundo colapso da saúde em Manaus continua pautando reportagens e intrigando especialistas. Como já comentamos por aqui, a variante P.1 deveria estar tirando o sono dos nossos governos em todas as esferas: ela tem mutações que 1) a tornam mais transmissível, 2) foram localizadas em outras variantes que apresentaram “escape” em relação a vacinas e 3) parecem conferir maior possibilidade de reinfecção.
Atribuir à P.1 parte da responsabilidade pelo caos visto hoje na capital do Amazonas e que se espalha pelas cidades e estados vizinhos é muito intuitivo, e essa é uma hipótese formulada por vários especialistas. Afinal, pelo menos 50% dos moradores de Manaus mostravam anticorpos em junho, um percentual que poderia não ser alto o suficiente para acabar com as novas transmissões, mas que deveria ao menos fazer com que elas acontecessem num ritmo lento.
Não há nenhum martelo batido ainda, mas é bem possível mesmo que a nova variante esteja por trás do quadro dramático visto hoje no Amazonas. Mas por que ela foi surgir em Manaus? Se o vírus sofre mutação o tempo todo, então quanto mais vírus circulando e se replicando, maior a chance de aparecer uma mutação vantajosa para ele. Ou seja: o colapso pode até ter sido ocasionado pela variante, mas ao mesmo tempo a variante só apareceu porque lhe deram chance.
“Já ouviu falar da variante SARS-CoV2 [originada] no Japão? Não? Que tal um da Coreia do Sul? Não? Certamente variantes da Nova Zelândia e Vietnã? Claro que não – porque esses lugares não deram origem a variantes assustadoras”, provoca Jha Askisk, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Brown. Ao contrário, em lugares como Manaus, Reino Unido e África do Sul, que não controlaram minimamente bem as transmissões, o risco de surgirem mutações perigosas era grande.
Aqui no Brasil, não é só em Manaus que essas condições ótimas – para o vírus – se encontram. Nada impede que venham outras variantes, que podem ser ainda mais transmissíveis ou que escapem melhor da imunidade, tanto a natural como a adquirida por vacinas.
A maior solução
A corrida pelas vacinas não serve só para reduzir logo as internações e mortes, mas também porque baixar a prevalência do vírus evita que continuem aparecendo essas variantes temíveis. E aí temos mais um problema relacionado à distribuição desigual dos imunizantes. É preciso reduzir a transmissão global do vírus, e isso não se alcança com um punhado de países vacinando 100% da população enquanto milhões de pessoas no resto do planeta ficam a ver navios:
“Este ano pode ser uma história de dois mundos minando um ao outro. Certos países abordarão a imunidade coletiva vacinando quase todos os cidadãos. Outros podem ter vítimas em massa e ondas catastróficas de reinfecção – potencialmente com variantes que evoluíram em resposta à imunidade conferida pelas próprias vacinas às quais essas populações não têm acesso. No processo, esses próprios hotspots facilitarão a evolução rápida do vírus, dando origem a ainda mais variantes que podem tornar as populações vacinadas suscetíveis à doença novamente. Em um loop, o vírus pode voltar para assombrar os vacinados, levando a novos surtos e bloqueios nos próximos anos. Os países que acumulam a vacina sem um plano para ajudar os demais o fazem por sua própria conta e risco”, alerta a reportagem do site The Atlantic. O que assusta em Manaus, diz a matéria, é que a situação escancara o quanto “as populações ainda podem ser vulneráveis a cenários de desastres justamente quando as coisas parecem estar melhorando”.
A propósito: a variante do Reino Unido (B.1.1.7) tem sido encarada como a mais “tranquila” das variantes perigosas. Porque, ao contrário das que foram identificadas no Brasil e na África do Sul, não tinha a mutação E484K, que reduz a eficácia das vacinas. Pelo menos era assim, mas agora as autoridades informaram que essa mutação foi encontrada na variante de lá. Sua incidência, porém, parece pequena.
Esse país, que está fazendo muito sequenciamento genético para identificar novas cepas, descobriu 11 pessoas sem histórico de viagem infectadas com a variante sul-africana em diferentes regiões. Moradores de oito áreas agora vão ser testados mesmo sem sintomas, numa tentativa de estancar a transmissão.
No Brasil, mesmo que a falta de doses de vacina seja um impeditivo para restringir a circulação do vírus, não é o único. Está muito difícil encontrar explicações razoáveis para a demora em distribuir as poucas doses que o país já tem. O Amazonas, onde a P.1 surgiu, aplicou até agora 50 mil, segundo o levantamento do G1. Isso dá pouco mais de 10% de todas as doses recebidas, e significa que apenas 1,2% da população do estado tomou a primeira dose de vacina (ninguém tomou a segunda). Em todo o país, só 25% das doses disponíveis chegaram ao braço de alguém.
No setor privado
Farmacêuticas como Pfizer, Moderna e AstraZeneca já anunciaram que não vão vender seus imunizantes ao setor privado, por ora. Mas há possibilidades em aberto, como ressalta a matéria do Valor. O Fundo Soberano da Federação da Rússia, que coordena o desenvolvimento da vacina Sputnik V, disse que “não divulgamos (quem compra), mas estamos abertos a todas as consultas”. O Instituto Serum da Índia, por sua vez, já tinha afirmado que as doses da vacina da AstraZeneca produzidas lá poderiam ser vendidas a empresas. Mas, segundo a matéria, ainda não há data para o começo desse tipo de negociação.
Esfriando os ânimos
Depois de muita briga entre a União Europeia e o Reino Unido envolvendo a AstraZeneca, a farmacêutica concordou em aumentar suas entregas de vacinas contra a covid-19 para o bloco europeu em 30%. O cronograma estava com um atraso de dois meses, mas agora ficou acordado que as remessas começarão a chegar na segunda semana de fevereiro. Ao todo, serão 40 milhões de doses até março – ainda é um número pequeno, mas, segundo o Health Policy Watch, “a resolução parece ter acalmado as tensões”. Ao mesmo tempo, a Pfizer anunciou a expansão de suas remessas, com 75 milhões de doses adicionais no segundo semestre.
Como já dissemos, a briga levou a União Europeia a estabelecer medidas que podem restringir a exportação de doses fabricadas lá a outras nações. Vários países têm contestado a decisão e ameaçado retaliar; ontem, os diretores-adjuntos da OMC publicaram um comunicado que, mesmo sem mencionar textualmente a UE, vem como uma reação à medida do bloco. “A pandemia é um problema global. Esse desafio exige maior cooperação internacional”, diz a nota.
Primeiro punhado
Depois de vacinar mais de um terço de sua população, o governo de Israel anunciou ontem que vai finalmente começar a fornecer as primeiras doses de vacinas aos palestinos. Um primeiro carregamento, com duas mil doses, foi entregue aos territórios ocupados, e outras três mil doses devem chegar em breve (sem data definida, porém).
A volta da escolas
Mais de vinte estados brasileiros estão planejando o retorno das aulas presenciais entre fevereiro e março, mesmo com o vírus e suas variantes se alastrando desgovernadamente. Hoje as melhores evidências científicas apontam que, nos lugares onde as escolas reabriram, isso não teve muito impacto na circulação do coronavírus nas comunidades – um excelente webinário promovido pelo British Medical Journal na semana passada traz um apanhado dessas evidências, com especialistas enfatizando que os riscos de manter essas instituições fechadas não parecem valer os benefícios.
A OMS tem sido categórica em recomendar que os governos priorizem as escolas e as crianças quando pensarem no fechamento e reabertura de seus serviços – com ou sem vacinação ampla. Isso porque educação é essencial e, felizmente, os estudos disponíveis apontam que as escolas representam um risco menor à comunidade do que outros estabelecimentos. Não faz sentido imaginar que, com tudo funcionando normalmente e os casos já muito altos, seriam as escolas as responsáveis por disseminar o coronavírus. Só que priorizar a educação significa justamente colocá-la à frente de tudo o que não é estritamente necessário. Aqui no Outra Saúde, entendemos que em várias cidades brasileiras o momento é o de ter medidas restritivas (inclusive lockdowns) para reduzir a prevalência do vírus na comunidade.
Mas, assim como a OMS, acreditamos que a educação deve ser vista como prioridade em qualquer plano de reabertura, a menos que novas evidências apontem para o contrário. A maior parte das crianças e adolescentes do país está há quase um ano sem aulas presenciais – e milhões delas, sem acesso à internet, estão sem aula alguma. Os efeitos disso têm sido relatados há meses, tanto para a educação formal como para a saúde mental das crianças e adolescentes (em Las Vegas, por exemplo, uma onda de suicídios de estudantes forçou a reabertura, às pressas). Se de fato assumirmos que a situação epidemológica é grave demais para a retomada das aulas, então precisamos pressionar os governos pelo fechamento imediato de bares, restaurantes, shoppings e comércio não-essencial em geral, templos e igrejas, academias, boates, salões de beleza.
Leia mais
- O que se sabe sobre a nova variante do coronavírus
- Especialista defende mudança na lei para ampliar acesso à vacina
- Lógica das patentes provoca escassez global das vacinas
- A nova sabotagem de Bolsonaro às vacinas
- Volta às aulas. Não. Todos não têm razão!
- A pandemia, os mercados e as crianças na sala. Artigo de Leda Maria Paulani
- Covid, um vírus, cinco variantes. As mutações que preocupam o mundo
- A variante “com mutação” do coronavírus é até 13 vezes mais contagiosa do que a de Wuhan
- O que é a zoonose, fenômeno natural muito antigo que está na origem das pandemias
- Amazonas tem 148 mortes em 24h e segue transferindo pacientes para outros estados
- O pico da segunda onda global da covid-19 tem o dobro de mortes
- ‘Se não impusermos medidas mais restritivas, não só Manaus, mas outras cidades entrarão em colapso’. Entrevista com Julio Croda