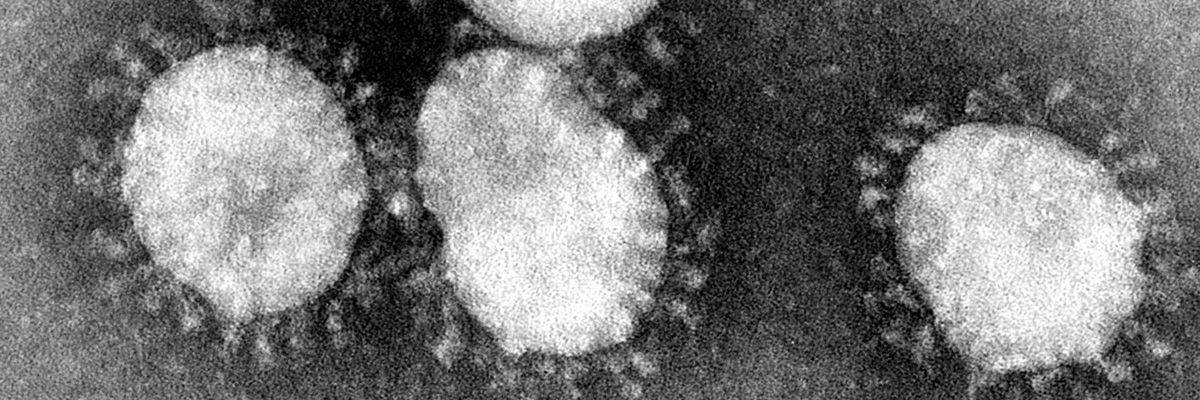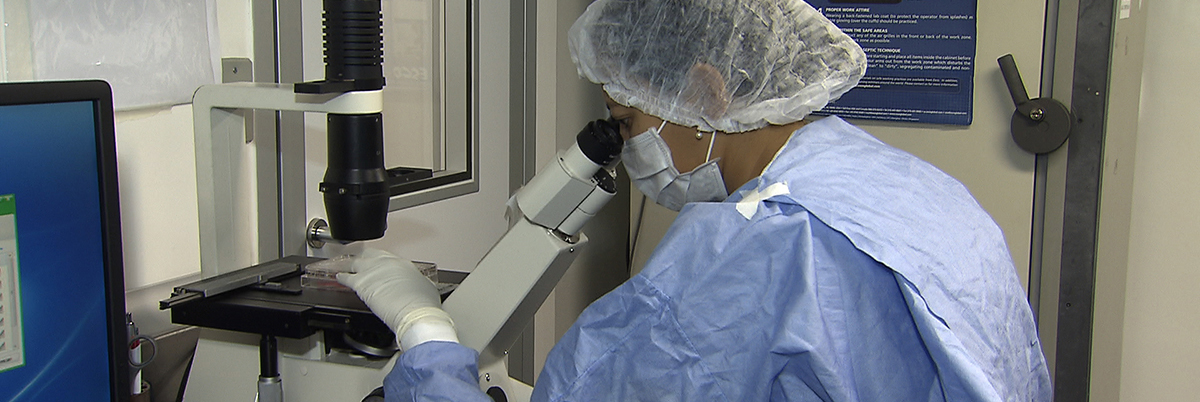22 Abril 2020
Os vírus são estúpidos, são cegos, e não existem “lições sociais” a se aprender com uma pandemia – exceto, é claro, esta: nunca é possível fazer o suficiente, em toda a parte, pela pesquisa, pelos hospitais e pelos sistemas de saúde.
A opinião é do filósofo, escritor, jornalista e ensaísta francês Bernard-Henri Lévy, em artigo publicado em La Stampa, 21-04-2020. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o artigo.
Há coisas que são cada vez mais perturbadoras de se ouvir. Coisas como: “Vi um pato atravessar os Champs-Elysées; um chapim-real na minha janela; o céu nunca foi tão azul, nem a natureza tão pura, nem a cidade tão vazia, como nos tempos do coronavírus”.
Não que eu seja menos sensível que os outros à beleza das coisas. Mas há algo de não dito nessa maravilha: a ideia de que há algo de bom no vírus, que ele tem uma virtude oculta, e que há pelo menos uma parte da sua obra de morte da qual talvez devêssemos nos alegrar, deo gratias.
As estranhas interpretações
Como por acaso, uma tentação se insinua em alguns dos nossos comentaristas e tribunos: esquecer o sofrimento das pessoas, fortalecer-se com os mortos e internados em UTIs para promover as próprias teses e demonstrar que era muito bem feito castigar os maus feitos do liberalismo e do progresso – ah, esse júbilo bondoso (mas cínico, na verdade, porque brinca com a pele das vítimas) que exalta a “vingança” da realidade sobre a arrogância dos homens e sobre os seus diversos e variados “pecados”.
E, além disso, enfim, uma verdadeira tolice: a ideia de que o vírus é inteligente; de que ele traz uma mensagem; e que esse vírus em particular, esse coronavírus, em outras palavras, esse vírus coroado, esse rei dos vírus está investido, como por um estratagema na história hegeliana, de uma pitada do Espírito do mundo – como se um vírus pensasse! Como se um vírus soubesse! Como se um vírus vivesse!
Se há uma coisa, uma única coisa, que é preciso saber sobre os vírus, dizia o meu mestre, Georges Canguilhem, decano da escola francesa de epistemologia, é que, ao contrário das bactérias que são seres vivos, eles não são vivos nem mortos, e, muito frequentemente, são apenas a radicalização e a metáfora do viver-pela-morte.
Os problemas do progresso
Ninguém está completamente livre desse pensamento mágico, desse providencialismo obscuro e mesquinho, desse catecismo virológico. Mas há duas famílias intelectuais e políticas nas quais o dano é considerável.
À esquerda: ambientalistas, soberanistas e outros antiglobalistas que “tinham avisado”, esses “eu-avisei-ístas”, felizes demais para nos lembrar que devíamos “sair dos tratados” (Mélenchon), “produzir na França” e comer apenas frutas da estação (Montebourg), desconfiar dos “mercados internacionais” (Philippe Martinez e os outros 18 signatários do apelo “Plus jamais ça”), enfim, esses doutores imaginários (não mais “O pulmão te avisa!”, mas sim “O vírus te avisa!”), que não querem perder “o encontro” com a pandemia, que são obcecados pelo risco (foi escrito!) de “perder a catástrofe” e que nos confundem com o seu famoso “dia seguinte”, essa versão evangélica da Grande Noite de ontem, na qual nada deveria ser “como antes” – e um diz que é um “aviso da natureza”, e o outro que é um “ultimato”, e, acima de tudo, essa servilidade em relação ao vírus que torna a profissão médica, que não ousava esperar em tanta graça, uma casta sacerdotal dedicada ao novo ritual!
À direita: a Igreja Pentecostal estadunidense que vê na Covid-19 o juízo de Deus, um acerto de contas que pune os Estados que legalizaram o aborto e o casamento para todos; um bispo francês, Dom Aillet, em Bayonne, que pretendeu explicar, em uma igreja vazia, que “Deus usa as punições que nos atingem” para extrair “lições de conversão e purificação”; uma ex-ministra, Boutin, que tuitou que “todos sabíamos que algo estava prestes a acontecer” e que exulta, ela também, ao ver o planeta, a nossa amável mãe, finalmente fazer guerra contra nós; um pregador islamista, Hani Ramadan, irmão do seu Irmão, para quem o coronavírus é o fruto das nossas “torpezas” e parece ser um chamado à ordem da moral e da sharia; sem falar dos líderes que, como Viktor Orbán, na Hungria, pegam a bola no ar e interpretam, eles também, a borra de café nanométrica do moderno ídolo coronal para fazer aparecer, repentinamente, os elementos da sintaxe da sua iliberalidade.
Pregações moralizantes
Eu lutei toda a minha vida contra a obscenidade de todas as religiosidades seculares. Eu defendo, desde a minha estreia nos tempos de “A barbárie com rosto humano” e a minha leitura do Dr. Jacques Lacan, que dar um sentido ao que não o tem e dar voz a essa coisa sem sentido que é indizível do Mal é uma das fontes, na melhor das hipóteses, da psicose, na pior das hipóteses, do totalitarismo.
E sempre pensei que era um grande risco quando nos rendemos a essa pregação moralizante cega, contra um pano de fundo de pureza perigosa. No fim das contas, isso sempre confunde a política e a clínica.
Portanto, mais do que nunca, parece-me uma boa prática lembrar que os vírus são estúpidos, que os vírus são cegos, e que não existem “lições sociais” a se aprender com uma pandemia – exceto, é claro, esta: nunca é possível fazer o suficiente, em toda a parte, pela pesquisa, pelos hospitais e pelos sistemas de saúde.
E a todos aqueles que se aproveitam da crise, aos ventríloquos biolátricos que fazem a Covid-19 falar como o Ortf (Office de Radiodiffusion-Télévision Française), ou como Nestor, o pinguim, aos indecentes taumaturgos cujo contracatecismo mal esconde o pouco respeito que têm pelos seres humanos e pela sua dor, aos falastrões impenitentes que, com as suas futilidades pseudocientíficas, acabam, certos dias, obscurecendo as palavras dos médicos, só tenho uma recomendação a fazer: “Calem-se!”, por favor, calem-se.
Leia mais
- Em meio à pandemia, EUA atacam o papa
- Drauzio Varella prevê 'tragédia nacional' por coronavírus: 'Brasil vai pagar o preço da desigualdade'
- Covid-19 chegou nas prisões e resultado será trágico para toda sociedade
- A Terra contra-ataca a Humanidade pelo coronavírus
- O coronavírus deve acelerar o capitalismo digital. Entrevista com Daniel Cohen
- Testes para Covid-19 – Corrida internacional por insumos e equipamentos mostra vulnerabilidade já sentida na rotina clínica
- Coronavírus expõe as profundas desigualdades da nossa sociedade
- Coronavírus: risco da disseminação é maior com a circulação de assintomáticos
- Os esquecidos na pandemia
- A experiência da pandemia e a necessidade de uma cooperação global. Entrevista especial com Claudia Feitosa-Santana
- Coronavírus: o fim da globalização como a conhecemos
- “Bolsonaro derrotou mais a direita do que a esquerda”. Entrevista com Bernard-Henry Lévy