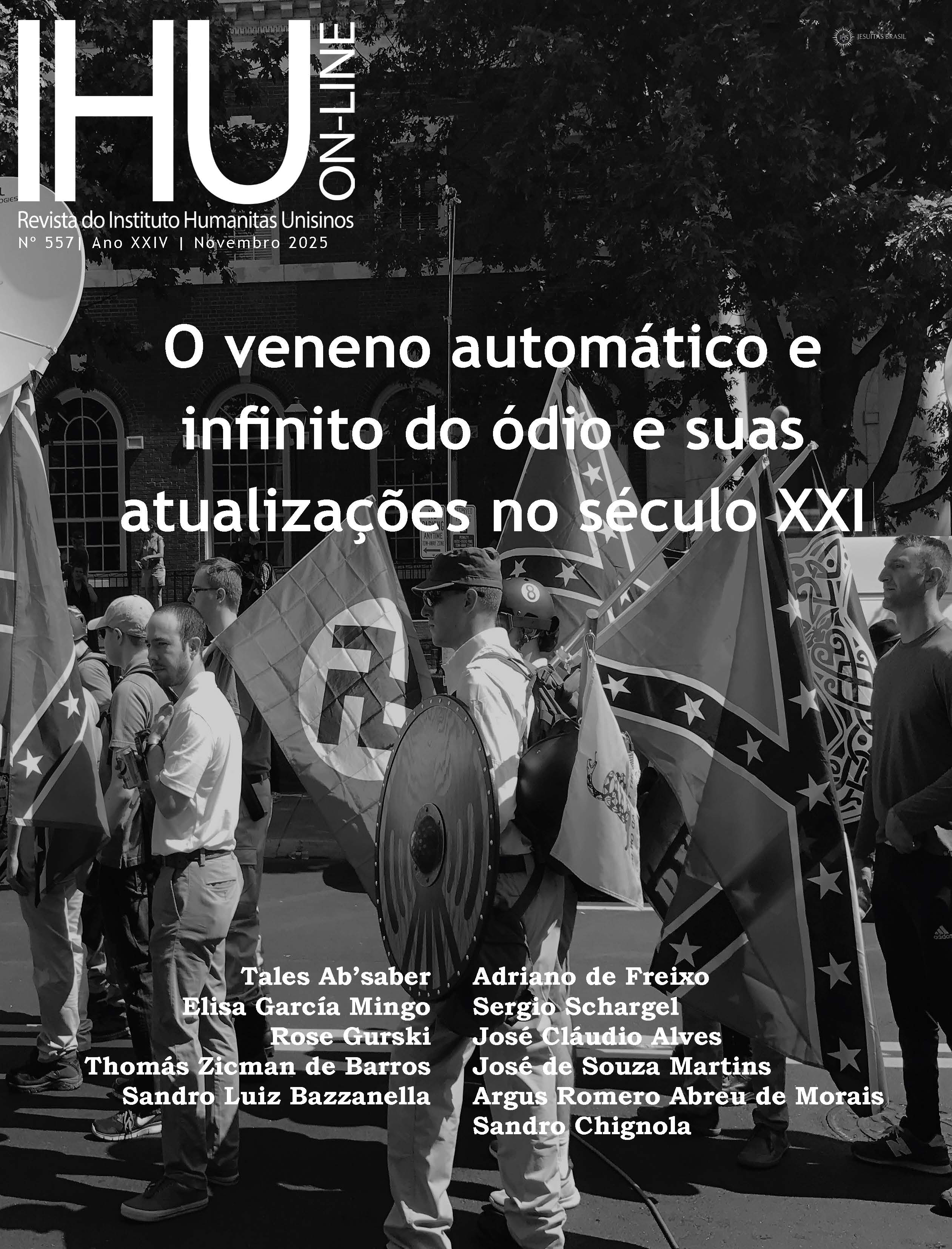24 Outubro 2025
“A pergunta central, portanto, não é se a China ultrapassará os Estados Unidos. A pergunta mais profunda e angustiante é: será que o capitalismo ocidental, em sua atual forma financeirizada, conseguirá superar sua própria lógica suicida? Será que conseguirá reviver sua fase produtiva exaurida antes que o centro de gravidade do capitalismo global se desloque definitivamente para a Ásia?”. A reflexão é de Alejandro Marcó del Pont, economista argentino, em artigo publicado por El Tábano Economista, 22-10-2025. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
Esta é a nova guerra interna do capitalismo ocidental (El Tábano Economista).
Não foi uma simples visita de negócios. Foi uma revelação, um choque para a psique corporativa ocidental. Jim Farley, CEO da Ford Motor Company, uma instituição que personifica mais de um século de hegemonia industrial estadunidense, visitou as fábricas chinesas e voltou para casa usando um adjetivo incomum no léxico autocomplacente dos conselhos administrativos: “apavorado”.
O que ele viu não era simplesmente mão de obra mais barata ou eficiência incremental. Era um ecossistema tecnológico de outro mundo, uma velocidade de iteração que parecia desafiar as leis da física econômica ocidental. Veículos elétricos com software de direção autônoma e sistemas de reconhecimento facial tão avançados quanto acessíveis, fabricados com uma qualidade que, nas suas próprias palavras, fazia palidecer qualquer coisa produzida no Ocidente.
Esse estupor não é anedótico; é sintomático. É a ponta do iceberg de uma convulsão estrutural que está remodelando a ordem global. De um lado, o capitalismo financeirizado do Ocidente, obcecado pela extração de valor e rendimentos espetaculares de curto prazo. De outro, o capitalismo produtivo-estatal da China, centrado na criação de capacidade material e no domínio tecnológico de longo prazo.
Não se trata apenas de uma competição geopolítica entre nações, mas do choque de dois futuros capitalistas radicalmente diferentes, onde o futuro do emprego, a soberania tecnológica e o próprio status civilizacional do Ocidente estão em jogo. Esta é a crônica de um declínio hegemônico previsto pelos padrões da história e acelerado pela miopia das elites que confundiram engenharia financeira com progresso.
O capitalismo ocidental, especialmente em sua encarnação anglo-saxônica, passou por uma transformação fundamental desde a década de 1980. Abandonou progressivamente sua alma produtiva para abraçar as finanças. Esse modelo, que poderíamos chamar de “capitalismo de cassino”, é caracterizado pela primazia absoluta do valor para os acionistas sobre qualquer outra consideração, seja produtiva, social ou estratégica. Esse dogma se traduz em um conjunto de práticas extrativas que esgotaram a capacidade industrial do Ocidente:
• A tirania da recompra: em vez de investir capital em pesquisa e desenvolvimento, na modernização de fábricas obsoletas ou no treinamento de uma força de trabalho de alta qualidade, as corporações alocam somas astronômicas para recomprar suas próprias ações no mercado aberto. Esse artifício contábil, legalizado em 1982, não cria um único bem tangível, muito menos um novo processo produtivo.
• O curto prazo como doutrina: a pressão para gerar rendimentos trimestrais cada vez maiores estabeleceu uma tirania do presente. Isso levou a um desinvestimento sistemático na economia real. As áreas produtivas são desmanteladas, não por serem inerentemente inviáveis, mas por não serem suficientemente lucrativas dentro do horizonte míope de Wall Street.
• A quimera do crescimento por aquisição: nesse ecossistema, é mais racional – e rápido – crescer através da aquisição de concorrentes ou de empresas em setores adjacentes do que por meio da árdua e lenta expansão orgânica da capacidade produtiva interna. As fusões e as aquisições tornam-se o mecanismo de crescimento preferencial, criando conglomerados financeiros gigantescos, porém frágeis, cujo valor reside mais em seu poder de mercado e em suas sinergias contábeis do que em sua capacidade inovadora ou produtiva.
O resultado dessa transformação financeira é o que os economistas heterodoxos chamam de “greve silenciosa do capital”. O capital, em sua forma líquida e especulativa, recusa-se a ser investido na economia produtiva. Por que correr riscos construindo uma fábrica, com seus longos períodos de amortização, quando retornos maiores e mais rápidos podem ser obtidos especulando com derivativos, moedas ou recomprando ações? O setor financeiro, que originalmente tinha a função social de canalizar a poupança para investimentos produtivos, deixou de ser um servo e se tornou um parasita da economia real.
Em contraste com esse modelo, a China construiu, com disciplina espartana, um capitalismo de Estado voltado para a produção. Seu sistema não nega o mercado, mas o subordina inquestionavelmente aos objetivos estratégicos da nação. Aqui, a lógica não é a maximização do valor para o acionista, mas a maximização da capacidade produtiva nacional como pilar do poder geopolítico.
Enquanto Wall Street se especializava em criar produtos financeiros cada vez mais esotéricos, Pequim se especializava em criar a infraestrutura produtiva do século XXI: fábricas gigantescas, portos ultramarinos, redes ferroviárias de alta velocidade e uma cadeia de fornecimento de energia renovável que domina o mundo. Esta é a base material do desafio chinês, e é o que a lógica financeira do Ocidente não consegue compreender, muito menos replicar.
A narrativa de que a financeirização é uma fase “superior” ou “mais evoluída” do capitalismo é uma ilusão perigosa. O trabalho do historiador econômico Giovanni Arrighi, em seu magistral livro O longo século XX, fornece a estrutura teórica para a compreensão desse fenômeno não como uma inovação, mas como um padrão recorrente que sinaliza o declínio de uma potência hegemônica.
Arrighi identifica uma série de ciclos sistêmicos de acumulação, cada um liderado por uma potência sucessiva (Gênova, Grã-Bretanha e Estados Unidos). Cada ciclo passa por duas fases distintas.
De um lado, a fase da expansão produtiva. A nova potência hegemônica emerge com um modelo superior de organização produtiva e comercial. Gênova controlava as finanças. A Grã-Bretanha impulsionou a Revolução Industrial e se tornou a “oficina do mundo”. Os Estados Unidos dominaram a produção em massa fordista e a linha de montagem. Nessa fase, o capital é investido principalmente na esfera real da produção: infraestrutura, fábricas, comércio e tecnologia. O crescimento é tangível e baseado em uma clara vantagem produtiva.
A segunda fase, a expansão financeira, por outro lado, ocorre quando um ponto de saturação na produção é atingido. A concorrência aumenta, os lucros da produção real diminuem e a hegemonia começa a ser questionada. Nesse ponto, a potência hegemônica em declínio sofre uma “mutação”: o capital, ao encontrar menos oportunidades de lucro na produção, migra para a esfera financeira. A economia se financeiriza. O centro do sistema deixa de ser a produção de bens e se torna a acumulação de dinheiro por meio de instrumentos financeiros cada vez mais complexos e especulativos.
O padrão descrito por Arrighi se encaixa quase perfeitamente na trajetória dos Estados Unidos. Fase produtiva (1945-1970): domínio absoluto da manufatura global, padrão ouro-dólar, Estado de Bem-estar Social e a era do “arsenal da democracia” e da fábrica mundial. Ponto de inflexão (década de 1970): crise do petróleo, fim de Bretton Woods, ressurgimento de concorrentes (Alemanha, Japão). A lucratividade industrial começou a cair. Fase financeira (década de 1980-até hoje): sob Reagan e Thatcher, desencadeia-se a financeirização. O capital abandona a produção dispendiosa e competitiva nacional e busca retornos em Wall Street: relocalização, recompra de ações, derivativos, securitizações, mercados de dívida. O “longo século XX” estadunidense apresenta os mesmos sintomas terminais de seus antecessores.
O paradoxo e o conflito geopolítico são expostos por Arrighi quando ele aponta que, durante essa transição, o dominador em declínio (financeiro) e o aspirante (produtivo) tornam-se interdependentes e antagônicos ao mesmo tempo. Nessa interdependência, o capital excedente da fase financeira dos EUA fluiu para a China para financiar seu boom produtivo, buscando os altos retornos que não conseguia mais encontrar em território nacional. Isso alimentou a máquina chinesa.
O antagonismo surge quando o poder financeiro percebe que está alimentando seu próprio carrasco. A dependência torna-se estrategicamente insustentável. Daí as intervenções temporárias (expropriação disfarçada) mediante uma lei de urgência, da Holanda, por exemplo, na empresa chinesa Nexperia, subsidiária da produtora de chips Wingtech Technology, a “gigante asiática”. Essas são tentativas da velha ordem (o Ocidente financeirizado) de se proteger da ascensão da nova ordem (a China produtiva), rompendo a própria simbiose que a enriqueceu.
Este é o grande paradoxo: o Ocidente, após desmantelar deliberadamente sua própria capacidade produtiva em nome da eficiência financeira, é agora forçado a recorrer à intervenção estatal – polpudos subsídios, como a Lei de Redução da Inflação (IRA) nos EUA, a Lei de Chips europeia e bloqueios – para tentar ressuscitar as indústrias que seu próprio modelo de negócios destruiu. É uma corrida contra o tempo, e a lógica financeira de curto prazo continua sendo um fardo formidável. As empresas realmente investirão os subsídios estatais em P&D de longo prazo ou os usarão para novas rodadas de recompras que inflacionarão os preços de suas ações?
A intervenção estatal, tão vilipendiada durante a ascensão do neoliberalismo, não é mais uma opção ideológica, mas uma necessidade para a sobrevivência nacional. O capitalismo financeirizado é estruturalmente incapaz de se autorreformar na velocidade que a crise exige, porque toda a sua arquitetura de incentivos recompensa as ações de curto prazo e pune o investimento produtivo de longo prazo.
A pergunta central, portanto, não é se a China ultrapassará os Estados Unidos. A pergunta mais profunda e angustiante é: será que o capitalismo ocidental, em sua atual forma financeirizada, conseguirá superar sua própria lógica suicida? Será que conseguirá reviver sua fase produtiva exaurida antes que o centro de gravidade do capitalismo global se desloque definitivamente para a Ásia?
O alerta de Jim Farley, impregnado de terror visceral, é um reconhecimento dessa mudança de era. Não se trata do medo de um concorrente, mas do pânico de ter se tornado espectador da própria irrelevância. A história, como Arrighi corretamente previu, está em movimento. E o som que ouvimos não é o das linhas de montagem chinesas, mas o de ciclos hegemônicos girando mais uma vez, enquanto o Ocidente, hipnotizado pelos números verdes em uma tela, se pergunta o que deu errado. A resposta desconfortável e crítica é que confundiu riqueza com dinheiro e, nesse erro, esqueceu como a primeira é criada.
Leia mais
- Desindustrialização é subproduto da financeirização e da falta de um projeto de país soberano. Entrevista especial com Miguel Bruno e José Luis Fevereiro
- A financeirização impede diminuição das desigualdades sociais e o crescimento econômico sustentado. Entrevista especial com Ilan Lapyda
- A fagocitose do capital e as possibilidades de uma economia que faz viver e não mata. Revista IHU On-Line, Nº. 437
- Financeirização, Crise Sistêmica e Políticas Públicas. Revista IHU On-Line, Nº. 492
- A financeirização da vida. Revista IHU On-Line, Nº. 468
- IA: “Viés centrado no Ocidente representa ameaça direta à segurança cultural e nacional da China e do Sul Global”. Entrevista especial com Jeff Xiong
- O papel dos semicondutores no confronto entre EUA e China
- A emergência da China e a reorganização do mundo. Entrevista especial com Luiz Carlos Bresser-Pereira
- Por que os EUA temem que a China já os esteja ultrapassando na corrida da inteligência artificial
- A cruzada de Trump contra os chips da Nvidia: "Rastreáveis e controlados remotamente"
- IA Generativa e conhecimento: a outra volta do parafuso na cultura da aprendizagem. Entrevista especial com Ana Maria Di Grado Hessel
- “Não podemos deixar a ética da IA e a democratização da IA para as Big Techs”. Entrevista especial com Mark Coeckelbergh
- Todos os países querem fábricas de chips... mas apenas a China controla suas “terras raras”