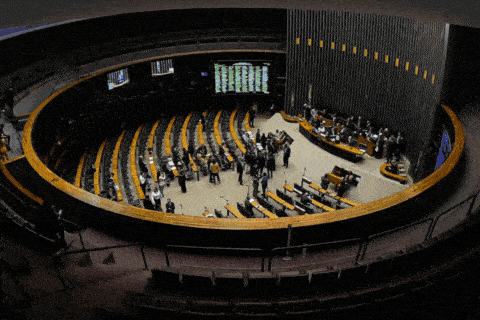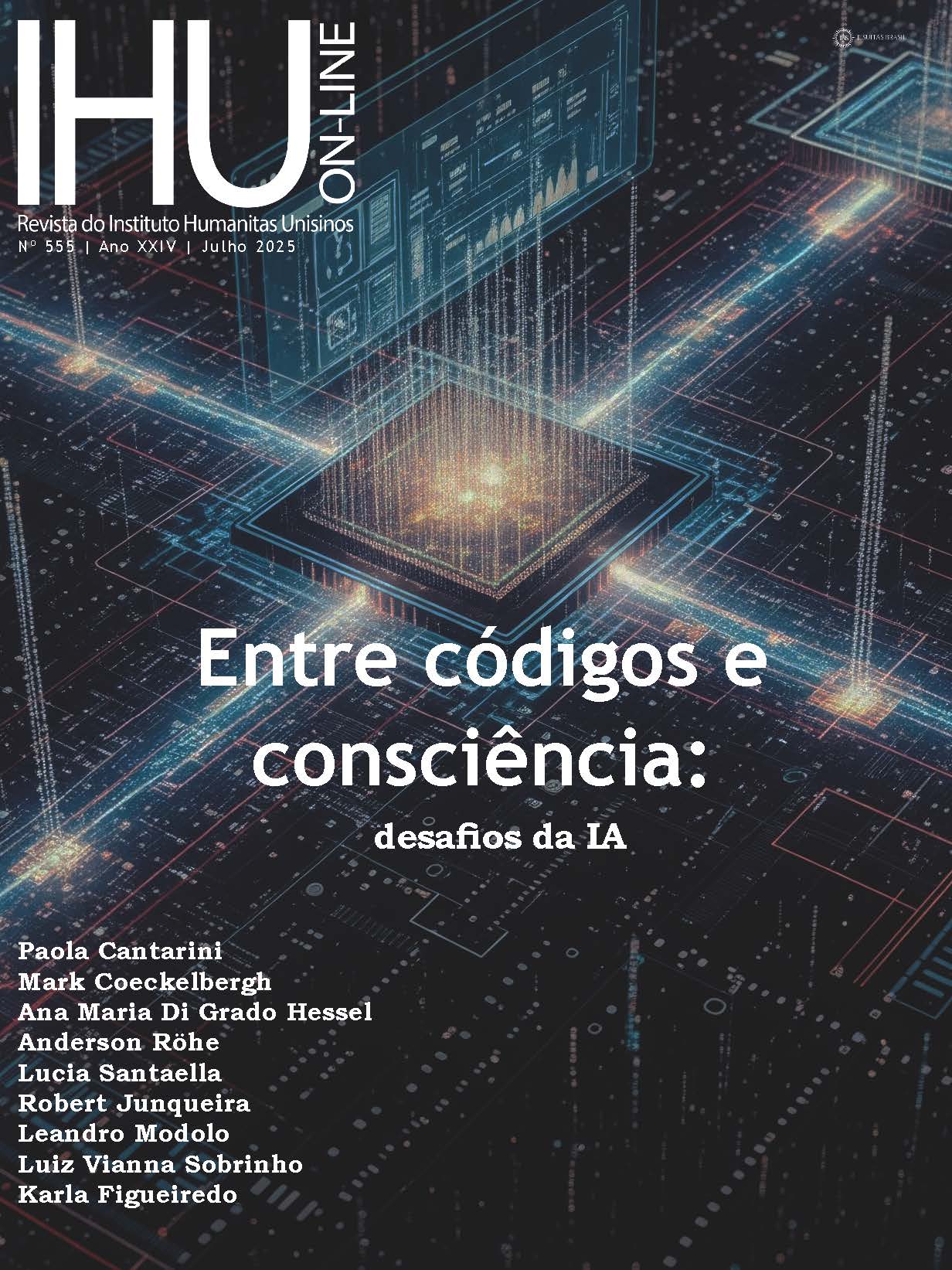12 Setembro 2025
O mito das icamiabas transcende a lenda para se tornar um símbolo perene de autonomia. Ele ecoa no presente como uma narrativa fundadora da resistência contra o patriarcado e a celebração do sagrado feminino.
O artigo é de Soleni Biscouto Fressato, publicado por A Terra é Redonda, 10-09-2025.
Soleni Biscouto Fressato é doutora em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Autora, entre outros livros, de Novelas, espelho mágico da vida (Perspectiva).
Eis o artigo.
1.
No coração da floresta, um grupo de mulheres resolveu abandonar suas aldeias. Elas estavam descontentes com a ascensão de novas regras e novos códigos, instituídos pelo Filho do Sol, que menosprezavam suas atividades e queriam controlar seus corpos. Elas desceram os rios Uaupés, Negro e Amazonas, rumo ao nascer do Sol, afastando-se da Serra do Tunuí, até chegarem às margens dos rios Trombetas, Tapajós e Nhamundá, na base da Yacy-taperê (Serra da Lua).
Ali, próximo à lagoa Yacy-uaruá (Espelho da Lua) e distante das leis do Filho do Sol, elas formaram uma nova comunidade. Por isso, entre os outros povos, elas eram conhecidas como cunhãs-teco-ímas (cunhã-mulher; têco-costume, uso, lei; íma-sufixo de negação), ou seja, mulheres fora da lei ou mulheres sem lei. Também eram conhecidas por icamiabas (icami-leite, mama; aua-quem ou aquele), quem tem mamas que dá leite, indicando uma comunidade formada unicamente por mulheres.
Ao abandonarem sua tribo foram seguidas pelos homens. Contudo, vários obstáculos naturais (espinhos, animais ferozes, bandos de guariba que jogavam seus excrementos e até o Curupira) surgiam e protegiam essas mulheres, dificultando o avanço dos homens. Até que, próximo à Yacy-Taperê, sensibilizadas pelos sofrimentos de seus amantes, elas determinaram suas regras, que os homens aceitaram: só seriam recebidos uma vez ao ano, para participarem dos rituais de fertilidade e procriação; no ano seguinte, quando retornassem, levariam os filhos que haviam nascido; as filhas permaneceriam com as mães e seriam criadas fora da lei e dos costumes do Filho do Sol.
Assim, uma vez ao ano, elas recebiam os homens para a realização dos rituais consagrados à Lua e à Mãe do Muiraquitã. Durante o ritual, todos dançavam, cantavam se amavam e se purificavam na lagoa Yacy-uaruá. No alto da noite, quando a Lua se refletia na face lisa da lagoa, as mulheres mergulhavam, pegavam um pouco de terra verde ainda viva e confeccionavam um talismã, o muiraquitã, normalmente no formato de uma rã. Em contato com o ar, a terra verde viva se solidificava numa pedra, a jade. As mulheres entregavam esses talismãs, símbolo de proteção e boa sorte, aos seus amantes, que os levavam orgulhosamente pendurados no pescoço.
2.
O mito das icamiabas, recorrente na região Norte brasileira, é pleno de significados e refere-se à resistência de mulheres que não quiseram se adaptar às normas e códigos patriarcais (o Filho do Sol) e ousaram fundar uma nova comunidade, onde poderiam praticar rituais e cultos ancestrais centrados na divindade da Grande Mãe (representada pela Lua e pela mãe do muiraquitã) e na valorização da potência geradora da mulher.
A referência à Lua, tanto no local que as icamiabas escolheram para viver (a serra e a lagoa), como nos rituais que realizavam anualmente, não é por acaso. Em diversas culturas e tradições, a Lua é associada ao sagrado feminino, símbolo da fertilidade, da maternidade e da renovação. Para os povos indígenas brasileiros, a Lua representa a harmonia e o equilíbrio do universo e possui os atributos de proteger as plantas, os amantes e a reprodução, sendo associada à fertilidade e ao crescimento. De forma geral, a Lua representa a conexão entre os povos indígenas, o universo e a natureza.
O mito das icamiabas não é o único que se refere à ancestralidade e potência feminina e a luta das mulheres indígenas pela igualdade de gênero. Os povos do Alto Xingu realizam rituais em homenagem a Kamatapirari. De acordo com o mito, os homens partiram rumo à floresta para pescar e festejar a puberdade de um garoto, que se tornaria o líder do povo.
Um menino curioso, que ainda não podia participar do ritual, foi ver como os homens festejavam e descobriu que eles haviam se transformado em onças, antas e porcos do mato. Ele voltou para a aldeia e contou para sua mãe, Kamatapirari, que reuniu todas as mulheres e disse que os homens não voltariam, porque haviam se transformado em animais. Elas, então, passaram um óleo de casca de madeira no corpo e fizeram a própria festa, dançando e cantando.
Após a festa, elas haviam se transformado em Yamurikumã, mulheres independentes e guerreiras que não precisam de homens, pois sabem pescar, caçar e construir casas. Entre os povos indígenas, Yamurikumã é um espírito feminino que representa as mulheres ancestrais, transmitindo para as novas gerações a força e a sabedoria das gerações passadas.
Pinturas rupestres, estatuetas de argila e narrativas míticas de diversas regiões do mundo revelam que, anterior ao patriarcado, as comunidades se organizaram em torno da capacidade fecunda e geradora das mulheres. Ao vivenciarem os ciclos da natureza (como as fases da lua e das estações do ano) em seu próprio corpo, com a menstruação e a gravidez, as mulheres podem ter percebido mais rapidamente que os homens, a possibilidade de a terra gerar alimentos, assim como elas geravam a vida, por isso elas estariam mais próximas do incompreensível, do místico e do sagrado.
Desse fato, adveio o privilégio das mães na organização religiosa e social. A mãe, como deusa, normalmente identificada com a terra ou a água, tornou-se suprema no mundo religioso, enquanto a mãe terrena, de forma não hierárquica, tornou-se o centro da vida familiar e social. As práticas do cuidado mútuo, da solidariedade e da fraternidade, para além das relações de parentesco, estavam na base dessas sociedades, numa profunda valorização dos aspectos femininos de cada ser.
A ideia de uma mulher com grande potência geradora, que origina o mundo e a humanidade, é recorrente entre os povos indígenas. Para os Desana Kehípõrã, os Filhos (dos Desenhos) do Sonho, ela se chama Yeba Buró, a Avó do Mundo. Para os Kaxinawá, é Yube Nawa Aîbu, a mulher jiboia, que vive nas águas do igarapé. Para os Tariana, a origem do mundo é associada ao casal primevo, Hipaweri hekoapi, o homem, e Hipaweroa hekoapi-sadoa, a mulher.
Na cosmogênese do povo Guarani, o mundo também foi formado a partir de um primeiro casal Nhandesi (o chão) e Nhanderu (o ar). Para os povos andinos, ela é denominada Pacha Mama, potente divindade feminina associada à fertilidade da terra, dos animais e das pessoas.
3.
O avanço das pesquisas arqueológicas tem revelado o importante papel social e cultural da mulher nas comunidades ancestrais, confirmando, de certa forma, o já enunciado pelas narrativas míticas.
De acordo com os estudos de Marquetti (2003), a forma feminina, com destaque para os quadris largos e os seios fartos, é o tema principal das pinturas e estatuetas do Paleolítico e Neolítico. Na origem do pensamento humano, as nádegas, o púbis, o útero e os seios são elementos que identificam as mulheres e também são associados à definição etimológica do termo mãe.
Em diversas línguas indo-europeias, pesquisadas pela autora, o léxico mãe possui, como sentido primeiro, o da mulher ou fêmea que deu à luz um ou mais filhos, possuindo também o sentido de matriz e de nutriz, estando fortemente associado às funções de gerar e nutrir. Tais ações estão plasmadas no inconsciente humano, desde tempos imemoriais, como ligadas às mulheres. Por consequência, as noções de fertilidade e fecundidade também foram associadas ao feminino, sendo que o corpo da mulher sempre foi vivenciado como fundamental para a continuidade da vida e como uma força divina.
Segundo estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí, as pinturas rupestres de mulheres surgem numa grande quantidade de cenas, às vezes pintadas num tamanho maior que os homens. A quantidade e o simbolismo revelam que as mulheres eram valorizadas socialmente, possuindo poder e prestígio, sendo pequena ou inexistente a diferença entre os gêneros. Nessas pinturas, as mulheres surgem numa variedade de temas, o que revela sua participação efetiva em decisões, em condições iguais a dos homens, e sua importância como as principais responsáveis nos afazeres cotidianos, tanto nos cuidados com a família, como na obtenção do alimento, por meio da coleta, da caça e da domesticação de pequenos animais (Justamand, 2014).
O fato de as mulheres serem “detentoras de saberes e conhecimentos que os homens, na verdade, desconheciam e/ou não sabiam tão bem quanto elas”, fez surgir uma espécie de “dependência” dos homens em relação aos seus saberes e conhecimentos (Justamand, 2014, p. 26).
Ou seja, as mulheres parecem ter exercido um papel crucial na formação e no desenvolvimento do conhecimento e na responsabilidade pela vida da comunidade. Mas, seu papel não estava associado apenas à alimentação, elas também “interatuavam nas decisões dos grupos, compartilhavam das cerimônias religiosas, cultivavam relações sexuais e tinham seus filhos, renovando o grupo e multiplicando a espécie” (Justamand, 2014, p. 33).
4.
No mito das icamiabas, o ritual de confecção do muiraquitã surge como algo misterioso e primitivo, uma reminiscência dos cultos lunares arcaicos, baseados na deusa mãe. As mulheres, detentoras de um conhecimento ancestral, eram as únicas que poderiam mergulhar na lagoa, para buscarem o material plasmável diretamente da mãe do muiraquitã.
Narrativa plena de símbolos relacionados ao sagrado feminino: a água, a lua, a mãe que fornecia o material para suas filhas presentearem os pais de suas futuras filhas, ou seja, um presente sagrado. Um muiraquitã, assim, não era um simples adorno ou um amuleto qualquer, era uma pedra sagrada, de origem divina. Ainda hoje, na Amazônia, ele é pleno de símbolos e significados ancestrais, portador de virtudes milagrosas e de força mágica.
Desde o neolítico, o culto das pedras é amplamente difundido. As pedras eram objetos sagrados, onde se manifestava a divindade. As pedras verdes possuiriam virtudes terapêuticas e mágicas, consideradas emblemas da natureza e da procriação, símbolos de amor e do amor à vida, que perenemente se renova.
Os muiraquitãs (do tupi mu’ir: missangas, contas, enfeites; a(w)ki: mexer, usar, tocar; itã: espécie de sapo ou rã – uso de enfeite no formato de sapo ou rã) são talismãs associados à uma ideia primitiva de sexualidade cósmica, muitas vezes ritualística. A rã é um símbolo teogônico antigo que figura em várias mitologias, comumente relacionada à uma potência criadora e matriz fecundada. Estando associados ao ritual da fertilidade, os muiraquitãs acabam por assumir um profundo significado sexual fértil e procriador. Dessa forma, sintetiza Guido (1937), o mito das icamiabas e seus muiraquitãs formam um conjunto religioso-mágico de fundo totemista, com forte caráter sexual.
Atualmente, existe no Brasil apenas alguns exemplares do muiraquitã.[1] A grande maioria dos documentos que se referem ao talismã mencionam que eles foram encontrados na região do Baixo Amazonas, especialmente na área dos rios Tapajós e Trombetas. Foi nessa região que se desenvolveu duas importantes culturas indígenas com conhecimento tecnológico avançado para esculpir artefatos em pedras duras, a Tapajó, que deixou um grande legado em cerâmica policrômica, e a Konduri, reconhecida pela sua cerâmica decorativa com incisões, entalhes e ponteados com características únicas.
Tanto os Tapajó, como os Konduri habitavam, originalmente, as regiões dos rios Nhamundá, Trombetas e Tapajós (Costa e etc., 2002). Curiosamente, de acordo com a narrativa mítica, foi exatamente essa a região escolhida para ser habitada pelas icamiabas, ocorrendo uma confluência de informações.
5.
Contudo, as icamiabas não surgem apenas na narrativa mítica. Em 1541, o conquistador Gonzalo Pizarro organizou uma grande expedição, que deveria deixar Quito em busca de ouro e especiarias, entrando pela floresta. Frente às dificuldades em avançar e também em retornar e com os recursos se esgotando, Pizarro resolveu formar uma pequena comitiva, capitaneada por Francisco de Orellana, que deveria explorar a região e conseguir provisões.
O frei Gaspar de Carvajal, cronista da expedição, registrou a viagem em seu diário do bordo. Foi nessa empreitada, próximo aos rios Nhamundá e Trombetas, que a expedição teria encontrada a tribo das icamiabas, que Carvajal denominou de amazonas, associando-as às mulheres guerreiras da mitologia grega. Por isso, a Floresta Amazônica, o estado do Amazonas e o rio Amazonas receberam essas denominações.
Gaspar de Carvajal descreveu o seu encontro com um indígena chamado Aparia que havia conhecido as icamiabas. Segundo suas informações, as coniu puyara [2] (grandes senhoras) (1542, 2001, p.23), como ele as denominava, eram numerosas e poderiam tornar-se violentas, caso seus domínios fossem invadidos. No dia 24 de junho de 1542, a tripulação de Orellana confrontou essas “grandes senhoras” e Carvajal (1542, 2001) destacou suas habilidades guerreiras.
Durante a batalha, morreram sete ou oito espanhóis e Carvajal foi ferido por uma flecha. Mesmo assim, conseguiram seguir viagem, até chegarem em algumas ilhas, onde encontraram o cacique Cuyunco. Interrogado por Orellana, o cacique explicou que “as amazonas” moravam terra adentro, a sete dias de caminhada da costa. E que elas vieram guerrear com os espanhóis porque Cuyunco era “tributário delas”, ou seja, seu protegido, e elas acreditaram que suas terras poderiam ser invadidas (Carvajal, 1542, 2001, p. 57).
Cuyunco explicou a Gaspar de Carvajal que elas estavam organizadas em mais de 70 aldeias, sendo que todos os caminhos que davam acesso ao seu território eram vigiados. Tinham contato com homens periodicamente, indo buscá-los em aldeias vizinhas. As meninas ficavam com elas e eram educadas na arte da guerra e nos seus costumes, os meninos eram entregues aos seus pais.
O cacique também afirmou que elas eram detentoras de territórios onde havia muito ouro e prata, que viviam ricamente em casas de pedra e caprichosamente ornadas. Andavam vestidas com roupas de lã fina, porque criavam ovelhas, e seus cabelos eram ornados com tiaras de ouro. Usavam camelos e outro animal de grande porte, que poderiam ser cavalos, para atividades e deslocamentos. Faziam sal, porque em suas terras existiam duas lagoas de água salgada. Carvajal explica que, tudo o que ouviram do cacique sobre “as amazonas”, já tinham ouvido em Quito (Carvajal, 1542, 2001, p. 57-59).
O relato de Gaspar de Carvajal, um misto de realidade e fantasia, apresentou a Amazônia para o mundo e serviu de base e modelo para os relatos de outros viajantes e naturalistas que percorreram a região nos séculos vindouros, sobretudo sobre “as amazonas”.
6.
Povos indígenas do Alto Xingu, dentre eles os Kamaiurá, homenageiam a força da ancestralidade da mulher, lembrando o mito de Kamatapirari e realizando o ritual de Yamurikumã. Durante o ritual, único exclusivamente feminino, as mulheres assumem o controle da aldeia, se apropriam dos enfeites e das armas e desenvolvem atividades exclusivas dos homens, invertendo a dinâmica social tradicional. Aos homens cabe o papel passivo de serem apenas espectadores do ritual.
Nessa inversão de papeis, as mulheres provam, para elas mesmas e para os homens, que elas são capazes de viverem e se organizarem sem eles, por isso precisam ser respeitadas. Os homens lembram que as mulheres carregam em si a potencialidade da rebelião, por isso não podem ser desprezadas em seus desejos e necessidades. O ritual é fundamental para a cultura e identidade dos povos indígenas do Alto Xingu, sendo uma forma de celebrar a força e a ancestralidade femininas.
Mas, a realização de rituais não é a única forma de resistência da mulher indígena. Elas também estão assumindo funções que antes eram apenas dos homens. Pelo que lembram as pessoas mais velhas do povo Kamaiurá, Mapulu é a primeira mulher pajé xinguana. De acordo com Silveira (2018), desde o ano 2.000, mulheres indígenas vêm ocupando o espaço do mundo sagrado, dominando práticas de cura e pajelança e tendo acesso ao restrito universo de forças e poderes invisíveis, tradicionalmente de domínio dos homens.
Tal fenômeno abre espaço para uma nova ordem no mundo indígena e revela significativas transformações no lugar das mulheres nas aldeias, tanto em relação ao sagrado, pois elas começam a ocupar um lugar inédito no centro da espiritualidade indígena, como nas atividades profanas, com a participação das mulheres nas lutas e conquistas políticas de toda a aldeia.
Depois de Mapulu, várias outras mulheres têm se tornada pajé, tanto no Xingu, como em outras aldeias do país, que já possuem importantes lideranças femininas. Essas mulheres têm avançado e conquistado espaços antes limitados ou destinados apenas aos homens, sobretudo no restrito universo mágico-religioso da pajelança.
Se as icamiabas existiram de fato, se realizavam o culto lunar, se confeccionavam os muiraquitãs e se fugiram das leis do Filho do Sol são dúvidas que talvez nunca sejam esclarecidas. O que existe de fato é a força do mito, é a forma como as pessoas, sobretudo mulheres, e não apenas da região amazônica, se identificam com a narrativa e buscam inspiração para resistirem às imposições patriarcais, que com o processo colonizador tornaram-se mais rigorosas e que, cotidianamente, minam e destroem a independência, a iniciativa e a energia das mulheres, cercando-as de fantasmas e tabus morais, sociais e religiosos.
Se entre as funções das narrativas míticas está explicar as origens (do mundo, das pessoas e de determinadas situações), preservar a memória (sobretudo a coletiva) e estimular comportamentos saudáveis e significativos para determinado grupo social, o mito das icamiabas e seus muiraquitãs parece ter cumprido seu papel.
Notas
[1] Algumas peças estão com particulares, quatro exemplares no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), na cidade de Belém do Pará, e cinco no Museu Paulista de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP) (Costa e etc., 2002).
[2] A sonoridade de coniu puyara é muito próximo de cunhã-poranga, que em tupi-guarani significa mulher bonita. Trata-se de uma entidade feminina, que para os povos da Amazônia, representa a força e a sabedoria das mulheres indígenas e uma guardiã da floresta. No Festival Folclórico de Parintins, que ocorre todos os anos, desde 1965, no final de junho, a cunhã-poranga é uma das figuras mais importantes do boi-bumbá, representando a moça mais bela da aldeia e incorporando a força e a beleza da mulher indígena.
Referências
CARVAJAL, Gaspar de. Descubrimiento del Río de las Amazonas por el Capitán Francisco de Orellana,agosto de 1542. Edición y notas de Maria de las Nieves Pinillos Iglesias, realizada para Babelia, Madrid, 2011. Disponível aqui.
COSTA, Marcondes; SILVA, Anna Cristina; ANGÉLICA, Rômulo Simões. Muyraquytã ou muiraquitã, talismã arqueológico em jade procedente da Amazônia: uma revisão histórica e considerações antropogeológicas. In: Acta Amazônica, n. 32(3), 2002, p. 467-490. Disponível aqui.
GUIDO, Angelo. O reino das mulheres sem lei. Ensaios de mitologia amazônica. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1937. Disponível aqui.
JUSTAMAND, Michel. A mulher rupestre. Representações do feminino nas cenas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí. Embu: Alexa Cultural, 2014.
MARQUETTI, Flávia Regina. A protofiguratividade da Deusa Mãe. In: Clássica – Revista Brasileira de Estudos Clássicos, v. 15, n. 15/16, p. 17–40, 2003. Disponível aqui.
SILVEIRA, Maria Luiza. Mapulu, a mulher pajé. A experiência Kamaiurá e os rumos do feminismo indígena no Brasil. 2018. 347 p. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 2018. Disponível aqui.
Leia mais
- Movimento das mulheres indígenas é diverso e cresce a cada dia, mostra mapeamento inédito da Anmiga e do ISA
- Organizações de Mulheres Indígenas no Brasil: resistência e protagonismo
- O patriarcado da conquista e as mulheres indígenas
- Sônia Guajajara comemora a liderança das mulheres indígenas na luta por direitos
- Mulheres são linha de frente no combate a ações predatórias em quilombo no Pará
- Mulheres indígenas, raiz e tronco da luta pelo território
- Em marcha histórica, mulheres indígenas afirmam que irão ocupar todos os espaços
- “Quando a mulher indígena percebe e descobre a força que tem, nada e nem ninguém pode pará-la. Ela avança, e avança com determinação”. Entrevista com missionárias indígenas
- “O discurso do governo hoje é acabar com a população indígena”. Entrevista com Rosimere Teles, da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira
- “Dizer que nós mulheres indígenas não enfrentamos violência de gênero é mentira”
- Mulheres em luta: as principais pautas da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas
- Marcha das mulheres indígenas reunirá 2 mil em Brasília
- Marcha das Margaridas leva 100 mil mulheres do campo a Brasília
- Mulheres de 12 povos indígenas expressam os desejos e esperanças das mulheres amazônicas antes do Sínodo
- Mulheres Indígenas da Amazônia em Movimento pela proteção de nossa maior casa: a Amazônia
- Mulheres indígenas dizem basta à violência e à invisibilidade
- Mulheres indígenas falam sobre tradição, demarcações e direitos durante Fórum Social