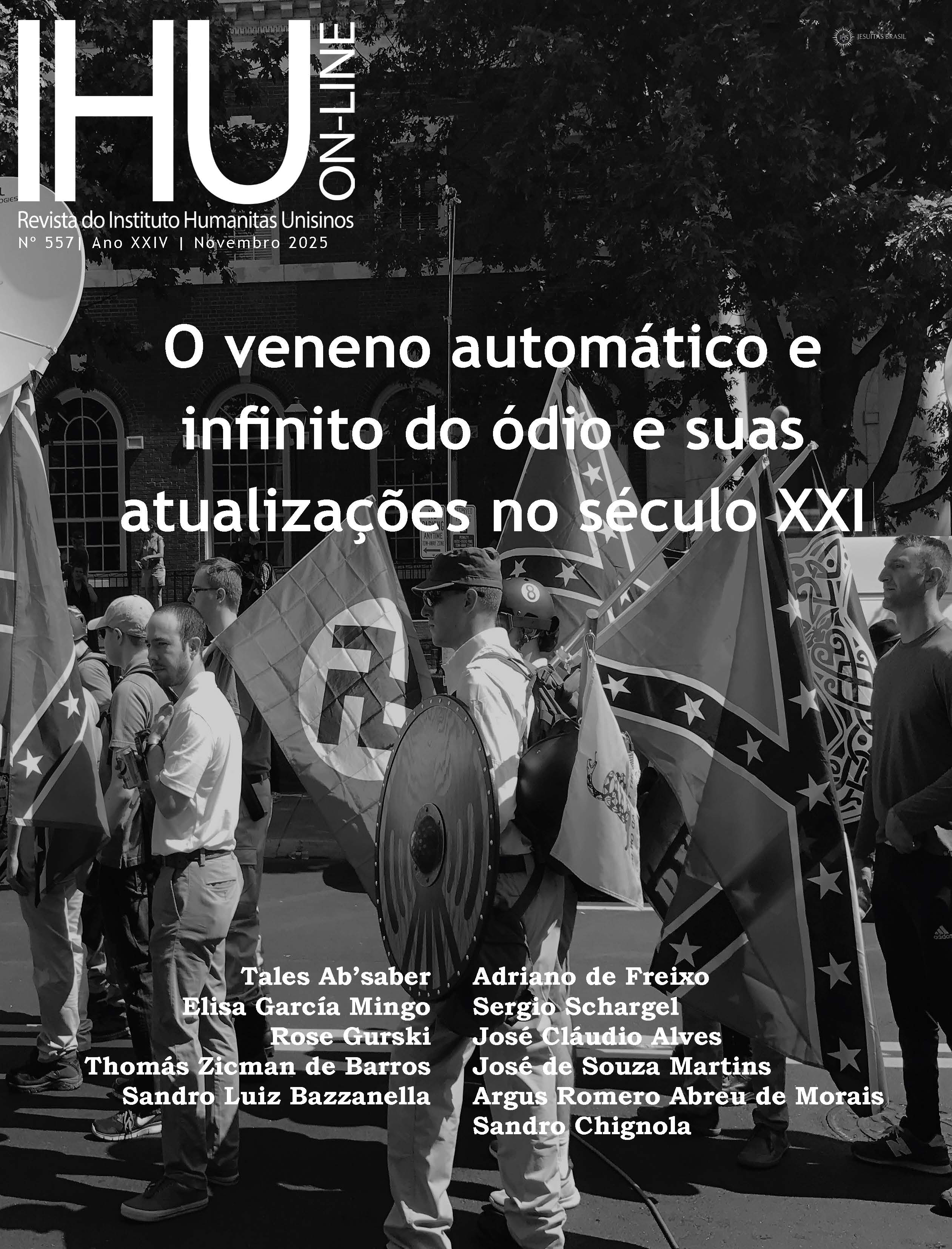31 Julho 2025
“Sair de casa para trabalhar”: esta é, segundo bell hooks, a necessidade urgente expressa por muitas feministas das classes média e alta. Essas feministas, “tão ofuscadas pela sua própria experiência”, não levaram em conta o fato de que muitas mulheres “já trabalhavam fora de casa e tinham empregos que não as libertavam da dependência dos homens nem lhes permitiam ser economicamente independentes” (1).
A entrevista é publicada por Ballast, 16-07-2025. A tradução é do Cepat.
É justamente por essas mulheres que a socióloga Fatma Cingi Kocadost se interessa, quarenta anos depois das palavras da feminista afro-americana. A partir de discussões com um grupo de mulheres magrebinas de origem trabalhadora, entre as quais entrelaça a sua própria história, a socióloga explora a emancipação e o papel que o trabalho pode desempenhar nesse caminho, contrariando a sua supervalorização.
Conversamos com ela por ocasião da publicação do seu livro, La promesse qu’on nous a faite (A promessa que nos fizeram), Paris, EHESS, 2025.
Eis a entrevista.
Seu livro se intitula “La promesse qu’on nous a faite”. Quem é esse “nós” e qual é – ou quais são – essa(s) promessa(s)?
Apesar da palavra “promessa” aparecer no título no singular, o livro trata de pelo menos duas promessas feitas às mulheres. A primeira é aquela em que as mulheres que estudo acreditavam: a felicidade familiar baseada na complementaridade dos papéis de gênero. De acordo com essa esperança, se encontrarem o marido certo e cumprirem seus deveres como esposas, terão um lar protetor e amoroso para criar seus filhos. Essa promessa do patriarcado remonta ao capitalismo do pós-guerra e agora se encontra à margem do ideal heterossexual. De fato, mesmo que persista em um certo imaginário, o mito da “fada doméstica” parece hoje ultrapassado à luz da feminilidade neoliberal, que se baseia mais na independência econômica e emocional das mulheres do que em sua conformidade com o papel de esposa e mãe. No entanto, a grande maioria das mulheres continua sendo esposa e mãe.
É aí que entra uma segunda promessa: a da emancipação por meio da igualdade conjugal. Hoje hegemônica, essa promessa é dirigida às mulheres há várias décadas, respondendo em parte às demandas clássicas do feminismo. Neste segundo caso, trata-se de prometer às mulheres uma “heterossexualidade feliz”, sob a condição de que elas ocupem seu lugar ao lado dos homens nos assuntos públicos e, principalmente, no mundo profissional. Em suma, o livro dialoga com essas duas promessas de felicidade feitas às mulheres, cada uma idealizando a união heterossexual à sua maneira e promovendo diferentes tipos de feminilidade/masculinidade.
Eu defino a heterossexualidade como uma relação de gênero que envolve práticas sexuais, mas que também ordena as divisões de trabalho e recursos entre homens e mulheres. Neste sentido, não se limita a um tipo de sexualidade: ela abrange, como instituição, os aspectos não sexuais das relações de gênero e sistematiza a apropriação das capacidades produtivas e reprodutivas das mulheres. A conjugalidade é a forma dominante dessa relação. É nela que homens e mulheres reúnem e compartilham recursos e bens, e mobilizam suas forças de trabalho.
Embora, em geral, os termos desse contrato sejam negociados entre esposos e esposas, é possível dizer que, a partir do final da década de 1970, uma determinada maneira de viver a vida em comum gradualmente se consolidou. Sob a influência das transformações econômicas e políticas das últimas décadas do século XX, o lar com dupla fonte de renda (onde ambos os parceiros trabalham) e filhos finalmente emergiu como modelo, com o ideal feminino sendo construído em contraposição ao da “dona de casa”. O livro é um convite para pensar a heterossexualidade no plural e analisar simultaneamente as feminilidades e masculinidades engajadas por esses diferentes modelos de heterossexualidade.
O termo “promessa” me permite explorar a dimensão subjetiva das vidas heterossexuais. Em ambos os casos – a promessa de equidade “à moda antiga” ou de igualdade –, as mulheres entram na conjugalidade com a esperança, até mesmo a convicção, de que alcançarão uma forma de vida que lhes convém, de que corresponderão à feminilidade que desejam para si. De fato, é por meio do funcionamento do casal, na e por meio dessa relação heteroconjugal, que elas se tornam este ou aquele tipo de mulher (emancipada/tradicional, evoluída/atrasada, independente/dependente etc.).
Eu conheci mulheres cujo projeto conjugal não é compatível com as demandas de igualdade e independência. Assim, as entrevistadas afastam o ideal de emancipação de gênero, trabalhando para estabelecer no casal outra troca sexual que considerem justa. O livro desenvolve, capítulo por capítulo, as coordenadas (objetivas e subjetivas) com as quais elas navegam. Embora a independência lhes pareça uma imposição ameaçadora, a que essas mulheres se apegam? Que importância isso tem para elas?
Você conheceu a primeira mulher em sua pesquisa, Aïcha, por acaso, através de amigos em comum. Foi esse encontro que determinou seu tema? Qual foi sua abordagem de pesquisa?
Esse encontro provou ser absolutamente crucial, pois posteriormente determinou minhas questões de pesquisa. No dia em que conheci Aïcha, eu não fazia ideia de que ela se tornaria uma figura central na minha tese. Aos poucos, descobri uma mulher fascinante com quem refleti sobre as questões do feminismo contemporâneo. Foram nossas discussões que me inspiraram a estudar a articulação do trabalho remunerado com a relação conjugal, a família e a maternidade. Sem Aïcha, sem Naïma e sem a contribuição de outras amigas que se tornaram sujeitos de pesquisa, eu simplesmente não teria sido capaz de concluir esta etnografia.
Desde o início, minha abordagem foi traduzir no terreno as epistemologias feministas em um método de pesquisa, ou seja, construir práticas de trabalho que atendessem às demandas da crítica feminista da ciência. Na verdade, eu queria fazer as coisas de forma diferente da ciência “normalmente masculina”, mas não consegui encontrar nenhuma ferramenta concreta para sugerir. Estou convencida de que, se quisermos conduzir pesquisas feministas, a reciprocidade construída durante a relação de pesquisa pode servir como alavanca.
No caso do meu trabalho, as trocas de narrativas e afetos entre as mulheres pesquisadas e eu foram possíveis graças à intimidade amigável que as precedeu. Mas, seja qual for o campo, teremos que encontrar técnicas para afastar a dicotomia estruturante da ciência entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Sem isso, a abordagem científica – incluindo a ciência feminista – permanecerá um mecanismo de poder que retém para si os meios de dizer a verdade, enquanto priva as pessoas estudadas dos meios de desenvolver sua própria narrativa do mundo.
Você trabalhou com um grupo de mulheres magrebinas na região de Paris. Você mesma é imigrante turca. Por que escolheu contar sua história ao lado da história dessas mulheres?
Trabalho com epistemologias do standpoint feminism, que às vezes são (mal)compreendidas como equivalentes à reflexividade. Na minha opinião, “posicionar-se” ou “situar-se” não significa que o pesquisador deva realizar uma autoanálise em relação às dominações interseccionais, nem elencar suas próprias características socioeconômicas, de gênero, de raça, etc.
O que me parece valioso nessa perspectiva epistemológica é sua proposta de construir conhecimentos situados, ou seja, considerar o conhecimento científico como um posicionamento a partir de um ponto de vista. A questão não é saber quem é o pesquisador, mas trabalhar a partir e com posições que permeiam e estruturam a pesquisa. Dadas essas ambições feministas, expor-se sem se expor, desdobrar vidas sem falar das próprias, examinar os sofrimentos sem dizer nada sobre o próprio sofrimento torna-se inaceitável.
Além disso, minha preocupação em trabalhar a partir da reciprocidade da relação e, assim, superar a dicotomia pesquisadora/investigada me levou a dar espaço à minha própria voz feminina no livro. Assumir essa voz pessoal obviamente não significa negar a responsabilidade da cientista que vem buscar respostas para suas perguntas, que muitas vezes não são as mesmas das mulheres que conheci. Eu mesma conduzi esta pesquisa, e as entrevistadas não eram minhas colegas.
Por outro lado, durante o trabalho de campo, construí um espaço-tempo único onde contamos nossas histórias. Ao escrever “minhas histórias” compartilhadas com as mulheres da minha área, eu simplesmente quis estender – na e por meio da escrita – a dupla exigência da pesquisa: pensar a partir/com a minha própria posição (e não apenas a das mulheres que entrevistei) e desfazer a dicotomia sujeito/objeto da abordagem científica.
Os desejos das mulheres de seu estudo (casar, constituir família, poder se dedicar aos filhos etc.) parecem, à primeira vista, contradizer as demandas feministas por autonomia e independência. Por trás dessa aparente conformidade, quais são seus objetivos, suas expectativas?
As mulheres que entrevistei não estão interessadas na promessa de igualdade, independência e emancipação através do trabalho que mencionei acima, e até a rejeitam. Em vez disso, o que essas mulheres desejam é evitar o trabalho remunerado o máximo possível para se dedicarem ao seu papel de mães. Isso não significa que aceitem a desigualdade de gênero. Elas estão comprometidas com a ideia da igualdade dentro do casal e buscam ativamente alcançá-la. Consideram justa a divisão do trabalho familiar quando os maridos cuidam da proteção financeira da casa e as esposas são as principais responsáveis pelos filhos e pela casa. Embora não condenem o compartilhamento sexual dentro do casal, desejam evitar ser prejudicadas por esse compartilhamento, para encontrar seu próprio caminho.
Nesse sentido, eu não diria que elas usam os códigos do patriarcado em seu benefício, mas que buscam criar “redutos” dentro do próprio patriarcado que lhes permitam viver o mais confortavelmente possível. Elas devem arrancar esse conforto relativo não apenas de seus maridos, mas também dos chefes, dos agentes de serviços sociais, dos colegas, etc. De fato, no caso das minhas entrevistadas, a luta diária das mulheres heterossexuais não é limitada apenas pelos estreitos perímetros do heteropatriarcado, mas também é motivada pelo desejo de escapar das relações de dominação de classe e raça.
Dada a sua posição de classe, a autonomia ressoa como uma ameaça. Porque exige que cada mulher, incluindo aquelas desprovidas de capital, dependa dos seus próprios recursos. No entanto, elas sabem muito bem que não podem sobreviver sem relações de apoio mútuo, que são principalmente os laços familiares. É por isso que cultivam a interdependência em vez da independência individual.
Em segundo lugar, as escolhas que elas fazem, particularmente a de se dedicarem à maternidade, ganham significado à luz das relações sociais de raça. Elas têm um projeto familiar específico, que é também um projeto cultural, explicitamente oposto ao estilo de vida liberal e à autonomia individual promovidos pela sociedade majoritária francesa.
A família surge como um refúgio contra o racismo e o lugar onde uma comunidade, uma rede de solidariedade, se perpetua. Elas têm consciência de pertencer a um grupo minoritário num mundo hostil. Num mundo que procura apagar qualquer expressão de diferença cultural entre os muçulmanos, o lar constitui um lugar de transmissão de valores, incluindo os religiosos.
O trabalho, tanto o assalariado como o doméstico, é uma das questões centrais da sua pesquisa. Como as mulheres que conheceu questionam a ideia de que a igualdade de gênero deve ser alcançada através do trabalho?
As mulheres que entrevistei me disseram que compartilhar tudo com os homens é “uma farsa”. Elas chamam esse modelo de “fazer 50-50” e o condenam como “algo que convém aos homens”. No entanto, a maioria das mulheres que entrevistei não desenvolve uma crítica política do feminismo da igualdade – essa não é uma preocupação que elas têm. Sou eu quem questiono o modelo do casal com dois assalariados e filhos, que é o oposto de suas narrativas sobre o ideal conjugal.
Primeiro, mostro que, se elas não aspiram a uma gestão igualitária dentro do casal, é porque não estão convencidas de que isso seja do seu interesse. Percebida como reacionária, sua relutância em relação à promessa de “libertação da escravidão da reprodução” (2), no entanto, ressoa com algumas vozes do feminismo.
Durante a fase da escrita, reli, entre outros, os textos de Françoise Collin, Silvia Federici e bell hooks. A partir da década de 1970, elas discutiam as vantagens e desvantagens da integração das mulheres na economia produtiva e expressavam reservas quanto ao projeto de emancipação pelo trabalho. Essas posições eram bastante minoritárias na época. Por outro lado, uma vez que o capitalismo desmentiu as promessas feitas ao segundo sexo – porque apenas as mulheres que ganham dinheiro suficiente para pagar outras mulheres para cuidarem de si mesmas parecem “conseguir” –, é hora de reconsiderar essas críticas, colocando-as em perspectiva com as aspirações atuais das mulheres subordinadas. É isso que o livro busca fazer.
Voltando à perspectiva das entrevistadas, eu diria que o problema delas com a ideia de igualdade de gênero reside no fato de que ela exige que as mulheres façam as mesmas contribuições monetárias que os homens. Entendo essa recusa da igualdade conjugal, ou seja, a recusa em assumir a mesma responsabilidade pelas despesas da vida familiar, como uma resposta ao fracasso da estratégia de emancipação feminista por meio da integração ao mercado de trabalho.
De fato, quando tudo o mais é desigual (salários por hora, tipos de contrato, trabalho materno, carga mental, sexismo, violência etc.), a igualdade de 50-50 no casal prejudica os parceiros. Os sociólogos descreveram claramente o que a “dupla jornada de trabalho” significa em termos concretos para elas. Três em cada quatro mulheres casadas que trabalham ganham menos que seus parceiros, principalmente devido ao maior número de contratos de meio período entre as trabalhadoras. A renda salarial dos homens é 28,5% maior que a das mulheres (3). No entanto, quando consideramos as tarefas domésticas e contabilizamos o conjunto das horas de trabalho – assalariado e doméstico –, as mulheres trabalham em média 54 horas por semana, três horas a mais que os homens (4).
Em suma, as mulheres trabalham mais para ganhar menos dinheiro do que seus parceiros. É por isso que falo no livro dos nossos “múltiplos fracassos”: se a felicidade familiar esperada pelas mulheres pesquisadas não se materializou (não estou dando nenhum spoiler), a promessa de igualdade heteroconjugal em que as feministas acreditavam também não se concretizou. Toda mulher que corre de manhã à noite entre o trabalho e a creche sabe do que estou falando: a promessa que lhes foi feita não foi cumprida.
A maternidade ocupa um lugar central na vida das mulheres de sua pesquisa. Você buscou entender, para além da “submissão à ordem patriarcal”, como cada uma a vivenciava. Diante da “maternidade institucional”, “atravessada por relações de poder e dominação de classe e raça, entrelaçadas com o gênero”, você quis pensar a maternidade no plural...
O que é a maternidade na perspectiva das vidas em que a observo? Esta é a pergunta que tento responder no livro. Para fazer justiça às subjetividades femininas com as quais converso, digo a mim mesma que certamente não devemos abordar as experiências das entrevistadas como uma das engrenagens do patriarcado, nem ouvir em suas palavras o reflexo da ideologia maternalista.
Inspirada pela distinção sugerida por Adrienne Rich entre “a maternidade como instituição” (um conjunto de normas e prescrições) e “a maternidade como experiência” (5), espero deslocar o foco do papel (reprodutivo) das mulheres em relação ao patriarcado para as maneiras pelas quais as mães vivenciam seu trabalho reprodutivo. Examinar os desejos, os afetos e as aspirações de mulheres singulares é uma maneira de mostrar que não existe uma condição materna única comum a todas as mães.
Meu objetivo não é dar as costas a análises em termos de dominação. Muito pelo contrário. Ao me interessar principalmente pelas experiências vividas pelas mães, gostaria de enriquecer nossa perspectiva sobre os mecanismos de opressão e apropriação inerentes à maternidade institucional. É com esse duplo objetivo – pensar a maternidade a partir da perspectiva das relações sociais interseccionais, sem reduzir as mães a essas relações – que abordo o significado coletivo que emerge nas falas e práticas cotidianas das entrevistadas.
Num momento em que Macron fala em “rearmamento demográfico”, você aponta que a proporção de mães na população aumentou e que a pressão para procriar continua mais forte do que nunca. Continua sendo malvisto pela sociedade, especialmente aos olhos das instituições, ser uma dona de casa que decide cuidar dos filhos, especialmente quando se é uma pessoa não branca. Para as suas entrevistadas, ao contrário, é uma escolha que elas reivindicam...
Embora um senso de liberdade e escolha reprodutiva esteja ganhando espaço na França ao longo do tempo, não ter filhos está se tornando uma possibilidade cada vez menor para as mulheres. Deixe-me explicar. A queda da taxa de natalidade (número de nascimentos) e da taxa de fertilidade (razão entre o número de nascimentos e o total de mulheres em idade fértil) não significa que a maternidade esteja “em declínio”. Muito pelo contrário. No longo prazo, é a proporção de mães na população feminina que aumentou (6). Em outras palavras, a proporção de mulheres sem filhos está diminuindo. Considerando o desaparecimento de múltiplas formas de celibato feminino (freiras, enfermeiras, assistentes sociais, etc.), bem como o impacto da procriação medicamente assistida, isso, em última análise, não parece ser surpreendente.
Desde a década de 1970, o Estado francês trabalhou para que as mulheres façam duas coisas ao mesmo tempo: deem lucro para a economia e filhos para a nação. Esse duplo objetivo significa, concretamente, mantê-las na força de trabalho, sem que isso impeça sua maternidade. Em suma, trata-se de implementar políticas que garantam que as mulheres não abram mão de sua condição de trabalhadoras nem de mães. O trabalho em tempo parcial é uma dessas ferramentas. Comparada a países vizinhos como a Alemanha, a França é de fato mais bem-sucedida em enfrentar esse desafio de “equilibrar trabalho e vida familiar”.
Pessoalmente, não acredito que o “rearmamento demográfico” signifique um desejo de acabar com esse modelo de emprego feminino, nem o início de uma nova era de “mães que ficam em casa”. Mesmo que um certo imaginário político contemporâneo tenha retornado, o mito da “fada doméstica” permanece irrealista por uma simples razão: nem o capital, nem o Estado, nem os maridos estão dispostos a pagar o preço. Em outras palavras, não haverá retorno aos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, pois a era das colônias acabou, assim como a da classe trabalhadora branca e masculina, capaz de negociar o “salário-família”.
Quanto às reivindicações das mulheres entrevistadas, não há nada de político em seu desejo de “ficar em casa” após o primeiro parto. De fato, essa saída do mundo do trabalho é por um período limitado: assim que os filhos estão na creche, as mães retornam ao trabalho. Seu desejo de se dedicar ao trabalho materno é motivado principalmente por duas razões, ambas ligadas à sua classe e posição racial.
Em bairros da classe trabalhadora onde as condições de vida se deterioraram, essas mulheres lutam para proporcionar aos seus filhos o cuidado, a proteção e a educação de que necessitam. Elas respondem a essa situação objetiva de crise à sua maneira, praticando uma forma de alternância sequencial. Em vez de “fracassar em tudo” querendo “fazer tudo de uma vez”, elas priorizam a maternidade em detrimento do emprego para “cuidar bem dos filhos”.
Para essas mães, “cuidar bem dos filhos” é fundamental. Elas até se referem a isso como “amor incondicional”. Como elas investem na educação dos filhos? O que elas querem dizer com essa palavra?
O trabalho materno assume diferentes formas ao longo da vida da criança. Cada avanço da idade traz consigo necessidades específicas, mobilizando as mães de forma diferente da fase anterior. Para as mães de recém-nascidos, “estar presente” implica uma presença contínua em casa com seus filhos. Para as mães de crianças pequenas, isso significa maior vigilância fora de casa, principalmente no bairro residencial. Por fim, quando os filhos se tornam adolescentes, as mães se mobilizam junto a diversas instituições para que os direitos dos filhos sejam reconhecidos.
Nesse sentido, a vida das entrevistadas é marcada pela busca constante de soluções para os problemas que encontram em sua trajetória como mães, intimamente ligada à de seus filhos. Assim, à medida que crescem, a natureza dos obstáculos a superar, das preocupações a suportar e dos problemas a resolver muda, mas enquanto as mães continuarem a se preocupar com a segurança e o bem-estar de seus filhos, o fardo do trabalho reprodutivo não diminui.
O primeiro elemento para a compreensão do que estou descrevendo reside no status social e racial desses pais e de seus filhos. Se as mães, cujo cotidiano é narrado no livro, se esgotam, é porque lutam constantemente para garantir que seus filhos tenham acesso aos mesmos recursos que as crianças brancas, para que não sejam punidos pelas posições sociais e étnico-raciais que ocupam.
Em segundo lugar, as mulheres definem seu trabalho como mães em termos de educação. Para elas, a palavra “educação” refere-se à própria questão do trabalho reprodutivo. Demorei um pouco para entender que a educação de que as mães falavam se refere à transmissão de uma bagagem cultural e moral, e não às “normas educacionais dominantes” – comer bem, dormir bem, fazer a lição de casa etc. Dito isso, as entrevistadas não são indiferentes a essas regras promovidas pelas escolas e outras instituições; elas as conhecem e se esforçam para cumpri-las diariamente, mesmo que seus esforços nem sempre sejam bem-sucedidos.
Por outro lado, o que mais importa, do ponto de vista delas, é conseguir transmitir aos filhos um conjunto de valores distintos da sociedade majoritária, incluindo os valores religiosos. Elas esperam que, quando crescerem, seus filhos não se tornem franceses como os outros, mas adotem uma certa maneira de julgar o bem e o mal e se comportem de acordo com as regras de conduta herdadas de seus pais. É isso que as entrevistadas colocam por trás da palavra educação.
Em meu trabalho de campo, o trabalho materno parece ser uma luta sem fim contra o racismo estrutural. O que talvez seja menos claro é o fato de que resistir à assimilação – isto é, esforçar-se para se reproduzir como muçulmana, magrebina, etc. – também faz parte dessa luta. Quando as mulheres dizem que gostariam de “educar bem” seus filhos, elas se referem principalmente à questão do trabalho reprodutivo. Moldar a nova geração à imagem de si mesma e de seu grupo social é uma dimensão clara da maternidade, mesmo que seja menos discutida quando se trata de grupos racialmente minoritários.
Através da questão da maternidade e do trabalho reprodutivo, você aborda a questão do trabalho de cuidado dentro da estrutura familiar. Em sua opinião, qual é o papel da família hoje no atual sistema capitalista?
A questão da conexão entre a família e o capitalismo é de importante crucial, mas raramente é levantada. Reflito sobre a família a partir de uma perspectiva feminista e revolucionária que considera a reprodução como uma das pré-condições para o lucro e a acumulação, mesmo que não seja prefigurada na contabilidade das empresas. Neste sentido, a família, como forma institucionalizada de reprodução, é o elemento constitutivo da ordem capitalista.
Se, no capitalismo, a família é o local privilegiado das relações de cuidado interpessoal e do trabalho reprodutivo, isso não tem nada de natural. Só porque o vínculo familiar é estabelecido pelo sangue não significa que o lar privado constitua o lugar onde várias pessoas vivem juntas, compartilham recursos e são interdependentes em vários aspectos de suas vidas, como o emprego, a moradia e a educação.
O lugar atual da família no processo de reprodução social foi historicamente construído. M. E. O’Brien chama nossa atenção para uma sequência particularmente interessante nessa história, na década de 1970, onde ela observa um duplo movimento paradoxal em ação (7). De fato, o enfraquecimento da norma familiar anda de mãos dadas com a intensificação da dependência da família para as pessoas mais vulneráveis em nossas sociedades.
O’Brien vê as políticas de austeridade, acompanhadas pela mercantilização do trabalho reprodutivo social, como uma medida que visa aumentar a dependência da família. No imaginário de conservadores e neoliberais, a família é o lugar apropriado ao qual as pessoas devem recorrer em busca de apoio. Nesse sentido, a virada neoliberal não representa simplesmente o triunfo do indivíduo como a única entidade existente (fora da empresa), mas também a consolidação da família como uma instituição capitalista onde esses indivíduos receberão cuidados.
Assim, à medida que a austeridade aumenta, muitas pessoas, como Nadia e Dounia na minha pesquisa, tornam-se cada vez mais dependentes dos laços familiares, mesmo que o fim da família tradicional seja paradoxalmente celebrado. Considero que a ideologia neoliberal mantém a ilusão de que a família é uma forma coletiva superada pela chegada do indivíduo – livre porque racional – associando-se de acordo com suas preferências a quem desejar. No entanto, estar sem família muitas vezes significa encontrar-se sozinho ou abandonado. Uma sociedade onde a reprodução ocorre principalmente através da família deixa de lado todos aqueles que não se beneficiam dos recursos familiares.
As mulheres do seu livro colocam a solidariedade no cerne da estrutura familiar. Como podemos levar essa solidariedade para além da família e construir coletivos de cuidado?
Gostaria de enfatizar, em primeiro lugar, que, se não quisermos ser arrastados pela onda fascista, construir esses coletivos não é um luxo, mas uma urgência. Ao contrário daqueles que consideram o desejo pela família heteropatriarcal um sentimento nostálgico e reacionário, considero que os afetos mobilizados em torno da família se inspiram em uma situação muito contemporânea, a saber, a crise reprodutiva que vivemos atualmente.
Neste sentido, se a família não é algo ultrapassado e modernizado pela extrema-direita, é porque ela é, antes de tudo, para milhões de pessoas, a única estrutura à qual podem recorrer em momentos de necessidade – e que ela não funciona mais como antes. Isso já foi destacado por muitas feministas: o capitalismo, ao colocar o trabalho reprodutivo a seu serviço sem se preocupar com suas condições de existência, cria sucessivas crises de reprodução.
De fato, existe uma contradição entre colocar as mulheres para trabalhar como mão de obra para a acumulação de lucro e colocá-las em trabalho reprodutivo para a manutenção biológica, social e cultural da vida humana. Parece que chegamos ao fim de um ciclo em que a aliança entre patriarcado e capitalismo conseguiu resolver essa contradição e garantir que o trabalho das mulheres nas empresas não comprometa seu trabalho como esposa-filha-mãe, e vice-versa. A pandemia da Covid é apenas uma ilustração marcante dessa atual crise de reprodução.
Dadas essas coordenadas – a crise da reprodução combinada com sua politização fascista bastante bem-sucedida –, propor laços de solidariedade e imaginários desejáveis me parece essencial. Se quisermos ir além da família como instituição capitalista e patriarcal de reprodução social, devemos partir do que ela faz e do que promete a seus membros.
No livro, argumento que, para que as comunidades de cuidado que propomos atendam às expectativas das mulheres pesquisadas em relação aos laços familiares, elas devem encontrar maneiras de superar a lógica baseada na afinidade. Pois o que mais importa na promessa do cuidado familiar é seu caráter inabalável, isto é, incondicional, que distingue o vínculo mãe-filho de outros tipos de vínculos de ajuda mútua. Se defendo a criação de espaços e coletivos sem afinidade, onde todos possam ter um lugar, é também para podermos enfrentar a onda fascista que está tornando a família uma força mobilizadora.
Em suma, se não respondermos às necessidades de cuidado e aos “desejos de coletividade que temos dentro de nós” (8), estes últimos servirão de armas para os defensores da ordem capitalista e patriarcal. Sejamos francos: sim, é verdade que a família acabou. Não vamos restaurá-la. De agora em diante, todos sobreviveremos juntos, de forma diferente.
No questionamento que as mulheres do seu estudo a levaram a fazer sobre as reivindicações feministas, você estabelece uma conexão com os feminismos do Sul Global e seu questionamento do feminismo eurocêntrico? Podemos pensar na jineolojî do movimento de mulheres curdas, por exemplo...
A jineolojî é a contribuição original do movimento de mulheres curdas para a crítica da ciência. Nascida da experiência política das mulheres no Curdistão, essa proposição rejeita a noção de que o conhecimento deve permanecer confinado às perspectivas europeias e masculinas sobre o mundo. Nesse sentido, faz parte do pensamento feminista decolonial. Nos últimos dez anos, tenho lido os escritos de mulheres que colocam a jineolojî em prática em suas pesquisas e reflexões políticas.
É uma fonte de inspiração em vários níveis. Colocar a experiência das mulheres no centro da pesquisa e produzir conhecimentos com base nelas são duas lições epistemológicas e metodológicas que aprendi. Na minha opinião, o mais valioso da jineolojî é a natureza corporificada de suas ferramentas (teóricas e práticas) na e através da luta. De fato, a jineolojî não se contenta em criticar o capitalismo: ela busca meios práticos para superá-lo aqui e agora. Nesse sentido, pensar a partir da perspectiva da jineolojî significa pensar com décadas de experiência política que visam à libertação coletiva das mulheres através da luta.
Essa luta é liderada pelas mulheres pela autonomia do seu povo, mas também por sua própria autonomia. As duas são consideradas inseparáveis. Na minha opinião, trata-se de uma tradução decolonial do famoso slogan feminista francês dos anos 1970, “O privado é político”, pois envolve a articulação entre o “privado” e o “político” através da sua inclusão na comunidade. Nesse sentido, a possibilidade de emancipação feminina torna-se inerente à da sociedade como um todo, sem que o primeiro se dissolva no segundo.
Essa proposição, que é também o esforço político de sua concretização, me encoraja a repensar o feminismo a partir da comunidade, distanciando-me de um feminismo individualista que situou seu discurso histórico no marco da propriedade capitalista. Do ponto de vista do movimento curdo, a construção de uma sociedade libertada do capitalismo e do patriarcado nunca significa abandonar as formas de organização da mistura escolhida de mulheres. É justamente o contrário.
A autodefesa das mulheres se desenvolve gradualmente e se fortalece a cada etapa da luta. Nesse sentido, a jineolojî fornece elementos de resposta a uma das minhas questões centrais: como o conflito de gênero pode ser perpetuado dentro de uma comunidade de vida e de luta? Eu diria que a autodefesa coletiva das mulheres – em suas formas física, social, econômica, psicológica e cultural – constitui a chave para garantir que a realização de si na e por meio da comunidade não se transforme em abnegação de si.
Notas
1. hooks, bell. De la marge au centre. Paris: Cambourakis, 2017, p. 193.
2. BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. São Paulo: Nova Fronteira, 2020.
3. GEORGES-KOT, Simon. Écarts de rémunération femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de l’emploi occupé. Insee Première, n° 1803, 2020.
4. BESSIÈRE, Céline; GOLLAC, Sybille. Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités. Paris: La Découverte, 2020, p. 12.
5. RICH, Adrienne. Naître d’une femme : la maternité en tant qu’expérience et institution. Denoël-Gonthier, 1980 [1976].
6. TOULEMON, Laurent. Combien d’enfants, combien de frères et de sœurs depuis cent ans ? Population et Sociétés, n° 374, 2001, p. 1-4.
7. O’BRIEN, M.E. Abolir la famille. Capitalisme et communisation du soin. Bordeaux: Éditions La Tempête, 2013, p. 199-216.
8. FISCHER, Mark. Desejo pós-capitalista: últimas aulas. São Paulo: Autonomia Literária, 2025.
Leia mais
- O compromisso racial e sexual das mulheres da extrema-direita. Entrevista com Léane Alestra
- Feminismo que não se manifesta quando mulheres em Gaza morrem de fome durante o cerco não é feminismo. Artigo de Nadine Quomsieh
- As mulheres no mercado de trabalho
- Economia é coisa de mulher, mas orçamento para mulheres ainda é pouco transparente
- “Somos vítimas do sistema patriarcal que faz sofrer tanto os homens como as mulheres”. Entrevista com Luca Marinelli
- Movimento das mulheres indígenas é diverso e cresce a cada dia, mostra mapeamento inédito da Anmiga e do ISA
- A realidade é superior à ideia de família que a Igreja possui. Artigo de João Melo
- A família ainda existe e quer se manifestar, mas devemos respeitar a sua complexidade. Artigo de Luciano Moia
- Assim o neoliberalismo capturou a família. Entrevista com Nuria Alabao