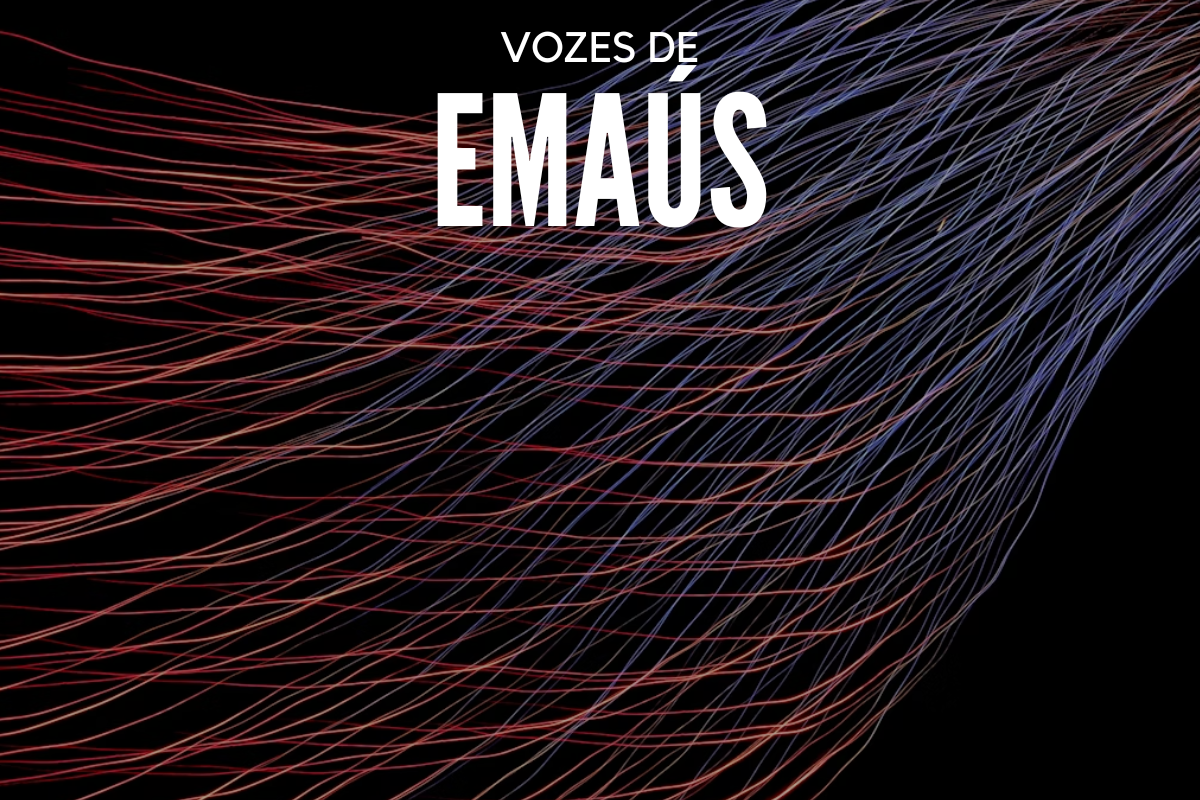12 Novembro 2024
A crítica central que apresento ao identitarismo é que essa abordagem não se revela como estratégia eficaz para formação de uma maioria humanista e progressista, em uma sociedade que avança para o autoritarismo e o fascismo, escreve Felipe Moura de Andrade, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santos - UFES.
"...cheguei à conclusão de que quem está na sala de visita não sofre, e se sofre, o sofrimento é suave."
Carolina Maria de Jesus
Eis o artigo.
A Profundidade da Literatura de Carolina Maria de Jesus
Diversas vezes, ao ler Carolina Maria de Jesus, senti-me profundamente tocado por sua habilidade de expor vivências reais. Sua capacidade de interpretar o Brasil a partir de sua perspectiva como mulher preta e favelada revela um profundo entendimento de seu eu, de sua vida e do contexto social. O que me impressiona em sua obra é que Carolina não se limita a entender apenas o que significa ser preta. Sua visão é mais ampla: trata-se de uma mulher que, quando tem a oportunidade, se apropria da condição de cidadã brasileira, enfrentando a luta pela sobrevivência e a busca por uma compreensão e superação das fissuras criadas pelo racismo, pela solidão e pela pobreza.
Os textos de Carolina revelam, em grande medida, a experiência de exclusão e subcidadania no Brasil. Um dos livros que mais me impacta é Casa de Alvenaria, onde percebemos que, ao "chegar lá", a sensação de vazio persiste. Nele, encontramos em grande medida o avesso do identitarismo: as condições sociais de mulher, negra e favelada se entrelaçam, mas não são capazes de dizer quem é Carolina.
O que prevalece é um "eu" que transcende à soma de categorias, portanto, muito além de um "corpo negro". Sua condição como pessoa não é reduzida ao corpo, nem às convenções da métrica do politicamente correto, nascera antes dele. Ao se ler Maria de Jesus, vê-se que a pulsão é por realizar-se, sem autocontenção consciente.
Foco da Crítica
Com essa inspiração, ao nos aproximarmos do 20 de novembro de 2024, nosso primeiro feriado nacional da Consciência Negra, proponho uma reflexão sobre a inadequação do que vem sendo chamado de "identitarismo". A crítica central que apresento é que essa abordagem não se revela como estratégia eficaz para formação de uma maioria humanista e progressista, em uma sociedade que avança para o autoritarismo e o fascismo.
O Brasil e a Importação de Modelos
No Brasil, é comum adotarmos soluções e modelos estrangeiros para resolver nossos problemas sociais e econômicos. Na luta antirracista, essa dinâmica se repete: muitas ideias que circulam hoje são de origem estrangeira e carecem de um trabalho "antropofágico" que as contextualize efetivamente. Assim, nosso antirracismo frequentemente se inspira na forma como o racismo se manifesta na sociedade estadunidense.
Para apoiar no entendimento do contexto brasileiro, faço uma contraposição ao norte-americano, e para isto pego emprestado duas noções da física. Nos Estados Unidos, a sociedade atua sobre as diferenças como uma força centrífuga, produzindo um afastamento entre os distintos grupos sociais. Esse fenômeno gerou, no século XX, a segregação racial, como sua expressão negativa, mas também trouxe, como resposta positiva àquele contexto, o multiculturalismo.
No Brasil, a dinâmica social atua como uma força centrípeta, promovendo o convívio hierárquico entre as diferenças. Esse fenômeno resultou em processos como sincretismo e miscigenação. Contudo, no século XX, as respostas negativas à essa dinâmica foram as estratégias de branqueamento, enquanto a resposta positiva poderia ter sido a promoção de uma verdadeira democracia racial.
Democracia Racial
Conforme registra Jesse de Souza (2024), a partir dos anos 1930, o racismo biológico foi gradativamente empurrado para o "armário". Em vez de desaparecer, o racismo adquiriu características cada vez mais socioculturais. Nesse contexto, a ideia de "democracia racial" foi criada e amplamente divulgada, mas também criticada como um mito que encobre a realidade.
Postulo, na condição de engenheiro de obra pronta, um erro estratégico ocorreu na condução desse debate público. Ao invés de simplesmente denunciar a democracia racial como farsa, as ações poderiam ter exigido que as elites a transformassem em uma realidade socioeconômica. Essa mudança de perspectiva poderia ter elevado as pautas da população negra a um novo patamar, promovendo um sentimento de pertencimento à maioria ao invés de se conformar como minoria. Como bem disse Florestan Fernandes, a condição de vida do negro é um indicador fundamental da democracia no Brasil.
Ao optar por criticar a ideia de democracia racial como propaganda de Estado, a intelectualidade de esquerda e o movimento negro, a partir da segunda metade do século XX, decidiram enquadrar as questões de exclusão e subcidadania do negro como temas de minoria. Essa opção não conferiu à questão racial a dimensão que ela realmente possui, ou seja, a de estruturar nossa sociedade, permitindo a formação de um sistema ancorado na superexploração, em que a condição de exclusão do negro acaba por emprestar uma falsa dignidade à subcidadania imposta pela elite, por meio do Estado e do mercado, à quase totalidade da população.
Contradições e Paradoxos da Questão Negra
Essa 'decisão' leva a questão negra a circunstâncias repletas de contradições e paradoxos. Por exemplo, observa-se, dentro do movimento negro, a negação da miscigenação em maior ou menor grau. Além disso, a miscigenação é, por vezes, tratada unicamente como resultado de políticas de branqueamento, negando, assim, qualquer agência aos indivíduos e grupos reais. Com isso, buscou-se tornar o uso do termo 'negro' uma expressão de uso comum e popular, encerrando infindáveis experiências de vida nesse enquadramento. Uma noção adequada à análise socioeconômica e estatística foi transposta para o mundo vivido. Outro distanciamento do cotidiano é a ideia de 'pardo'. Essa categoria, promovida pelo Estado, mas frequentemente criticada por organizações do movimento negro, oculta uma diversidade de misturas étnicas e raciais, especialmente aquelas que envolvem ascendência indígena.
Exigir que noções acadêmicas ou militantes sejam as únicas formas de identificação pessoal e coletiva, mesmo que conquistem vitórias em alguns aspectos, gera contradições crescentes. Um exemplo disso é a existência das controversas bancas de heteroidentificação. Como pode o Censo, que fundamenta os percentuais de cotas, basear-se em autodeclaração e, para acessar essas cotas, haver um grupo de 'especialistas' em raça e etnia para definir quem é negro? A sociedade brasileira concorda com isso? É importante frisar que todos têm espaço de fala nessa questão, pois trata-se de um recurso público que deve ser direcionado a uma política pública.
A Complexidade Étnico-Racial no Brasil
No contexto da contraposição da democracia racial como um mito, evoca-se a existência de dois troncos raciais centrais, que são reciprocamente antagônicos: brancos e negros. Essa visão, além de não refletir as complexas relações étnico-raciais brasileiras, resultou no apagamento da presença indígena na composição da sociedade nacional. Quando lembrada e tratada, essa presença limita-se ao conceito de aldeamento. Mais recentemente, essa visão tem servido de base para o surgimento de 'bancas' de julgamento racial em redes sociais.
Pode-se supor que os descendentes de indígenas com brancos, conhecidos como “caboclos”, são um agrupamento populacional comparável aos autodeclarados pretos. No último censo em que essa questão foi colocada, em 1940, eles representavam 4,2% da população, enquanto os pretos constituíam 6%. Reforçando a magnitude desse grupo populacional, vale considerar que a região norte, onde a presença dos “caboclos” é mais significativa, cresceu sua participação na população nacional em mais de 40%, passando de 5,8% em 1940 para 8,6% em 2020.
Adicionalmente, a construção de uma dicotomia racial teve como efeito o apagamento da diversidade regional do "encontro" racial brasileiro, bem como a uniformização dos "brancos", como se todos enquadrados nessa categoria, compartilhassem a mesma condição socioeconômica, história e relação com a diferença étnica e racial. Um efeito atual dessa visão sobre a formação da população brasileira é o crescimento de narrativas que sustentam a existência de um privilégio especificamente branco. Essa concepção decorre de uma compreensão fragmentada da realidade social e ignora que não somos sujeitos em abstrato.
Nossa elite é privilegiada e majoritariamente branca, mas apenas uma fração minúscula dos brancos pertence a essa elite. Aproximadamente 80% do 1% mais rico são brancos, o que evidencia a exclusão, por sub-representação, dos negros nesse cenário. No entanto, apenas 1,8% dos brancos e 0,3% dos pretos e pardos possuem renda suficiente para integrar o topo mais rico do país, o sonhado 1%.
Com esses dados, é possível afirmar que 98,2% dos brancos e 99,7% dos negros não pertencem à elite brasileira. Essa análise nos permite sair da abstração do "branco privilegiado" e compreender que a expressão correta, quanto ao privilégio no Brasil seria: "elite privilegiada, majoritariamente branca".
A maioria dos brancos e dos negros vive em condições de ‘cidadania limitada’, subcidadania ou exclusão. Em 2014, quase um quarto dos 10% mais pobres eram brancos. Podemos até afirmar que os pretos estão mais presentes entre os excluídos, que os pardos predominam na subcidadania, e os brancos na ‘cidadania limitada’, mas essa é uma distinção de nível de precariedade, e não de privilégio.
O salário médio do brasileiro branco, em 2022, era de R$ 3.273,00, enquanto o do negro (preto + pardo) era de R$ 1.994,00, perfazendo uma diferença de 64%. Todavia, se assumirmos outro ângulo, por exemplo, o do salário-mínimo Dieese, de R$ 6.647,63 para o mesmo ano, vemos que brancos alcançam, em média, 49% do mínimo necessário para ter dignidade econômica, enquanto os negros atingem apenas 30%. Em 2021, aproximadamente 90% da população brasileira recebeu até 50% do salário-mínimo estipulado pelo Dieese.
Esses dados evidenciam a existência de desigualdade racial no Brasil, mas também destacam que a divisão entre negros e brancos, como frequentemente apresentada no debate público, é uma visão simplificadora. Ela não leva em conta que o racismo é uma das variáveis que compõem nossa subcidadania e exclusão, mas não a única. Privilégio nunca é constituído por uma única dimensão ou variável; é sempre o resultado da articulação da maior soma possível de posições sociais de poder.
Ter acesso a direitos plenos e à cidadania não deve ser considerado um privilégio. Estar acima da lei, ter a segurança da impunidade e o poder de constranger a dignidade de outros é uma condição real de privilégio, à qual, seguramente, a maioria esmagadora dos brasileiros não tem acesso.
Baseando-se na definição de cidadania de José Murilo de Carvalho (2003), os "cidadãos de bem" são quase todos brancos; no entanto, a maioria dos brasileiros vive como cidadãos de segunda classe ou "elementos" excluídos. Nesse grupo, mesmo que a maioria seja negra, também se encontram a maioria dos brancos.
A subcidadania conecta brancos e negros em um grande caldo de abandonados e boicotados por uma elite, majoritariamente branca, que não se reconhece na população "morena", "mulata", "cabocla", preta e indígena. Essa elite se locupleta do Estado e utiliza estratégias de mercado para impor sua agenda política, social e econômica à toda sociedade.
O projeto de branqueamento sempre foi uma iniciativa das classes privilegiadas em relação àquelas que vivem do seu próprio trabalho. Na elite, nunca foi necessário branquear, pois ela já se via como branca.
Considerações finais
Frequentemente, o identitarismo é acusado de empurrar parte de nossa sociedade para a extrema-direita; porém, essa é uma interpretação equivocada. O que gera esse resultado são as políticas de austeridade que produzem uma guerra de todos contra todos. O identitarismo, nesse contexto, se apresenta como uma forma inadequada e insuficiente de engajamento e organização política.
É inadequado porque o problema de origem não reside nas identidades, mas sim no mal-estar social generalizado, que afeta todas as pessoas que não estão entre os 5% mais ricos. É insuficiente, pois oferece projeto e organização apenas para aqueles que, pertencendo a grupos minoritários, seguem a cartilha do politicamente correto. Os problemas são compartilhados por 95% da população, mas as respostas são para fragmentos, polarizados e polarizantes da sociedade: homem, mulher, cis, trans, hetero, homo, bi, negro, branco, indígena, cristão, não-cristão, etc. A atenção se concentra excessivamente nas diferenças que essas identidades guardam, enquanto pouco se discute sobre o que essas pessoas têm em comum, a saber, a deterioração das condições de vida no planeta.
Neste sentido, reacionarismo e identitarismo constituem-se como dois lados da mesma moeda. Ambos representam respostas precárias ao mal-estar do nosso tempo. Nenhum deles propõe uma superação do presente colapso. Em vez disso, nutrem rivalidades em relação ao 'outro' e propõem solidariedade apenas aos iguais; quando muito, conseguem ampliar essa solidariedade para um 'outro' que é muito parecido.
Reacionarismo e identitarismo estruturam grupos de iguais para fazerem luta por recursos escassos, em um mundo cada vez mais desafiador e desesperador. É, portanto, essencial dizer que “identitarismo” não é sinônimo de luta por direitos de grupos minoritários. Tomar o segundo pelo primeiro é um equívoco histórico e conceitual. É o mesmo que confundir progressista e socialista. O identitarismo é uma forma especifica de luta por minorias, aquela que guarda afinidades eletivas com visões neoliberais, essencialistas, fragmentárias, sectárias e excessivamente acadêmicas.
Deve haver uma separação entre identidade e política, para evitar a colonização das identidades, por um lado, e o engessamento da política, por outro.
Identidade não é um elemento adequado à política, ao menos, não sem a devida mediação social. A identidade se caracteriza pelo desejo de encontrar a essência, a imutabilidade, a coesão e o inegociável. A política, por outro lado, é o terreno das alianças mutáveis, dos consensos provisórios, dos conflitos e das negociações. A política de identidade é, em essência, antipolítica, pois não há política democrática se não houver a possibilidade de negociar limites. Negociamos o externo, como, por exemplo, os direitos ou as leis, enquanto a identidade diz respeito ao interno, isto é, ao que somos ou ao que não podemos negociar, pelo menos com o outro.
O Brasil precisa de antirracismo ancorado em suas singularidades nacionais, que denuncie a subcidadania e a exclusão como um projeto racista de sociedade, que afeta todos que não pertencem à elite, majoritariamente branca, ou seja, 99% dos brasileiros.
Leia mais
- Para uma crítica do identitarismo. Artigo de Douglas Barros
- A chegada do identitarismo ao Brasil. Artigo de Bruna Frascolla
- Jessé Souza e o fantasma do “identitarismo”. Artigo de Erick Kayser
- Da política identitária à mobilização por direitos efetivamente universais. Entrevista especial com Celia Kerstenetzky
- “O neoliberalismo como filosofia hegemônica está morto”. Entrevista com Nancy Fraser
- Capitalismo e colapso: “Hoje, a utopia maior é imaginar a sobrevivência do capitalismo”
- A armadilha da identidade
- O identitarismo e seus paradoxos. Artigo de Marilia Amorim
- Dois argumentos lacônicos para se pensar a cidadania nacional como outra vítima do identitarismo. Artigo de Nelson Lellis e Roberto Dutra
- “A reivindicação identitária nega a mistura”. Entrevista com Élisabeth Roudinesco
- Da política identitária à mobilização por direitos efetivamente universais. Entrevista especial com Celia Kerstenetzky
- “O que causa um problema por ser identitário é o nacionalismo”. Entrevista com Judith Butler
- “O problema da esquerda não é a pauta dita identitária, mas sim a lacração”. Entrevista com Tatiana Roque