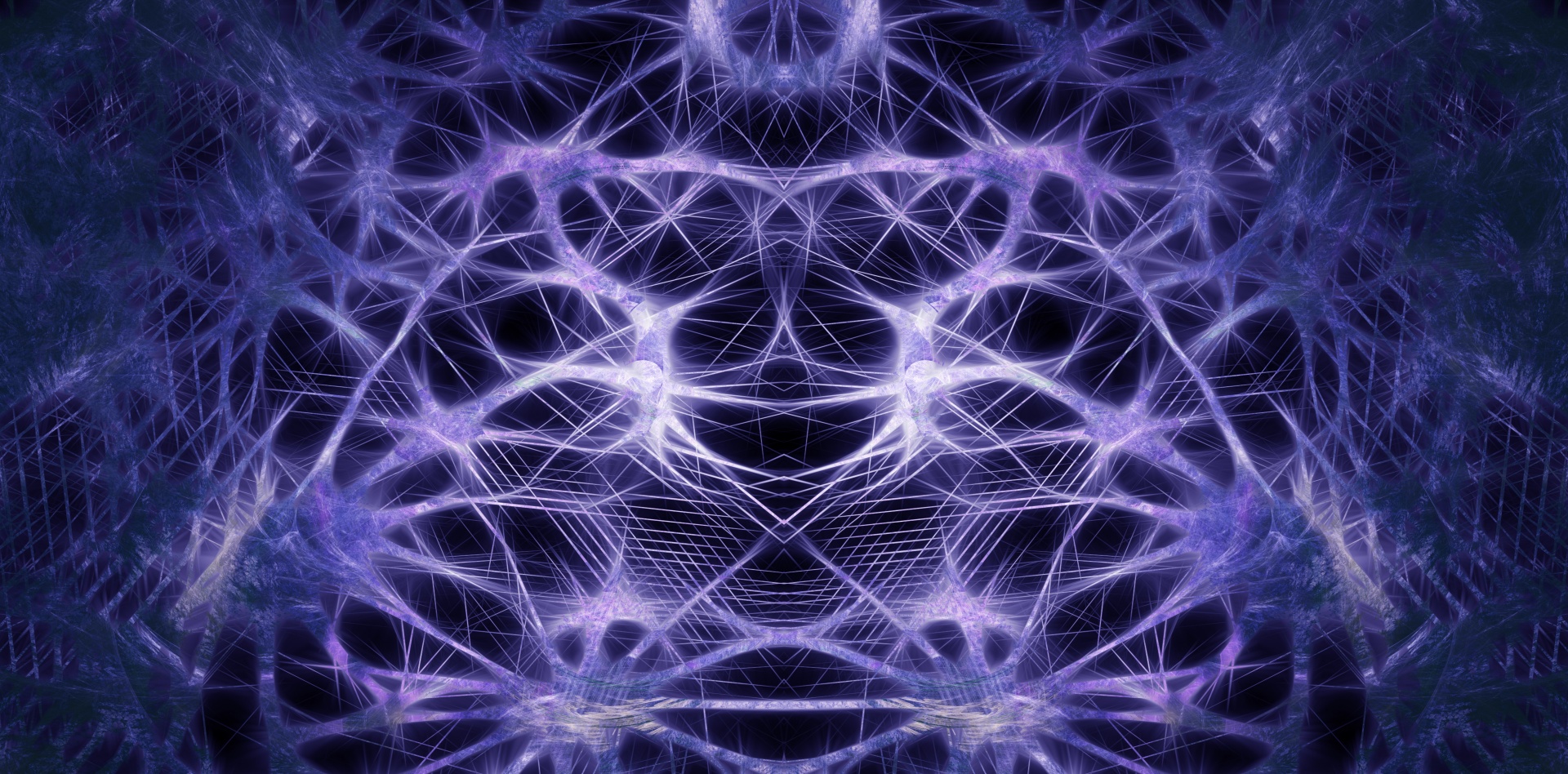11 Julho 2022
ô
Com uma expressûÈo que lembra uma estrela musical, o filû°sofo francûˆs ûric Sadin (Paris, 1972) se propûÇs uma tarefa colossal: desvendar episû°dios que, embora desconcertantes, governam nossas vidas hoje. Por que absurdas teorias da conspiraûÏûÈo triunfam, ao mesmo tempo em que as sociedades ocidentais se fragmentam em pedaûÏos cada vez menores?
ô
Em La era del individuo tiranoô (Caja Negra), uma obra que traz uma nova abordagem crûÙtica û tecnologia, reunindo as contribuiûÏûçes de livros anteriores, como La silicolonizaciû°n del mundo, busca responder questûçes assim. A resposta, segundo ele, ûˋ multidimensional: nûÈo se baseia apenas na precariedade ou na polarizaûÏûÈo polûÙtica, mas nasce, em grande medida, de um ethos individualista que governa o mundo hûÀ vûÀrias dûˋcadas.
ô
A entrevista ûˋ de Pelayo de las Heras, publicada por Ethic, 08-07-2022. A traduûÏûÈo ûˋ do Cepat.
ô
Eis a entrevista.
ô
Apesar do otimismo generalizado, apû°s a queda do Muro de Berlim, em ãLa era del individuo tiranoã, vocûˆ argumenta que foi quando definitivamente se cristalizou a quebra de confianûÏa entre os indivûÙduos, o corpo social e as instituiûÏûçes. Como a tecnologia nos fez evoluir?
ô
Em duas dûˋcadas, experimentamos uma transformaûÏûÈo absoluta de nossa percepûÏûÈo das tecnologias digitais. Partindo do entusiasmo inicial, as consciûˆncias estûÈo hoje marcadas pela desilusûÈo. Mas entre estes dois momentos houve um meio-termo, quando se jogou o essencial: em inûÙcios dos anos 2010, sistemas dotados de capacidades interpretativas e sugestivas comeûÏaram a enquadrar nossas vidas com fins comerciais, apresentando diariamente produtos supostamente adequados para cada um de nû°s, sempre com o objetivo de hiperotimizar determinados setores da sociedade.
ô
Pensemos no mundo da logûÙstica, em que os fabricantes recebem sinais que indicam o que fazer. Este foi o ponto de partida, conforme avanûÏavam meus livros, minha pesquisa sobre a natureza e o alcance dos efeitos induzidos. No entanto, nûÈo o vimos claramente e ainda nûÈo o vemos. NûÈo estamos mais no momento de elaborar sequer uma crûÙtica ao tecnoliberalismo, mas de alguma forma inverter o foco, apreender os efeitos induzidos em nossas psiques pelo uso mais assûÙduo das tecnologias digitais.
ô
Em sua obra, conforme indica o tûÙtulo, vocûˆ fala em ãindivûÙduo tiranoã, enfatizando um individualismo extremo desprovido de quase toda coletividade. O que exatamente vocûˆ quer dizer com esse conceito?
ô
Vivemos um momento de extrema saturaûÏûÈo na ordem polûÙtica e econûÇmica que reaviva a intenûÏûÈo de nûÈo ficar de braûÏos cruzados. Isso estûÀ em vigor hûÀ quase meio sûˋculo. Desde entûÈo, a maioria se dividiu entre dois estados opostos: por um lado, a constataûÏûÈo de nûÈo mais pertencer a si mesmo e enfrentar situaûÏûçes cada vez mais precûÀrias, por outro, o fato de utilizar tecnologias para facilitar nossa existûˆncia, o acesso imediato û informaûÏûÈo, a formulaûÏûÈo de opiniûçes e essa sensaûÏûÈo de ganhar ainda mais poder.
ô
û uma tensûÈo explosiva, pois contribui para nos imaginarmos como sujeitos autûÀrquicos, voltados para nossos instrumentos ã que supostamente nos oferecem maior controle ã, libertando assim a expressûÈo contûÙnua de nosso ressentimento. Esta seria a era do indivûÙduo tirano: uma condiûÏûÈo civilizatû°ria sem precedentes que contempla a aboliûÏûÈo progressiva de uma base comum para dar lugar a um enxame de seres que se consideram tûÈo enganados que nûÈo conseguem dar crûˋdito û sua prû°pria percepûÏûÈo das coisas.
ô
Vocûˆ fala do smartphone como uma ferramenta essencial por contribuir, com as possibilidades que oferece, em situar o indivûÙduo como a primeira e û¤ltima instûÂncia de um poder legûÙtimo, criando uma sensaûÏûÈo de falso controle da realidade. Nesse sentido, atûˋ mesmo a letra 'i' de iPhone ûˋ simbû°lica.
ô
Durante os Trinta Gloriosos, a indû¤stria desenvolveu produtos que respaldaram o processo de individualizaûÏûÈo, como o automû°vel, o camping e o magnetoscû°pio. Tûˋcnicas que davam a sensaûÏûÈo de viver a vida que se deseja.
ô
Em fins dos anos 1990, surgiram simultaneamente dois dispositivos que dariam uma nova dimensûÈo a esse movimento: a internet e o celular. Eles nos permitiam maior mobilidade e ampliavam o acesso û informaûÏûÈo, gerando a ilusûÈo de nos sentirmos mais ativos (no sentido de atuar, de realizar). Porque a utopia da emancipaûÏûÈo pelas redes ûˋ uma fûÀbula. Quem poderia acreditar que atravûˋs de simples trocas em fû°runs online, irûÙamos nos livrar de nossas alienaûÏûçes?
ô
Por outro lado, muito cedo se criou um mito: o de maior autonomia e valorizaûÏûÈo de nosso capital humano. Essa letra ãi' que vocûˆ menciona foi celebrada em todos os lugares, consolidando o indivûÙduo autorrealizado: as pessoas se apropriavam das lû°gicas neoliberais, mas sob uma forma aparentemente cool e o smartphone ampliou o fenûÇmeno. O cûÙrculo estûÀ fechado: o tecnoliberalismo gerou um autoliberalismo.
ô
O falso empoderamento ûˋ a razûÈo de se concentrar especialmente nas redes sociais?
ô
As redes encarnam os dispositivos que generalizariam uma relaûÏûÈo inflada com a realidade e os outros. Decolaram em fins dos anos 2000, quando a maioria vivia com a sensaûÏûÈo de inutilidade e invisibilidade social. EntûÈo, uma plataforma permitia se expor diante dos outros, enquanto recebia um banho de satisfaûÏûÈo simbolizado por um polegar ereto.
ô
Durante a crise de 2008, que respaldou uma desconfianûÏa nas instituiûÏûçes econûÇmicas e polûÙticas, o Twitter deu voz ao ressentimento com fû°rmulas sucintas que favoreceram a afirmaûÏûÈo categû°rica e rapidamente levaram a uma brutalizaûÏûÈo dos intercûÂmbios. No momento em que a indû¤stria digital estava ocupada mercantilizando a totalidade de nossas vidas, proporcionou uma interface destinada a criar uma aura simbû°lica. Quanto ao Instagram, esta rede levou a uma estilizaûÏûÈo pû¤blica da existûˆncia com a finalidade de monetizar o poder de recomendaûÏûÈo.
ô
Vocûˆ rejeita uma das principais teses sobre o capitalismo atual, que ûˋ a de ãcapitalismo de vigilûÂnciaã, de Shoshana Zuboff. Onde estamos, entûÈo?
ô
A vigilûÂncia caracteriza-se pela coleta de informaûÏûçes para fins de controle disciplinar, algo que sû° ûˋ utilizado pelos Estados. Para a indû¤stria digital pouco importa nos espionar, o que deseja ûˋ penetrar em nosso comportamento ã geralmente com o nosso consentimento ã com o û¤nico objetivo de definir o rumo de nossas vidas diûÀrias. Mais concretamente, trata-se de um capitalismo da administraûÏûÈo de nosso bem-estar, no qual nûÈo paramos de nos abrigar.
ô
NûÈo pode mais ser apenas o momento de denunciar os gigantes digitais que nos absolvem de nossa parcela de responsabilidade. û preciso entender que nossos usos tûˆm gerado surdez entre os diversos componentes do corpo social, principalmente pela declaraûÏûÈo ad nauseam de nossas opiniûçes nas redes sociais.
ô
Tais prûÀticas nada mais fazem do que consolidar nossas prû°prias crenûÏas, suscitar tensûçes interpessoais que provûˆm de uma ilusûÈo de envolvimento polûÙtico, pois em geral se dûÈo û margem de qualquer compromisso especûÙfico. Essa grande dissimetria entre o discurso e a aûÏûÈo representa um drama de nossa ûˋpoca.
ô
A sensaûÏûÈo de poder oferecida pelos dispositivos tecnolû°gicos, a sensaûÏûÈo de ter sido politicamente enganados e a vontade de nûÈo continuar sendo enganados ûˋ o que cria a situaûÏûÈo de ãingovernabilidade permanenteã que vocûˆ defende?
ô
Desde inûÙcios de 2010, nûÈo pararam de martelar que estamos frente a um aumento dos populismos. û uma leitura que nûÈo me parece adequada para analisar fenûÇmenos inûˋditos, pois quem diz populismo supûçe aspiraûÏûçes comuns, promessas feitas por figuras fortes a quem as massas dûÈo a sua aprovaûÏûÈo.
ô
No entanto, hoje, estamos tratando da chegada de uma nova condiûÏûÈo de indivûÙduo contemporûÂneo, como resultado de suas feridas, em um momento da histû°ria que, dûˋcada apû°s dûˋcada, trouxe muitas experiûˆncias fracassadas. Nisto, a ira atual surge menos de motivos ideolû°gicos do que de afetos subjetivos, que se expressam com o smartphone na mûÈo. Esse novo ethos embaralha as cartas do pacto entre governantes e governados para desvelar o que chamo de estado de ingovernabilidade permanente.
ô
A pandemia marcou um antes e um depois em nossa concepûÏûÈo tecnolû°gica?
ô
Da noite para o dia, o confinamento impûÇs a necessidade de realizar muitas atividades comuns online. Isto teve trûˆs efeitos importantes. Primeiro, uma intensificaûÏûÈo repentina do uso de protocolos digitais. Segundo, a extensûÈo destes para muitas atividades, algumas que atûˋ agora era inimaginûÀvel que pudessem acontecer de forma remota.
ô
E, por fim, o terceiro efeito: um fenûÇmeno de naturalizaûÏûÈo, como se agora fosse normal realizar atividades humanas sem uma presenûÏa carnal compartilhada. Atravessamos o limiar de uma nova condiûÏûÈo, individual e coletiva, marcada por uma relaûÏûÈo com os sistemas digitais cada vez mais totalizadora.
ô
Agora, a crise econûÇmica que viveremos e que se traduzirûÀ especialmente na necessidade de reduzir custos, vai nos levar ao fortalecimento de processos como o teletrabalho. Por exemplo, os funcionûÀrios do Facebook que desejarem poderûÈo teletrabalhar de forma permanente. Por sua vez, o Daily News se tornou o primeiro jornal sem uma redaûÏûÈo fûÙsica. Onde quer que a distûÂncia possa destronar o face a face, assim serûÀ.
ô
Estamos assistindo a um progressivo apagamento do corpo e da presenûÏa e veremos chegar uma nova globalizaûÏûÈo, a dos serviûÏos, onde a localizaûÏûÈo serûÀ cada vez menos relevante e o assalariamento serûÀ questionado a favor do trabalho por encomenda. EntûÈo, serûÀ necessûÀrio que todas essas mudanûÏas, bem como o alcance de suas consequûˆncias, sejam objeto de debates e acordos. Caso contrûÀrio, inevitavelmente surgirûÈo novas formas de concorrûˆncia desleal entre os paûÙses do Norte e do Sul.
ô
HûÀ um fracasso desse ideal iluminista que almeja conjugar a autonomia com o interesse geral?
ô
Exatamente. Hoje, entendemos que o individualismo liberal ûˋ um mito que durou mais de dois sûˋculos. Ao final de uma sequûˆncia muito longa, sû° nos resta tomar nota do fracasso desse pacto polûÙtico supostamente virtuoso, porque nunca deixou de gerar desigualdades e feroz concorrûˆncia, enquanto em uma corrida desenfreada busca o progresso sem fim, que nos levou û beira do precipûÙcio.
ô
Tambûˋm ûˋ preciso destacar que voltou a ser recolocado repetidamente sobre bases mais equitativas para acabar produzindo, como ûˋ inevitûÀvel, o mesmo resultado. Nesse sentido, deverûÙamos nos esforûÏar para definir de forma muito diferente os termos desta nobre aspiraûÏûÈo inicial. E isso exige constatar que o princûÙpio de delegaûÏûÈo como modo exclusivo de governanûÏa estûÀ esgotado, para entûÈo implementar uma infinidade de prûÀticas capazes de nos tornar mais atores de nossas vidas.
ô
ãA fase destrutiva dos protestos nunca dûÀ lugar a uma fase construtivaã, lûˆ-se em ãLa era del individuo tiranoã. Estamos sequestrados por uma espûˋcie de niilismo universal? E mais, ûˋ possûÙvel enxergar hoje alguma dimensûÈo construtiva?
ô
DeverûÙamos trabalhar para o estabelecimento de uma democracia radical, nas palavras do filû°sofo John Dewey. Mais do que instituir uma renda universal, seria sensato que os fundos pû¤blicos pudessem apoiar todos os tipos de projetos que busquem estabelecer formas de organizaûÏûÈo menos preocupadas com o lucro e que visem a melhor expressûÈo de cada um no campo do cuidado, educaûÏûÈo, artesanato etc. O alternativo nûÈo deve ser um ato heroico, mas deveria ser incentivado em todos os nûÙveis.
ô
Devemos defender o direito de experimentar outros modos de existûˆncia mais virtuosos e solidûÀrios: ûˋ hora de frustrar as paixûçes tristes que nos minam, atiûÏadas pela amarga sensaûÏûÈo de sentir nossa prû°pria inutilidade, para substitui-las pela lû°gica inversa. Em outras palavras, a alegria de se envolver em assuntos comuns e de se sentir plenamente envolvido no desenvolvimento de nossos destinos individuais e coletivos. Caso contrûÀrio, ûˋ provûÀvel que a fû¤ria de todos contra todos se torne o traûÏo dominante da ûˋpoca.
ô
Leia mais
ô
- ãû o tempo da profusûÈo do que chamo de subjetividades revanchistas.ã Entrevista com ûric Sadin
- ãVivemos uma ruptura civilizatû°riaã. Entrevista com ûric Sadin
- ûric Sadin alerta contra a ãpropagaûÏûÈo de um anti-humanismo radicalã
- ãAs tecnologias digitais tûˆm poder de decisûÈo em nossas vidasã. Entrevista com ûric Sadin
- ãEstûÈo reduzindo a realidade a equaûÏûçes matemûÀticasã. Entrevista com ûric Sadin
- ãEstaremos cercados por fantasmas que administrarûÈo nossas vidasã. Entrevista com ûric Sadin
- ãVemos muito bem que o milagre da Inteligûˆncia Artificial nûÈo ûˋ para nû°s, mas para a indû¤striaã. Entrevista com ûric Sadin
- ãAs empresas tecnolû°gicas buscam monetizar cada instante da vidaã. Entrevista com ûric Sadin
- A inteligûˆncia artificial: o superego do sûˋculo XXI. Artigo de ûric Sadin
- Nossa identidade como um elemento monetizûÀvel. Entrevista com ûric Sadin
- ûric Sadin e a era do anti-humanismo radical
- ãO tecnoliberalismo lanûÏa-se û conquista integral da vidaã. Entrevista com ûric Sadin