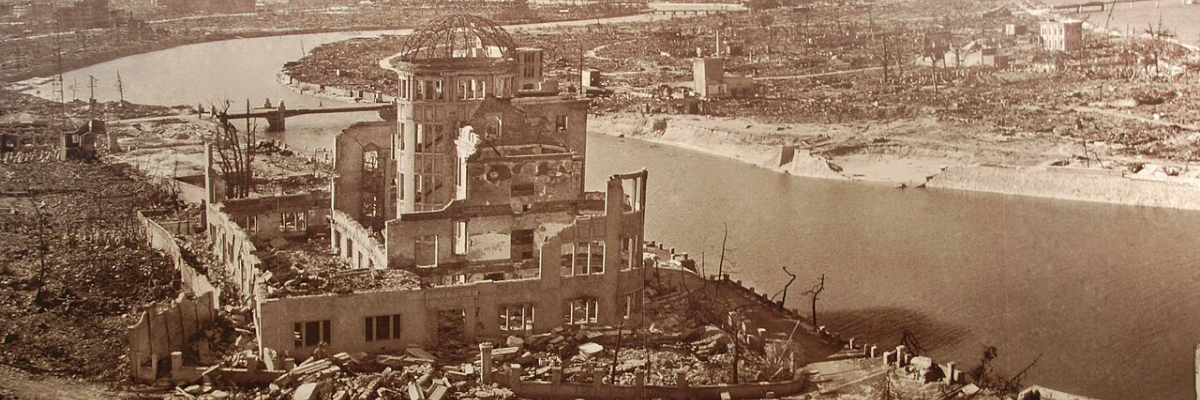18 Fevereiro 2020
Um texto como a exortação “Querida Amazônia” sempre exige leituras competentes. O texto resiste a quem quiser forçá-lo a dizer aquilo que ele não diz. O texto diz obstinadamente aquilo que se gostaria que ele não dissesse.
A opinião é de Andrea Grillo, teólogo italiano e professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma, em artigo publicado por Come Se Non, 16-02-2020. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
Entre os temas que se tornaram objeto de debate, imediatamente após as 13h [de Roma] do dia 12 de fevereiro, com a apresentação da exortação “Querida Amazônia”, parece-me que merece atenção a reflexão, muitas vezes exasperada, sobre o “valor magisterial” da exortação em relação ao documento final do Sínodo.
Se alguns falaram de “enigma” (Lorenzo Prezzi), é porque há em curso elementos de “transformação” do próprio exercício do magistério que embaraçam os comentaristas.
Deve-se somar a isso que, precisamente no lado oficial do Vaticano, durante a coletiva de imprensa, surgiu uma “versão oficial” da relação entre os dois textos – um é magisterial, o outro, não – que provoca grande surpresa, porque não respeita a complexidade do objeto sobre o qual se estava falando.
Por esse motivo, acredito que é útil fixar algumas delimitações para o “livre debate” que, como sempre, pode e deve seguir a aprovação de um documento oficial.
Acrescento ainda, como premissa, que, nessa delimitação, não é fora de lugar que alguns teólogos (Faggioli, Cosentino, Albarello) tenham tomado a palavra de um modo até dialético, mas certamente dando uma contribuição preciosa, que pode ajudar os jornalistas a exercerem a sua função informativa de um modo mais adequado.
Portanto, como podemos “delimitar” o campo da discussão de modo razoável? Definamos dois pontos cegos.
1. A pretensão de uma absoluta diferença qualitativa entre “Querida Amazônia” e o documento final do Sínodo
A primeira posição, que neste caso não pode ser defendida nem se reveste de um papel oficial, é que o único elemento magisterial a ser considerado é a “Querida Amazônia”, enquanto o documento final do Sínodo seria apenas um documento “interno” do processo de preparação da “Querida Amazônia”.
Essa posição trai uma fraqueza bastante surpreendente. Porque parece não ter lido o texto da “Querida Amazônia” nos seus primeiros números. Como é possível defender que a “Querida Amazônia” “substituiu” o documento final do Sínodo, se a “Querida Amazônia” diz explicitamente que não quer substituí-lo?
Como foi bem evidenciado, especialmente por Prezzi e Faggioli, mas também por Dom Fernández e pelos próprios cardeais Czerny e Hummes, a novidade consiste precisamente no fato de que a “Querida Amazônia” decide, explícita e abertamente, não substituir o documento final do Sínodo. Portanto, remete ao documento final do Sínodo para todas as questões das quais não se ocupa diretamente.
Obviamente, aqui a referência ao documento final do Sínodo é uma referência “condicionada”, pois o documento final do Sínodo não é um documento operacional, mas propositivo. Por isso, como já se observou, o documento final do Sínodo não pode decidir, porque remete a decisão à “Querida Amazônia”, mas a “Querida Amazônia” se abstém de decidir e remete aos conteúdos do documento final do Sínodo. Para um Sínodo, cujo objetivo é tomar decisões, parece pouco demais.
2. A confusão entre os dois textos
A segunda posição, também esta forçada, gostaria de ignorar a diferença entre a “Querida Amazônia” e o documento final do Sínodo e relançar imediatamente, como se fossem textos da exortação, os textos do documento final do Sínodo.
Esse caminho oposto tende a afirmar, a todo o custo, um “concordismo” e uma “continuidade” entre os dois documentos que, ao invés disso, parecem problemáticos e que, em todo o caso, exigem uma delicada mediação.
Talvez, a variável decisiva, neste caso, não seja tanto a do tempo – no futuro se verá – mas sim a do espaço – em outro lugar que não em Roma. A distância de Roma permite ver muito mais síntese do que se possa captar, imediatamente, colocando-se nos fundamentos da cúpula de São Pedro.
Por isso, é preciso distinguir bem entre aqueles que, somente por oportunismo, tentam “embaralhar as cartas” e colocar tudo em ordem, sem saltos, e aqueles que, por outro lado, por uma experiência eclesial diferente e por uma urgência pastoral diferente, sabem que o resultado do caminho sinodal, no entanto, é muito maior do que pontos específicos de evolução disciplinar.
3. A interpretação e a resistência dos textos
Em última análise, parece-me útil delimitar o campo do amplo debate, considerando essas duas posições-limite como formas “ideológicas” de leitura dos textos.
Por um lado, posso entender que há o interesse em “esclarecer” e que, para evitar a confusão, sejam propostas soluções drásticas, como as que eu indiquei. Mas essas resoluções, que certamente visam à prudência, na realidade, são gravemente imprudentes, porque aumentam, em vez de diminuir, o conflito.
De fato, as “interpretações autênticas” devem respeitar o texto que interpretam. Não podem fazê-lo dizer aquilo que ele não diz. Esclarecer o texto não significa não o fazer dizer aquilo que ele diz ou fazê-lo dizer aquilo que ele não diz.
Por isso, acredito que seria útil que o comunicador sempre estivesse acompanhado por um “especialista” do conteúdo. Nesse caso, um canonista e um teólogo podem esclarecer melhor as relações entre os textos e evitar ilusões concordistas ou oposições irredutíveis.
No entanto, uma vez publicado, o texto sempre exige leituras competentes. O texto resiste a quem quiser forçá-lo a dizer aquilo que ele não diz. O texto diz obstinadamente aquilo que se gostaria que ele não dissesse.
Por isso, o seu esclarecimento nunca se reduz apenas ao exercício da autoridade, mas pede também um “saber sobre os sinais e sobre os sonhos” e uma “consciência dos clarões e dos enigmas”.
A partir desse ponto de vista, para todos aqueles que comunicam no delicado campo da “doutrina cristã”, sempre deveria valer o duplo princípio: é preciso oferecer esclarecimentos e, ao mesmo tempo, salvar os fenômenos. Também para compreender a “natureza da doutrina sinodal”, esses dois princípios devem ser respeitados, mesmo que não seja algo fácil.
Se um dos dois faltar – isto é, se os esclarecimentos “comerem” os fenômenos, ou se os fenômenos não permitirem mais esclarecimentos – a confusão está destinada apenas a aumentar.
Leia mais
- Sínodo Pan-Amazônico - Página Especial
- Iniciativa “Maria 2.0” acolhe favoravelmente a exortação pós-sinodal “Querida Amazônia”
- Irmão Francisco. Carta de González Faus ao Papa sobre “Querida Amazônia”
- Católicos da Amazônia dão boas-vindas à exortação apostólica pós-sinodal
- Ler ‘Querida Amazônia’ com olhos africanos
- Querida Amazônia: uma carta de amor para a conversão dos corações
- “Querida Amazônia”, uma carta de amor. Artigo de Raniero La Valle
- "A bandeira de uma Igreja pós-colonial, com rosto amazônico, está apontando para um longo caminho, para uma via-sacra com esperança pascal”. Entrevista especial com Paulo Suess
- Bolsonaro ataca Papa Francisco depois de seu apelo para proteger a Amazônia
- “Querida Amazônia” também pode se tornar “Querida Mujer”? Sobre os leigos e o ministério das mulheres. Artigo de Andrea Grillo
- Padres casados: “O jogo ainda não acabou”. Entrevista com Massimo Faggioli
- Francisco escreve ao cardeal Müller e estende a mão aos tradicionalistas
- “Em Querida Amazônia, os sonhos são mapas para construir realidades”, afirma Tania Avila Meneses, teóloga
- Reações variadas a ‘Querida Amazônia’ entre os bispos brasileiros
- Primaz irlandês sobre padres casados: “Sou bastante aberto à ideia, e acho que o Papa Francisco também”
- Francisco não diz 'sim' aos padres casados, mas também não diz 'não'
- Em páginas diferentes? Francisco evita as recomendações do Sínodo. Artigo de Massimo Faggioli
- “Querida Amazônia” e o Sínodo. E se entendemos mal?
- Francisco decidiu não decidir... por enquanto
- Por que Francisco evitou falar em padres casados no seu documento sobre a Amazônia?
- “As sementes do Sínodo estão vivas, respiram, brotaram e deram frutos”. Assembleia do CIMI Norte1
- Amazônia, entre sonhos e medos
- “Querida Amazônia”, um texto aberto à criatividade eclesial. Entrevista com Andrea Grillo
- “A floresta amazônica é como o “coração biológico” da Terra. O planeta (pelo menos, o planeta que conhecemos) não pode viver sem a Amazônia”
- ‘Querida Amazônia’ mostra como Francisco busca uma mudança mais profunda
- Decepção, indignação com o documento papal sobre a Amazônia
- Francisco capta a ciência e a beleza da Amazônia, mas fica aquém na ação para salvá-la
- A abordagem “feminina” da “Querida Amazônia”: fora de lugar e fora de tempo
- “A sinodalidade está em risco, mas o documento do Sínodo indica o caminho para o futuro”
- O “pulmão verde” da Igreja
- A profunda necessidade de desclericalizar a Igreja
- Schönborn: “É preciso um anúncio de Cristo mais corajoso na Amazônia”
- ’Querida Amazônia’ é a emergência de uma nova hermenêutica no magistério. Artigo de Rafael Luciani
- “Papa Francisco foi obstruído. E se encontra mais sozinho a partir de hoje”
- “Querida Amazônia”: Papa Francisco sonha e nos desperta novamente. Artigo de Pierluigi Consorti
- “O Papa tomou a decisão que era possível tomar, a que menos dano poderia fazer à Igreja”, escreve José María Castillo
- “A exortação ‘complementa’ o documento sinodal, sem anulá-lo”, comenta Víctor Manuel Fernández, arcebispo de La Plata, Argentina
- “Querida Amazônia”: o sonho da floresta amazônica e a insônia da floresta curial. Artigo de Andrea Grillo
- Cinco destaques de ‘Querida Amazônia’
- As seis poesias citadas pelo Papa Francisco na “Querida Amazônia”
- Bispos do Regional Norte 1 avaliam a exortação como impulso para uma Igreja encarnada, culturalmente inserida, ambientalmente preparada, que sabe evangelizar e ser missionária
- Uma inédita novidade na exortação “Querida Amazônia”: papa declara que documento final do Sínodo não está superado
- "A exortação é uma carta de amor, um gesto extraordinário que chama a atenção de todos". Entrevista com o Cardeal Czerny
- "Querida Amazônia": o sonho de Francisco por um mundo melhor
- Os sonhos do papa para a sua Querida Amazônia. Artigo de Adelson Araújo dos Santos, SJ
- Francisco chora sobre a Amazônia. Não menciona os padres casados, mas pede respostas “corajosas”
- "O Documento Final e a Querida Amazônia exigirão um entendimento criativo e empático para além da Amazônia", diz cardeal Czerny
- O Papa cede à pressão e não aprova a ordenação de padres casados na Amazônia
- Celibato: Papa Francisco contraria conservadores e progressistas
- ‘Querida Amazônia’: tristeza e decepção, com um leve toque de esperança
- "Querida Amazônia": um título que causa esperança
- “Querida Amazônia": a ressurreição da irmã Dorothy Stang
- "Esperar a Exortação Pós-Sinodal de Francisco com realismo", adverte o vaticanista Luis Badilla
- Padres casados: Papa Francisco está nas garras dos opositores
- Dez Mandamentos do Sínodo para a Amazônia, uma proposta de conversão e compromisso