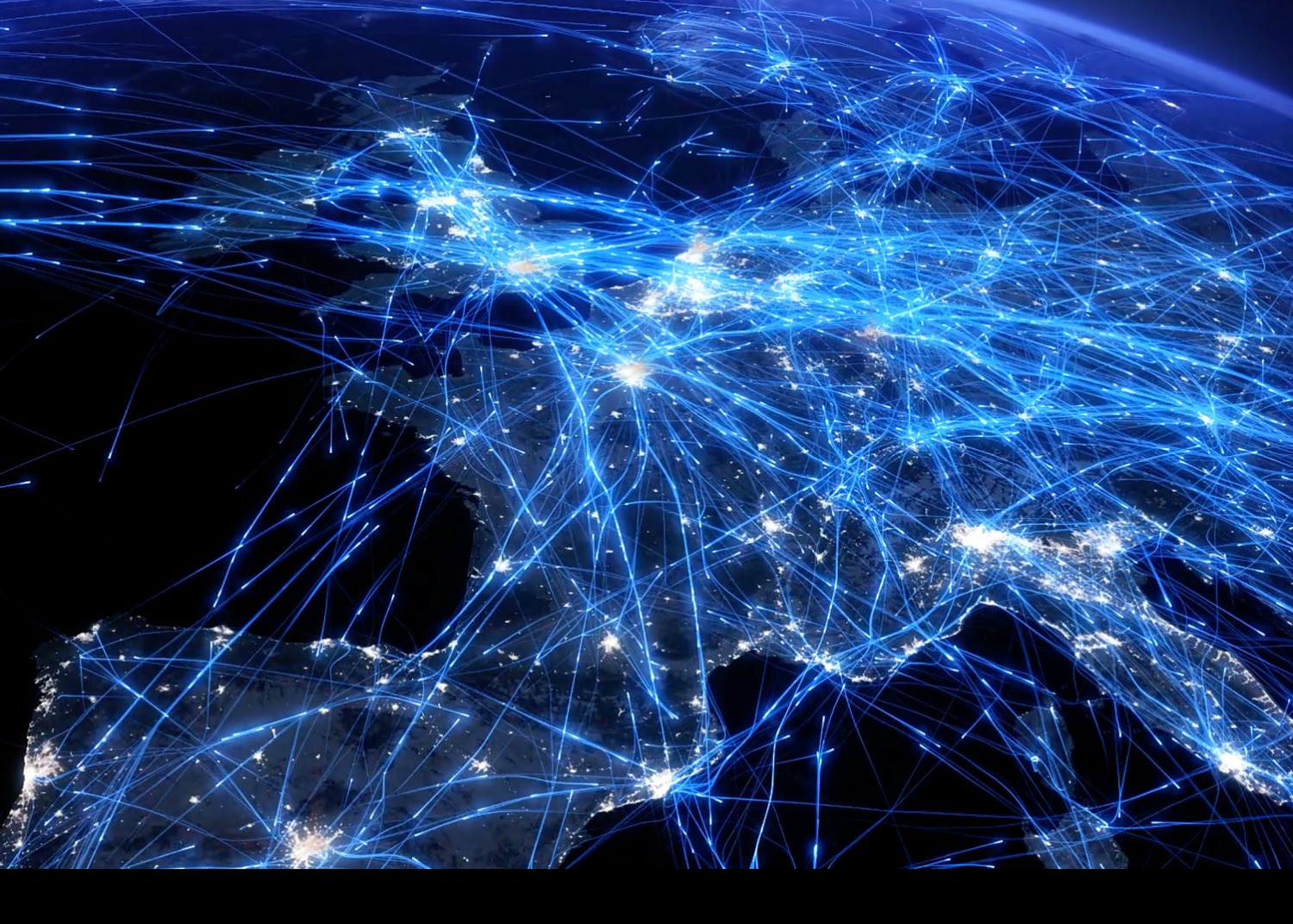Por: Patricia Fachin | 16 Agosto 2017
Se de um lado as tecnologias digitais, a exemplo do Facebook, permitem a interaûÏûÈo entre grupos de interesse, modificam e potencializam a capacidade de mobilizaûÏûÈo de movimentos e criam atûˋ mesmo um ativismo que expressa ãum estilo de vida e de uma prûÀtica cotidianaã, de outro, por vezes, ûˋ possûÙvel constatar ãapenas uma aûÏûÈo performûÀtica mal ensaiada e sem maiores consequûˆncias; daûÙ a denû¤ncia do slackativismo. O ãativismo de Facebookã seria, entûÈo, um ativismo preguiûÏoso ou de preguiûÏososã, pondera Marcelo Barreira û IHU On-Line. Entretanto, pontua, hûÀ pelo menos dois eixos interpretativos acerca do ativismo de Facebook: um deles diz respeito a uma intervenûÏûÈo sem maiores consequûˆncias, e outro ãseria como uma agulha de acupuntura que causa impactos transformadores no sistema nervoso central de nossa teia de comunicaûÏûÈo virtual quando uma postagem se viralizaã.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o filû°sofo relembra alguns casos em que o uso de hashtags e slogan surtiram um resultado polûÙtico, e outros em que as campanhas foram frustradas. Um exemplo positivo de como o Facebook se tornou uma ãarena de debates e um precûÀrio laboratû°rio de democraciaã, menciona, foi a de solidariedade aos Guarani KaiowûÀô da Aldeia Passo Piraju. ãUma campanha paradigmûÀtica foi quando diversos usuûÀrios trocaram seus sobrenomes no Facebook para ãGuarani KaiowûÀã em solidariedade aos indûÙgenas ameaûÏados por uma decisûÈo judicial de retirada da Aldeia Passo Piraju, na cidade de Iguatemi/MS. Essa solidariedade deu visibilidade û causa indûÙgena, ecoando e multiplicando sua voz, a ponto de grandes jornais do Rio e de SûÈo Paulo enviarem correspondentes atûˋ o local de conflito. Houve efetivamente um processo de radicalizaûÏûÈo democrûÀtica nessa campanhaã, relata.
Apesar de a rede social ser hoje uma espûˋcie de ûÀgora digital, Barreira avalia que o Facebook tambûˋm pode ser uma ameaûÏa û democracia. ãA maior ameaûÏa do Facebook û democracia ûˋ que a empresa nûÈo sû° cataloga preferûˆncias polûÙticas e culturais, mas as molda e administra conforme seus interesses de mercado, a ponto de manipular as emoûÏûçes de 700 mil pessoas para uma pesquisa publicada em 2014 sobre perfis psicolû°gicos no uso das redes sociaisã, diz. De outro lado, pontua, ãao estimular um maior nû¤mero de usuûÀrios, o Facebook acaba dando voz a minorias ûˋtnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estûˋticas, pluralizando e divulgando uma infinidade de histû°rias que complexificam a vida sociocultural pela democratizaûÏûÈo de sûÙmbolosã. Apesar disso, ressalta, ãuma padronizaûÏûÈo de gostos e homogeneizaûÏûÈo algorûÙtmica de formas de vida contribuem com um novo modelo de negû°cio, o capitalismo de plataformas, tendo como efeito colateral a exposiûÏûÈo de indivûÙduos inconformados ou desajustados aos padrûçes culturais ou û s visûçes de mundo estabelecidos como critûˋrios de julgamento moral em determinada comunidade cultural formatada digitalmente ã deixando-os vulnerûÀveis aos outros usuûÀrios e û s autoridades locaisã.


Marcelo Barreira | Foto: Arquivo Pessoal
Marcelo Barreira ûˋ graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ã UFRJ, mestre na mesma ûÀrea pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro ã UERJ e doutor tambûˋm em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas ã Unicamp. û professor do Departamento de Filosofia e do PPGFil da Universidade Federal do EspûÙrito Santo - UFES.
Confira a entrevista.
IHU On-Line - Alguns tûˆm chamado atenûÏûÈo para o ãativismo de Facebookã, ou seja, para uma espûˋcie de militûÂncia que as pessoas fazem atravûˋs das redes sociais, compartilhando e ãcurtindoã conteû¤dos ligados û s suas preferûˆncias polûÙticas. Esse ûˋ um sintoma da nossa ûˋpoca? Como o senhor compreende esse tipo de ativismo e por que ele acontece nos dias de hoje?
Marcelo Barreira - Com o fito de esclarecer o fenûÇmeno do ãativismo de Facebookã, cabe inicialmente assinalar a distinûÏûÈo entre ativismo e militûÂncia, mesmo sob o risco de esquematismo, especialmente diante de um binarismo classificatû°rio. Interpreto ãmilitûÂnciaã como uma adaptaûÏûÈo da vida û luta polûÙtico-institucional em movimentos sociais com estratûˋgia regular e de longo prazo.
Uma frase que sintetiza bem a postura do militante ûˋ a emblemûÀtica pergunta ão que ûˋ isso, companheiro? ã, sintoma do estupor de alguûˋm ante a constataûÏûÈo da perda de foco polûÙtico com demandas afetivas, pertinentes tûÈo sû° como um descanso no compromisso principal e integral: a seriedade da luta revolucionûÀria. O ativismoô surge de um estilo de vida e de uma prûÀtica cotidiana ã alimentar, afetiva etc. ã que se converte num ponto de afirmaûÏûÈo em face dos valores sociais estabelecidos. DaûÙ se aduz uma bandeira polûÙtica mais fluida, existencial e menos institucional. Neste sentido, o ativismo como prûÀxis adapta-se mais facilmente a uma aûÏûÈo polûÙtica virtual, pois o ambiente das redes sociais facilita a tentativa idiossincrûÀtica de influenciar outras pessoas na proposta de um novo jeito de ser, de pensar, de sentir e de agir.
Obviamente haveria muitos tons de cinza nessa distinûÏûÈo eivada de ambiguidades; logo, nûÈo me parece alvissareiro quaisquer maniqueûÙsmos do tipo militûÂncia versus ativismo. Afinal, o Facebook (como metûÀfora de ãrede socialã) ûˋ tambûˋm uma plataforma de aûÏûÈo polûÙtica para movimentos sociais e partidos polûÙticos tradicionais, quando o Facebook se transmuda num braûÏo virtual de uma luta militante e contra-hegemûÇnica realizada em vûÀrios ûÂmbitos, ainda que tal ambiente seja criticado e relativizado em comparaûÏûÈo com as aûÏûçes presenciais. Afinal, hûÀ distinûÏûÈo, mas que nûÈo impede a complementariedade entre militantes e ativistas nas lutas polûÙticas.
IHU On-Line - O ãativismo de Facebookã se contrapûçe û militûÂncia de rua, que caracterizou a dûˋcada de 1980? Por quûˆ?
Marcelo Barreira - A dûˋcada de 80 foi marcada pela aûÏûÈo militante. A militûÂncia em movimentos sociais foi o modelo de participaûÏûÈo polûÙtica surgido no contexto do processo de ãredemocratizaûÏûÈoã. Uma caracterûÙstica muito presente na ûˋpoca era a dupla militûÂncia, no movimento social e no partido polûÙtico, o que invariavelmente visava ao aparelhamento polûÙtico-partidûÀrio daqueles movimentos. Os movimentos apresentavam unidade de objetivos e clareza de identidade, por isso Rodrigo Nunesô qualifica-os como sendo de ãcû°digo fechadoã. O elemento chave era converter e conscientizar outros da centralidade de sua causa e agenda polûÙtica, repetidas nos palanques e nos carros de som.
O ponto de emergûˆncia do ãativismo de Facebookã foi a massificaûÏûÈo das novas tecnologias de informaûÏûÈo e de comunicaûÏûÈo entre jovens, propiciando as jornadas de junho de 2013. Para sairmos do Facebook, antes nos encontrûÀvamos no Facebook. As tecnologias digitais permitiram afluir e intensificar novas subjetividades pessoais e coletivas, e mais interessante: encontrar outras pessoas e outros grupos com interesses semelhantes, mesmo se alheios ao mainstream. A capacidade de mobilizaûÏûÈo, com capilaridade e velocidade de divulgaûÏûÈo com baixo custo, talvez seja a maior mudanûÏa do modus operandi organizacional entre o modelo analû°gico e o digital, impulsionado pelas redes sociais, acarretando novo estilo de cidadania ativa e novos perfis de agentes polûÙticos. No entanto, tais eventos muitas vezes geram apenas uma aûÏûÈo performûÀtica mal ensaiada e sem maiores consequûˆncias; daûÙ a denû¤ncia do slackativismo [1]. O ãativismo de Facebookã seria, entûÈo, um ativismo preguiûÏoso ou de preguiûÏosos.
Ativismo de Facebook
O ãativismo de Facebookã, como nova forma de aûÏûÈo polûÙtica, ûˋ um ãacontecimentoã, isto ûˋ: algo que paradoxalmente irrompe historicamente e rompe com uma tradiûÏûÈo histû°rica; no caso, uma tradiûÏûÈo de como se fazer polûÙtica. Compreende-se, portanto, a resistûˆncia de militantes formados na dûˋcada de 80. Acautelemo-nos, porûˋm, da ãdoenûÏa histû°ricaã, que impede o paradoxo do acontecimento. Em sua obra de juventude Sobre a utilidade e a desvantagem da Histû°ria para a vida, Nietzscheô defendia que o excesso de sentido histû°rico da consciûˆncia moderna se fixa no passado ou em sistemas lû°gicos de pensamento, cujos axiomas e chaves interpretativas filtram a leitura que se faz da ãhistû°riaã, impedindo de se ver o novo que ãaconteceã no presente. Portanto, embora o ativismo digital traga riscos democrûÀticos, tambûˋm oportuniza possibilidades, mas sû° percebe isso quem se abre û irrupûÏûÈo do novo. Um exemplo dessas possibilidades ûˋ a recente interface entre militantes e ativistas. A criaûÏûÈo do site Vamos! Sem Medo de Mudar o Brasilô articula movimentos sociais que se abriram para uma incomum horizontalidade na participaûÏûÈo polûÙtica de jovens em rede social, com ûˆnfase em nûÈo militantes, indispostos a se adaptarem a estruturas hierarquizadas.
IHU On-Line - Qual ûˋ o impacto desse tipo de postura e atitude na polûÙtica? Quais os limites e possibilidades desses ativismos na formaûÏûÈo polûÙtica e no aprofundamento da democracia?
Marcelo Barreira - Para se avaliar consistentemente o impacto da ãposturaã e ãatitudeã polûÙtica trazida pelo ãativismo de Facebookã, carece de assentar a poeira da novidade numa mûˋdia ou longa duraûÏûÈo do tempo. Precisamos da paciûˆncia do conceito para uma elaboraûÏûÈo teû°rica mais consistente. Em curta perspectiva, diria que a alianûÏa entre democracia, polûÙtica, economia e tecnologia carrega infinitas possibilidades, socialmente sustentûÀveis ou nûÈo.
De inûÙcio, haveria dois eixos interpretativos para o ãativismo de Facebookã: 1) seria uma intervenûÏûÈo sem maiores consequûˆncias ou 2) seria como uma agulha de acupuntura que causa impactos transformadores no sistema nervoso central de nossa teia de comunicaûÏûÈo virtual quando uma postagem se viraliza. Desconfiamos que provavelmente as duas interpretaûÏûçes sejam factûÙveis. O ãativismo de Facebookã nûÈo ûˋ necessariamente a encarnaûÏûÈo nem do bem nem do mal, mas, ainda que no futuro possa ser diferente, tendo a pensar que a interpretaûÏûÈo 1 seja a mais frequentemente constatûÀvel.
Quanto û s mudanûÏas polûÙticas efetivas, nem sempre as hashtags com slogans polûÙticos surtem resultado, o que nos acaba frustrando. Embora tenha aglutinado diversas forûÏas polûÙticas, a atual campanha virtual pelo #ForaTemerô nûÈo causa cû°cegas aos grupos encastelados no poder estatal, apesar dos fortes indûÙcios de corrupûÏûÈo e das inû¤meras investigaûÏûçes em curso. Antes, contudo, houve campanhas no Facebook que galvanizaram mû¤ltiplas lutas e, apesar de um efeito e resultado relativos, foram relevantes, como a ãOnde estûÀ o Amarildo?ã, contra a violûˆncia policial. No ano passado, cada ocupaûÏûÈo de escola em resistûˆncia û aprovaûÏûÈo da entûÈo MP do Ensino Mûˋdio tinha uma pûÀgina no Facebook com a programaûÏûÈo do dia e com solicitaûÏûçes de mantimentos e de oficinas.
Campanha paradigmûÀtica
Uma campanha paradigmûÀtica foi quando diversos usuûÀrios trocaram seus sobrenomes no Facebook para ãGuarani KaiowûÀã em solidariedade aos indûÙgenas ameaûÏados por uma decisûÈo judicial de retirada da Aldeia Passo Piraju, na cidade de Iguatemi/MS. Essa solidariedade deu visibilidade û causa indûÙgena, ecoando e multiplicando sua voz, a ponto de grandes jornais do Rio e de SûÈo Paulo enviarem correspondentes atûˋ o local de conflito. Houve efetivamente um processo de radicalizaûÏûÈo democrûÀtica nessa campanha.
O Facebook se tornou, sobretudo, uma arena de debates e um precûÀrio laboratû°rio de democracia. Mesmo se os debates sejam entre pessoas e grupos do mesmo espectro polûÙtico ou se transformem num lanûÏamento mû¤tuo de anûÀtemas na busca de se afirmar as prû°prias teses e nûÈo de se abrir û pertinûˆncia relativa dos pontos de vista contraditû°rios, hûÀ internautas que acompanham ãde foraã o debate para formarem suas prû°prias convicûÏûçes polûÙticas. Vejamos o debate sobre ãapropriaûÏûÈo culturalã pelo uso de um sûÙmbolo negro, o turbante, por uma branca; ou a polûˆmica sobre o comentûÀrio crûÙtico de Johnny Hooker sobre Ney Matogrosso; alûˋm da controvûˋrsia mais recente: sobre o machismo na letra da mû¤sica ãTua cantigaã, de Chico Buarque. De qualquer modo, para alûˋm da militûÂncia institucional e da mera leitura de debates on-line, o locus de politizaûÏûÈo sûÈo os desconfortos das ruas e praûÏas, onde se conjugam atritos e mobilizaûÏûçes.
IHU On-Line - Por que o senhor afirma que o ãFacebook ûˋ performaticamente contraditû°rio como a teoria universal-pragmûÀtica de Habermasã?
Marcelo Barreira - Retomo a observaûÏûÈo do ex-prefeito Fernando Haddad em seu propalado texto na Revista PiauûÙ: ãAcho que as redes sociais estûÈo mais para Luhmann do que para Habermas. Quero dizer com isso que a ûˆnfase dada pelo filû°sofo alemûÈo Jû¥rgen Habermas û s possibilidades de participaûÏûÈo polûÙtica proporcionadas pela modernidade talvez tenha sido exagerada. E que a visûÈo mais pessimista de seu conterrûÂneo, o sociû°logo Niklas Luhmann, seja mais adequada ao mundo de hoje. De acordo com Luhmann, o advento da rede social representa uma ruptura radical entre a emissûÈo e a recepûÏûÈo da mensagem (...). O ponto, segundo ele, ûˋ que hoje a reputaûÏûÈo do emissor, a origem da informaûÏûÈo, perdeu relevûÂncia. A tûˋcnica, diz Luhmann, ãanula a autoridade da fonte e a substitui pelo irreconhecûÙvel da fonteã. ã
NûÈo discutirei aqui elementos tûˋcnicos e exegûˋticos dos pensamentos de Habermas e de Luhmann. Pretendo partir dos posicionamentos de Haddad para tecer algumas consideraûÏûçes. Ele faz as afirmaûÏûçes acima num contexto de anûÀlise das jornadas de junho. No entanto, sua percepûÏûÈo confirma os preconceitos da velha esquerda diante do novo. Haddad considera paradigmûÀtica a leitura iluminista de Habermas sobre a democracia, mas critica seu idealismo com um argumento elitista de Luhmann: a perda de centralidade polûÙtica da autoridade da fonte. A autoridade da fonte vem da proximidade das grandes corporaûÏûçes midiûÀticas com o poder. Acompanho Fabio Malini na anûÀlise de que a centralidade das notûÙcias, hoje, protagoniza-se pelos compartilhamentos e debates que surgem democraticamente entre os internautas, gerando os famosos trending topics do Twitter.
No tocante û citaûÏûÈo feita na pergunta, Habermas acusa a tantos como contraditoriamente performûÀticos, posto que, ao discordar de suas posiûÏûçes, nûÈo haveria como negar uma argumentaûÏûÈo de amplitude universal, como preconiza. Repito que nûÈo pretendo discutir a posiûÏûÈo habermasiana, mas simplesmente apontar como a equipe de Mark Zuckerbergô participa de um igual padrûÈo teû°rico. Habermas e Zuckerberg se situam por convicûÏûÈo e contexto sob o influxo da tradiûÏûÈo liberal, com ûˆnfase no indivûÙduo autûÇnomo. Embora haja diversos liberalismos e isso seja um tema complexo, sublinhe-se o carûÀter de neutralidade axiolû°gica do liberalismo de heranûÏa kantiana, sob o qual Habermas e o Facebook se alinham. Ademais, o liberalismo habermasiano ûˋ filosû°fico, isto ûˋ, seu componente de universalidade em favor de um governo mundial de uma suposta comunidade global traz uma impostaûÏûÈo metafûÙsica alheia a contextos histû°rico-culturais nûÈo ocidentais que nûÈo se encaixam na tradiûÏûÈo liberal.
Marketing social do Facebook
Nessa linha, o marketing social do Facebook consiste na proposta de ser um ambiente favorûÀvel û interaûÏûÈo livre e plural entre usuûÀrios individuais. Num cenûÀrio temeroso de Trump e suas muralhas, a agenda polûÙtica de Zuckerberg ûˋ a de um ideal tecnocrûÀtico capitaneado pelos herû°is do Facebook. Ilustremos isso com a iniciativa de permitir 40 milhûçes de pessoas em paûÙses da Amûˋrica Latina, ûfrica e ûsia se conectarem gratuitamente û internet pela plataforma Internet.org, em parceria com empresas de telecomunicaûÏûÈo. No entanto, limitar o acesso û informaûÏûÈo on-line exclusivamente pelo Facebook e pela Wikipûˋdia macula a neutralidade da web. Essa iniciativa, portanto, nûÈo ûˋ tûÈo filantrû°pica quanto parece. Ela ûˋ uma estratûˋgia mercadolû°gica por conta da ampliaûÏûÈo de usuûÀrios que torna desproporcional o poder do Facebook perante outras plataformas de informaûÏûÈo e relacionamento.
Sob a mûÀscara filantrû°pica de se aproximar indivûÙduos autûÇnomos e diferentes num ambiente neutro quanto ao teor de suas postagens, o custo para a inovaûÏûÈo tecnolû°gica exige financiamento e os acionistas em Wall Street visam sempre a um maior lucro. Com a meta de percorrer 30 dos 50 Estados americanos neste ano, numa ainda velada campanha û presidûˆncia norte-americana em 2020, Mark Zuckerberg cruza a linha e ameaûÏa a democracia ao ambicionar funûÏûçes governamentais de uma empresa que, segundo analistas, nûÈo cumpre suas responsabilidades morais, legais e fiscais, alûˋm de fazer lobby contra a transparûˆncia e o controle social da internet. Assim, no dia 16 de fevereiro deste ano, Zuckerberg publicou um manifesto em seu perfil no Facebook em defesa da construûÏûÈo da comunidade global. Alûˋm da jactûÂncia de propor o que o mundo deve fazer, exportando um modelo especûÙfico de democracia liberal, a ûˆnfase do manifesto ûˋ a globalizaûÏûÈo e a seguranûÏa. Essa proposta ûˋ perigosa, pois manter a infraestrutura de seguranûÏa global de nossos dados pelo Facebook seria como a raposa cuidando do galinheiro.
AmeaûÏa do Facebook û democracia
A maior ameaûÏa do Facebook û democracia ûˋ que a empresa nûÈo sû° cataloga preferûˆncias polûÙticas e culturais, mas as molda e administra conforme seus interesses de mercado, a ponto de manipular as emoûÏûçes de 700 mil pessoas para uma pesquisa publicada em 2014 sobre perfis psicolû°gicos no uso das redes sociais. Do mesmo modo em que o secularizado Habermas se coloca num lugar privilegiado ao exigir que religiosos traduzam seus conteû¤dos na esfera pû¤blica secularizada, a universalidade da equipe de Zuckerberg pressupûçe um modelo universal afeito û comunidade cultural em que sua equipe se contextualiza; os prû°prios valores comunitûÀrios sûÈo, portanto, ampliados, dando um verniz de ãuniversalidadeã. Seria a universalidade do liberalismo ocidental, de impostaûÏûÈo normativa e com um modelo exclusivista de argumentaûÏûÈo racional.
O elemento pragmûÀtico e contextual, no Facebook, abrir-se-ia û s especificidades de costumes e racionalidades locais, o que seria um aspecto emancipatû°rio da necessidade de ampliaûÏûÈo do mercado. Afinal, ao estimular um maior nû¤mero de usuûÀrios, o Facebook acaba dando voz a minorias ûˋtnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estûˋticas, pluralizando e divulgando uma infinidade de histû°rias que complexificam a vida sociocultural pela democratizaûÏûÈo de sûÙmbolos. No entanto, uma padronizaûÏûÈo de gostos e homogeneizaûÏûÈo algorûÙtmica de formas de vida contribuem com um novo modelo de negû°cio, o capitalismo de plataformas, tendo como efeito colateral a exposiûÏûÈo de indivûÙduos inconformados ou desajustados aos padrûçes culturais ou û s visûçes de mundo estabelecidos como critûˋrios de julgamento moral em determinada comunidade cultural formatada digitalmente ã deixando-os vulnerûÀveis aos outros usuûÀrios e û s autoridades locais. Em sintonia com essa mesma lû°gica e por analogia, Eli Pariser, em Filter Bubble, aponta o descompasso no resultado da busca pela palavra ãEgitoã no Google, em que alguns usuûÀrios recebem informaûÏûçes sobre revoltas e, outros, apenas sobre fûˋrias nas pirûÂmides, tudo em funûÏûÈo do diagnû°stico algorûÙtmico de seu comportamento prûˋvio.
HûÀ problemas de contradiûÏûÈo performûÀtica no Facebook nas duas pontas: na universalidade normativa e no contexto pragmûÀtico.
IHU On-Line - Como o senhor compreende dois fenûÇmenos que parecem ocorrer juntos: de um lado, um exibicionismo e fornecimento de informaûÏûçes pessoais nas redes e, de outro, uma crûÙtica û vigilûÂncia e uma submissûÈo que se dûÀ pela rede?
Marcelo Barreira - Esses dois fenûÇmenos nûÈo acontecem para todos os usuûÀrios e nem estûÈo sempre associados entre si. NûÈo existe uma maneira exclusiva de os 2 bilhûçes de usuûÀrios usarem o Facebook. No entanto, pressupondo a sinceridade de intenûÏûçes (descartando trollers e haters), cadastra-se numa rede social para se interagir com outros, em vista de crescimento e valorizaûÏûÈo mû¤tuas. Vejo trûˆs tipos de interesse.
1) O interesse no aprofundamento de relaûÏûçes com amigos e familiares. Para estes, que pretendem restringir seus contatos apenas û s relaûÏûçes de afeto com familiares e amigos ã de infûÂncia ou da û¤ltima mesa de bar ã, num uso prû°ximo ao mundo off-line, terûÀ dispositivos para dificultar o acesso de desconhecidos a seu perfil.
2) O interesse numa popularidade pela ostentaûÏûÈo de bens de consumo, incluindo viagens e atûˋ o prû°prio corpo. O Facebook ûˋ um lugar privilegiado para ãver e ser vistoã, o que ûˋ um interesse legûÙtimo. Seria, entûÈo, a mûÀxima inversûÈo do diûÀrio ûÙntimo, cujo cadeado escondia as sutilezas da subjetividade de alguûˋm. InversûÈo que permite ajudar alguûˋm com depressûÈo ou aprofundûÀ-la pelo efeito de comparaûÏûÈo com a bela vida editada de outros perfis. Considero preocupante quando a obsessûÈo pelo reconhecimento social passa a ser estratûˋgica, com o uso atûˋ de softwares para a mediûÏûÈo e incremento da popularidade. Sabemos que o Facebook pode ser um ativo para uma empresa ou pessoa, como ûˋ para um youtuber, capitalizando anunciantes para seu blog ou pûÀgina virtual, que permite novos trabalhos ou novas experiûˆncias e partilhas sobre temas especûÙficos.
3) O interesse em influenciar num debate mais amplo com suas opiniûçes e ideias, seja ponderando de modo idiossincrûÀtico sobre diversos assuntos ou, de modo mais assertivo politicamente, municiando companheiros no tiroteio polûÙtico contra inimigos polûÙtico-ideolû°gicos. Afinal, a opiniûÈo pû¤blica ûˋ a opiniûÈo que se publica. E um dos pontos de anûÀlise crûÙtica, ou metacrûÙtica, pode ser o prû°prio ambiente do Facebook, seja para melhorûÀ-lo ou minûÀ-lo por dentro. Independente da viabilidade e relevûÂncia de tais crûÙticas, isso seria, paradoxalmente, o que hûÀ de mais salutar no Facebook.
IHU On-Line - NûÈo lhe parece, digamos, contraditû°rio as pessoas reclamarem da vigilûÂncia û qual estûÈo submetidas na rede, mas, ao mesmo tempo, disponibilizarem uma sûˋrie de informaûÏûçes pessoais por sua prû°pria vontade? Ou as pessoas sequer tûˆm noûÏûÈo dessa vigilûÂncia em rede?
Marcelo Barreira - Arrisco dizer que a maioria dos usuûÀrios brasileiros, pelo menos, temem mais a vigilûÂncia social do que a vigilûÂncia corporativa e governamental; e se hûÀ vigilûÂncia no Facebook seria feita por seu cûÙrculo de ãamigosã, com indiscriûÏûçes e conflitos, mas nûÈo a empresa Facebook. Caso esteja certo, nûÈo haveria propriamente uma contradiûÏûÈo. A contradiûÏûÈo pressupûçe posiûÏûçes antagûÇnicas numa linearidade argumentativa. Se o usuûÀrio comum, como perante outras expressûçes da indû¤stria cultural, nûÈo elabora uma reflexûÈo crûÙtica, em especûÙfico, sobre o uso corporativo de seus dados pelo ãFaceã, tambûˋm nûÈo hûÀ contradiûÏûÈo, o que hûÀ sûÈo insatisfaûÏûçes sobre alteraûÏûçes no ambiente da plataforma. Minha percepûÏûÈo ûˋ que as reclamaûÏûçes seriam direcionadas mais û s pessoas do que û plataforma digital pela qual ela interage socialmente. Infelizmente, considero que o grosso dos usuûÀrios nûÈo tem noûÏûÈo da vigilûÂncia empreendida por governos e empresas nas redes sociais.
IHU On-Line - De que modo os algoritmos moldam e formam ãum tipo de modus operandiã? De outro lado, ûˋ possûÙvel dizer que esse ãmodus operandiã potencializado pelos algoritmos jûÀ constitui os indivûÙduos?
Marcelo Barreira - Os algoritmos influenciam um modus operandi, tanto no mundo dos negû°cios e da polûÙtica, quanto na forma de gerenciamento da vida individual, elemento principal da pergunta. Em princûÙpio, algoritmos nûÈo formam indivûÙduos, mas indivûÙduos produzem dados algorûÙtmicos. Essa condiûÏûÈo ãnaturalã ûˋ subvertida quando pessoas plasmam sua individualidade conforme uma melhor performance algorûÙtmica. Imaginemos alguûˋm que visa maior empregabilidade e cuida milimetricamente do teor de suas postagens no Facebook; isso sû° mostraria o engessamento de um perfil sem vida e sob medida para os interesses valorativos do mercado.
A maior ameaûÏa do Facebook a nosso modus operandi individual ûˋ que a empresa nûÈo sû° cataloga preferûˆncias polûÙticas e culturais de cada um de seus usuûÀrios, mas as molda e administra conforme seus interesses de mercado. Para construir artificialmente um mundo agradûÀvel para quem usa e para quem anuncia no Facebook, essa empresa convenientemente exclui nudes, mas aceita mentiras, û°dios raciais e sexuais, sob a desculpa da ãliberdade de expressûÈoã de um grupo social. Percebe-se aûÙ a conveniûˆncia do que ûˋ de interesse do pû¤blico, sem a preocupaûÏûÈo com o interesse pû¤blico em defesa de uma intensificaûÏûÈo democrûÀtica.
O fascismo soube dominar as tûˋcnicas de ãestetizaûÏûÈo do polûÙticoã, conforme a expressûÈo de Walter Benjamin. Um risco que persiste hoje quando a ãformaûÏûÈoã sobre diversos temas ûˋ feita por memes e frases veiculados nas redes sociais. Caberia uma posiûÏûÈo mais crûÙtica do usuûÀrio comum sobre seu uso e consumo de informaûÏûçes pelas redes sociais. A maior dificuldade seria a mûÙdia em geral e o Facebook em particular criarem espaûÏos de anûÀlises crûÙticas sobre si mesmo. Algo pouco provûÀvel, atûˋ porque as consequûˆncias efetivas deveriam ser uma maior transparûˆncia de seus processos de validaûÏûÈo das fontes e, principalmente, o estabelecimento democrûÀtico e plural de caminhos pû¤blicos de controle social, como a UniûÈo Europeia fez recentemente ao aplicar uma multa recorde de R$ 8,9 bilhûçes ao Google por abuso de poder de mercado.
IHU On-Line - Em um comentûÀrio recente o senhor afirmou que nû°s ãnos submetemos û Rede Social por antonomûÀsiaã. Por que isso ocorre? Que outra postura poderia se adotar em relaûÏûÈo û s redes?
Marcelo Barreira - Apesar da generalizaûÏûÈo do termo, ter uma conta no Facebook nûÈo significa uma submissûÈo û plataforma do Facebook. Como foi colocado antes, sûÈo vûÀrios os motivos de se ter um perfil na rede social, mas nenhum deles seria para se submeter conscientemente ao Facebook. Apesar disso, hûÀ, sim, uma comum e ingûˆnua submissûÈo sem saber que se submete; em tese, poderia atûˋ hipoteticamente haver uma submissûÈo estratûˋgica, aproveitando-se da ferramenta contra o prû°prio papel sociopolûÙtico que ela deseja estabelecer, usando para finalidades ideolû°gicas distintas de seu fundador.
Escapar do uso de dados pelas empresas e grupos polûÙticos parece um esforûÏo inû¤til e destinado û frustraûÏûÈo para quem se apropria cotidianamente das novas tecnologias de informaûÏûÈo. O horizonte distû°pico nos ameaûÏa, especialmente com algoritmos crescentemente complexos, afinados e treinados por sensores de personalizaûÏûÈo com altûÙssimo ûÙndice de acerto. Lembro, contudo, de que a essûˆncia da tûˋcnica ûˋ o que nû°s humanos fazemos de nosso destino. NûÈo somos refûˋns da tûˋcnica, nem dos empresûÀrios e governantes que financiam e se aproveitam da ciûˆncia e da tûˋcnica para selecionar estrategicamente alguns consumidores e eleitores em detrimento de outros.
Os impactos globais dos paradigmas cientûÙfico-tecnolû°gicos nûÈo sûÈo o ponto final da histû°ria. Numa discussûÈo mais conceitual sobre o acontecimento da emergûˆncia das novas tecnologias de informaûÏûÈo, articulemos Martin Heidegger e Walter Benjamin para propor uma compreensûÈo estûˋtica do deslocamento trazido pelo ãefeito de choqueã. Do mesmo modo em que houve um deslocamento e um ãefeito de choqueã trazido pelo cinema diante da postura contemplativa da obra de arte aurûÀtica, tambûˋm o fenûÇmeno das redes sociais, ao contrûÀrio da conversûÈo a um bloco institucional de ideias, estimula uma interaûÏûÈo de baixo para cima. Pautada pelo afeto, mas tambûˋm por ideias e valores, cria-se uma conexûÈo idiossincrûÀtica de redes de amigos, indivûÙduos ãsoltosã (um tipo de redundûÂncia) e pequenos coletivos, que se multiplicam ã conexûÈo virtual que se espelhou presencialmente no estilo das megamanifestaûÏûçes de junho de 2013.
A ãhorizontalidadeã dessa postura afetivo-ideolû°gica, potencializada algoritmicamente, de outro lado, traz o risco democrûÀtico de isolar as pessoas e os grupos em bolhas excludentes ao atrito e ao contraditû°rio. A questûÈo ûˋ a circularidade do ãefeito Tostinesã, a ser mais bem pesquisado: o algoritmo restringe a interaûÏûÈo social ou a interaûÏûÈo social off-line se desdobra na bolha algorûÙtmica? Compreendamos esse paradoxo a partir do Ge-Stell. Esse conceito heideggeriano evoca a imposiûÏûÈo trazida pela tûˋcnica em nossa modernidade tardia. ImposiûÏûÈo ambûÙgua, visto que a essûˆncia (Wesen) da tûˋcnica nûÈo ûˋ tûˋcnica. Na esteira do resgate da üöÙüö§öñ, de seu sentido originûÀrio, a essûˆncia da tûˋcnica nûÈo se esgota no modelo instrumental de racionalidade moderna. A tûˋcnica, em seu sentido originûÀrio, seria acontecimento-apropriaûÏûÈo (Ereignis), realizando e aprofundando a imposiûÏûÈo tûˋcnica para alûˋm dela, como uma nova possibilidade de constituiûÏûÈo de mundo, a serviûÏo do humano.
IHU On-Line - O senhor tambûˋm disse que o Facebook ãvibraã com os likes, mas que ãa democracia nûÈo cabe nos algoritmosã. Pode desenvolver essa ideia?
Marcelo Barreira - Os likes sûÈo os combustûÙveis mais simples da interaûÏûÈo social pelo Facebook, mas ûˋ preciso sair da zona de conforto ideolû°gico feita pela prû°pria timeline e pelo feed de notûÙcias para construir a democracia. A democracia se intensifica mais nos atritos do contraditû°rio do que nos algoritmos que minimizam conflitos em prol de uma maior harmonia social, alimentada por likes.
A tecnologia nûÈo ûˋ, por si sû°, antidemocrûÀtica, embora tambûˋm nûÈo seja necessariamente democrûÀtica. Ao afirmar que a democracia nûÈo cabe nos algoritmos nûÈo ûˋ jogar fora a ûÀgua suja com o bebûˆ. Devemos elogiar a proposta de Zuckerberg de um novo contrato social por uma renda bûÀsica universal, feita no discurso aos formandos deste ano em Harvard. Logo, nossa crûÙtica nûÈo ûˋ sistemûÀtica, mas nûÈo hûÀ como se render û ausûˆncia de neutralidade nos conteû¤dos que nos chegam filtrados pelo Facebook. û muito grave politicamente reconhecer que os algoritmos das redes sociais mentem ou manipulam. HûÀ softwares que aprendem a mentir para aperfeiûÏoar o alcance de seus resultados, como a venda de produtos.
Com a atual inovaûÏûÈo tecnolû°gica no volume e imediatez na obtenûÏûÈo de dados, nosso histû°rico de compras permite uma avaliaûÏûÈo de crûˋditos em segundos, mas o risco maior nesse processo de coleta e processamento de dados ûˋ o ajuste nas formas sutis de convencimento do usuûÀrio. Os dados hoje sûÈo a grande ferramenta econûÇmica e polûÙtica. Isso permitiu a Cambridge Analytica influenciar politicamente no referendo do Brexitô e fazer 340 mil pessoas irem û s urnas nas û¤ltimas eleiûÏûçes presidenciais dos EUA. Em nosso paûÙs, o uso de bots sociais ã robûÇs que se comportam como usuûÀrios ã determinou movimentos polûÙticos como as manifestaûÏûçes prû°-impeachment e as eleiûÏûçes municipais de 2016; por exemplo, 3,5 mil contas falsas no Twitter atacaram a candidatura de Marcelo Freixo a prefeito do Rio.
O usuûÀrio comum do Facebook consegue um limitado alcance com suas postagens. Por isso, o Facebook, por si sû°, nûÈo ûˋ um veûÙculo de intensificaûÏûÈo da democracia. Ele ûˋ apenas um arremedo de esfera pû¤blica que prepara as aûÏûçes emancipatû°rias da mais consistente esfera pû¤blica, a que dialoga com o mundo virtual mas centra sua aûÏûÈo fora do Facebook, em aûÏûçes presenciais.
IHU On-Line - Como avanûÏar em termos de discussûÈo polûÙtica e fortalecimento da democracia para alûˋm das postagens e dos likes nas redes sociais, mas sem rejeitar o ambiente das redes sociais, hoje muito presente nas formas de vida do nosso tempo?
Marcelo Barreira - Responderei û sua pergunta a partir do cûˋlebre cartaz com os dizeres ãsaûÙ do Facebookã, muito comum nas jornadas de junho de 2013. O cartaz evocava a conquista que foi a ida û s ruas dos ãativistas de Facebookã. Quem, no entanto, empunhava tais cartazes: os militantes que denunciavam os ativistas ou os prû°prios ativistas? Seria a ãsaûÙda do Facebookã uma bandeira como outros mû¤ltiplos cartazes nessas megamanifestaûÏûçes ou seria a principal? Seja como for, a ãsaûÙda do Facebookã ûˋ uma questûÈo polûÙtica a ser discutida. Se cada cartaz for uma bandeira singular de luta inscrita numa multidûÈo anûÇnima e sem hierarquia fixa, para eles se comunicarem entre si e nûÈo se isolarem na diversidade de cosmovisûçes e interesses ûˋ preciso uma perspectiva de construûÏûÈo democrûÀtica em espaûÏos coletivos e presenciais.
O grande desafio ûˋ articular o digital com o analû°gico, em todas as esferas da vida, atûˋ porque essa interseûÏûÈo simboliza nossa ûˋpoca, chamada ãEra dos Algoritmosã. Talvez o rû°tulo seja excessivo, mas diante da banalidade do uso do Facebook, convûˋm saber lidar com os algoritmos, pois eles vieram para ficar em todos os campos de nossas vidas. Nossa sensibilidade diante do mundo, contudo, plasma-se por encontros significativos de partilha e hûÀbitos de aûÏûÈo, que se realizam especialmente no ambiente analû°gico. Um encontro e reuniûÈo exige dos participantes a capacidade de usar analogicamente o tempo para ouvir e falar. Celulares atûˋ atrapalhariam nesse tempo de escuta, embora, num segundo momento, haja compartilhamento desse evento pelas plataformas digitais.
Mesmo sendo possûÙvel ser um ativista que usa o Facebook para suas causas, esse ativismo se limitarûÀ fortemente se nûÈo for alûˋm dessa ferramenta para o front presencial e analû°gico da convivûˆncia humana e da luta polûÙtica. As redes e as ruas hûÈo de se dialetizar sempre mais. O lema ãSaûÙmos do Facebookã ûˋ relativo, pois se alcanûÏamos a rua apû°s uma convocaûÏûÈo on-line, a rua, por sua vez, oportunizarûÀ postagens virtuais.
IHU On-Line ã Deseja acrescentar algo?
Marcelo Barreira - O aplicativo Sarahahô [2]ô propûçe algo novo: receber comentûÀrios, crûÙticas e elogios sob a forma anûÇnima. Esse aplicativo nûÈo apresenta a ambiguidade de outras redes sociais, como o Facebook. Alûˋm de enfatizar a relaûÏûÈo meramente individual, sem a possibilidade de realizaûÏûÈo de campanhas e promoûÏûÈo de eventos, vende a imagem de que seria um novo anel de Giges. PlatûÈo relata quando o pastor Giges, ao encontrar um anel da invisibilidade, revela a sua autûˆntica moralidade. O mesmo aconteceria com aqueles que, diante da certeza do anonimato, revelariam seus reais pensamentos e interesses. Apesar da retû°rica do marketing, o aplicativo mostrarûÀ nûÈo a ãnatureza humanaã, mas facilitarûÀ sobretudo o esgarûÏamento das relaûÏûçes sociais. Apontar o dedo de acusaûÏûÈo contra outros nûÈo gera real compromisso com o crescimento pessoal de alguûˋm.
Notas:
[1]ô Slacktivism: Neologismo da lûÙngua inglesa que significa ativismo preguiûÏoso. (Nota da IHU On-Line)
[2]ô Sarahah ûˋ uma rede social e um aplicativo de mensagens anûÇnimas que tem como objetivo permitir que os usuûÀrios enviem suas opiniûçes sobre as atitudes das pessoas com as quais estûÈo em contato, tanto no ûÂmbito profissional quanto no pessoal. A proposta do aplicativo ûˋ fazer com que as pessoas descubram, de um lado, seus pontos fortes e, de outro, aqueles que devem ser melhorados, atravûˋs de comentûÀrios honestos que recebem de seus colegas de trabalho, no ûÂmbito profissional, e de amigos e familiares, no ûÂmbito pessoal. A palavra sarahah significa honestidade em ûÀrabe e o aplicativo foi desenvolvido por ZainAlabdin Tawfiq. Aproximadamente 300 milhûçes de usuûÀrios utilizam o aplicativo. (Nota da IHU On-Line)
ô
Leia mais
- Sociabilidade 2.0 RelaûÏûçes humanas nas redes digitais. Revista IHU On-Line, Nô¤. 502
- Cidadania vigiada. A hipertrofia do medo e os dispositivos de controle. Revista IHU On-Line, Nô¤. 495
- O ûÙcone e a caricatura
- Quando as redes sociais favorecem um ãativismo preguiûÏosoã
- O 15-M brasileiro tem o Facebook como plataforma ativista
- Internet potencializa experiûˆncia de movimentos sociais
- ãAs plataformas digitais deram um novo gûÀs para o ativismo polûÙticoã
- Breves do Facebook
- O gosto na era do algoritmo. As sugestûçes de plataformas como Netflix e Spotify elevam o risco de homogeneizaûÏûÈo da identidade
- As manifestaûÏûçes renovarûÈo os mecanismos existentes ou criarûÈo novos? Entrevista especial com Rodrigo Nunes
- 4 anos das Jornadas de Junho: como a militûÂncia polûÙtica se transformou?
- Por que o Facebook deveria nos pagar uma renda mûÙnima
- ãO problema ûˋ que damos todo o poder para plataformas como Google e Facebookã
- Como os tentûÀculos do Facebook alcanûÏam mais longe do que vocûˆ imagina
- û hora de sair do Facebook e da internet?
- Do Brexit a Trump: como o Facebook pode estar se tornando decisivo em eleiûÏûçes
- Facebook negocia dados de milhûçes de jovens emocionalmente vulnerûÀveis
- Qual ûˋ o plano do Facebook para dominar o mundo?
- Prezado Mark Zuckerberg: Democracia nûÈo ûˋ um grupo de discussûÈo no Facebook
- Quanto dinheiro o Facebook ganha com vocûˆ (e como isso acontece)
- ãFacebook e Apple poderûÈo ter o controle que a KGB nunca teve sobre os cidadûÈosã
- A bolha do Facebook e a astû¤cia do capitalismo
- O Facebook, muito alûˋm do arco-ûÙris
- A era do algoritmo. Empresas e governos "veem" sem serem vistos, agem sem serem percebidos. Entrevista especial com Paulo Cûˋsar Castro
- O Facebook mudou o mundo para sempre
- NegociaûÏûçes entre os gigantes da web: ão nome do jogo ûˋ controleã. Entrevista especial com Pedro Rezende
- A silenciosa batalha dos algoritmos
- Redes sociais querem se transformar em currais do trabalho imaterial. Entrevista especial com Henrique Antoun
- Algoritmos: nûÈo nos largam e reduzem o mundo que vemos na Net
- Como empresas de internet armazenam o que elas sabem sobre vocûˆ?
- O emergente Hegemon. A guerra de "4a. geraûÏûÈo" e a implantaûÏûÈo do regime dominante de vigilantismo global. Entrevista especial com Pedro Rezende
- BilionûÀrios do setor de tecnologia embarcam no movimento da renda bûÀsica universal