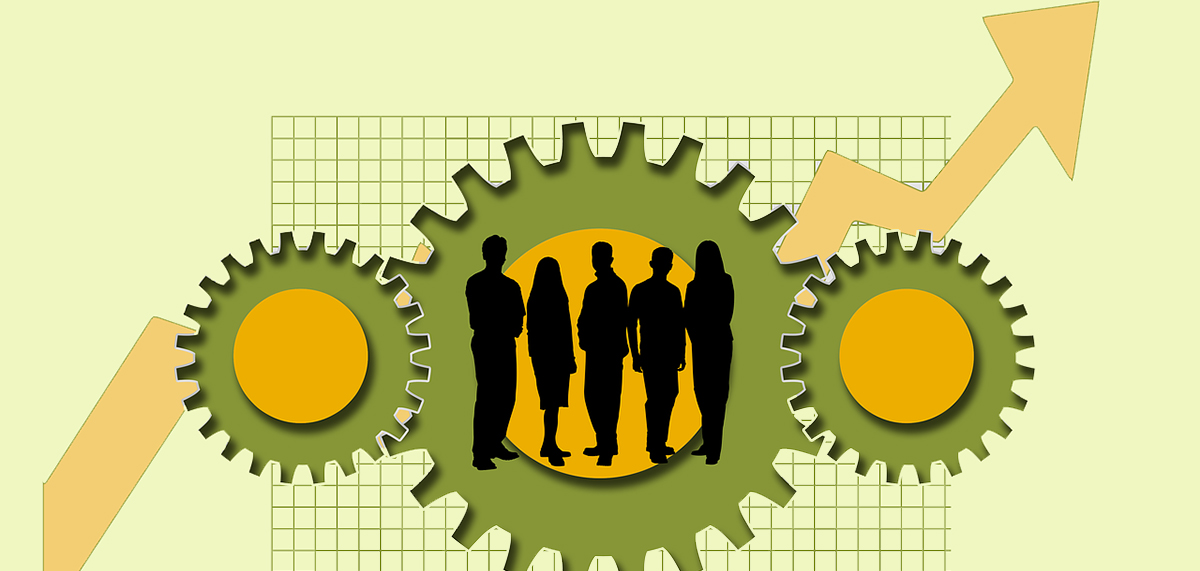09 Mai 2018
"Questionávamos nas ruas o trabalho alienado, o poder piramidal, o controle cotidiano da vida. Capitalismo reciclou-se — apenas para se tornar mais opressor. Mas a última palavra não foi dita", escreve Concessa Vaz, economista e doutora em História Econômica pela USP, em artigo publicado por Outras Palavras, 06-05-2018.
Eis o artigo.
“Métro, boulot, dodo” (metrô, trabalho e cama), resumia o dito popular, extraído de um verso de Pierre Béarn, de 1956, e repetido monotonamente pelos integrantes do movimento estudantil, que, tendo se iniciado na Universidade de Nanterre, naquele início do ano de 1968, se alastrou rapidamente por toda Paris, alcançando a Sorbonne, todo o Quartier Latin, a Cidade Universitária Internacional e, em poucas semanas, as principais províncias francesas.
“Que tipo de vida é essa?” bradava em eco um jovem operário mais adiante, acenando aos estudantes e trazendo para seu cortejo milhares de outros operários e profissionais de todas as áreas, compartilhando com aqueles suas angústias e aflições.
Era a própria ordem social que estava em jogo e com ela a alienação a que todos estavam submetidos — a falta de significado de uma sociedade capitalista burocratizada, onde a maioria dos cidadãos levava uma existência trivial, medíocre, repetitiva, repressiva e reprimida. Toda ordem social estava sendo questionada, o estilo de vida, o quotidiano estava sob suspeita. Recusavam-se, todos, e assim clamavam, a serem “treinados como cães policiais”, a se verem convertidos de homens em objetos.
Uma árdua luta foi travada contra os patrões e o Estado. “Ni Dieu, Ni Mâitre!” (“Nem Deus, Nem Senhor!”), exclamavam os anarquistas, relembrando o lema de Auguste Blanqui, de finais do século XIX. “À Bas l’État Policier!” (“Abaixo o Estado Policial!”), gritavam outros rebeldes, selvagemente reprimidos pela força policial — a violência organizada e concentrada nas mãos do Estado, detentor do monopólio das armas.
O princípio da hierarquia, e da autoridade, prevalecente em todos as instâncias da sociedade era assim questionado – na fábrica, na família, na Universidade –, e a bandeira vermelha tremulava em todos os cantos, seguida da bandeira negra dos anarquistas, não poupando sequer o Teatro da Ópera e o fino cabaré Folies Bergères. As tricolores bandeiras francesas não estavam à vista, indicando claramente a natureza revolucionária do movimento em curso.
Os acontecimentos de maio de 1968 na França passam, para sua compreensão, pelo filtro do trabalho – a base material e econômica das ideias desenvolvidas e propagadas por seus protagonistas. Tamanho movimento, que irrompeu de forma inédita no centro de uma Europa capitalista altamente industrializada, no apogeu de um crescimento econômico por quase trinta anos ininterruptos (os “Trente Glorieuses”, segundo o economista Jean Fourastié), não pode ser reduzido a uma mera agitação da juventude, a uma contestação moral e cultural de estudantes privilegiados e “gatés” (mimados), embora tivessem sido eles, os estudantes universitários, o relâmpago que anunciava a tormenta por vir. A efervescência estudantil era antes a manifestação mais evidente ou o barômetro sensível de um descontentamento geral e de uma crise maior que já se anunciava a partir de dentro da sociedade francesa, cujas origens mais profundas pertencem ao processo geral de racionalização da produção instaurado na grande indústria capitalista em finais do século XVIII.
O período pós-1945 caracteriza-se por um forte crescimento econômico, impulsionado pelas necessidades de reconstrução de uma Europa, e de uma França em particular, mutilada por duas grandes guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945) e por uma grande crise econômica (1929), que resultou em falências, desemprego em massa e uma severa depressão de alcance mundial. Sob a dominação e financiamento dos Estados Unidos, e os estados nacionais lhes servindo de muleta, a reconstrução nacional opera-se e os capitalistas rebatizam seus impérios industriais. Abrem-se então os chamados “anos dourados”, anos de um crescimento sem precedentes e cujo combustível eram os ganhos de produtividade (produto por trabalhador) assentados no modelo taylorista-fordista de produção.
Em finais do século XIX, o engenheiro mecânico Frederic Taylor escreveu os “Princípios de Administração Científica“, um monumento a serviço da organização das empresas e da racionalização da produção e, particularmente, da administração industrial e os meios de torná-la mais eficiente. Taylor revelou os secretos requisitos educacionais/intelectuais que deviam ser exigidos dos trabalhadores para que as empresas fossem bem sucedidas competitivamente. Suas contribuições fundamentais podem ser resumidas em dois pontos, a saber:
1) as práticas de trabalho devem ser rigorosamente padronizadas a partir da análise do “melhor método” de produzir, cobrindo tanto as operações manuais quanto o tempo requerido para executá-las. Trata-se de um estudo dito científico dos “tempos e movimentos”;
2) o estabelecimento de uma rígida separação entre concepção e execução, a partir de uma escala hierárquica de ocupações rigorosamente planejada, incluindo diversos níveis de controle e supervisão do trabalho.
Com Taylor, portanto, não apenas o relógio entrava na fábrica, mas o cronômetro, caracterizando uma militarização do trabalho, batizada eufemisticamente de “organização científica do trabalho”. Os tempos e movimentos, depois de analisados, eram impostos aos trabalhadores para serem cumpridos -e uma forte estrutura hierárquica de controle e supervisão se lhes sobrevinha para garantir a produção planejada.
O salto de qualidade foi dado por Henry Ford na indústria automobilística, redesenhada por ele a partir de Taylor. Ford incorporou os princípios tayloristas de divisão do trabalho já estabelecidos e elevou ao máximo a produtividade com a intensificação acelerada do trabalho, induzida e viabilizada pela tecnologia da linha de montagem — ou seja, pela incorporação dos procedimentos na própria máquina. Assim, o aumento de produtividade se produzia pelo trabalho coletivo, altamente potencializado. Através de uma linha de montagem progressiva, os produtos padronizados e entregues à cadência de um mecanismo artificial e exterior aos trabalhadores eram elaborados com um grau de precisão tal que dispensavam “ajustes”. O ritmo rápido e estável da linha de montagem garantia a vantagem competitiva do capitalista (e, portanto, a obtenção em um patamar mais elevado de mais-valia relativa).
Com essa tecnologia, que se estendeu rapidamente para outros setores muito além da indústria automobilística, a produção se fazia em massa e em larga escala, de modo a reduzir os custos unitários, dado o elevado investimento em capital fixo (máquinas, equipamentos, plantas industriais, etc.) exigido. O fordismo, como veio a ser denominado, foi, assim, um dos motores que permitiu o pleno emprego e um aumento do nível de vida dos trabalhadores, via redução dos preços das mercadorias necessárias à sua sobrevivência e reprodução. Foi este o sistema de produção que veio a reger todo o crescimento econômico francês no pós-guerra, com sua linha de montagem e os princípios de organização do trabalho taylorista. Com uma estrutura centralizada de produção, calcada no controle do tempo e dos movimentos do trabalhador na linha de montagem, as fábricas absorviam uma massa gigantesca de operários especializados (OS), receptores de salário mínimo (SMIG), sujeitos a uma jornada semanal de trabalho de 45 horas, exercendo tarefas precisas, repetitivas, montando peças uniformizadas que desfilavam diante deles, repetindo ao infinito os mesmos gestos e se submetendo à cadência infernal da linha de montagem, embrutecidos e alienados. Sob tais condições de trabalho e vida, não iam a lugar algum com os salários que recebiam em troca, reproduzindo-se diariamente, tal como um pêndulo, diante de uma rotina cada vez menos suportável para cada cidadão-trabalhador parisiense: “métro, boulot, dodo”,
A produção em massa, ademais, deu origem a um consoante consumo de massa e transformou a sociedade, por sua vez, em um mundo de robôs, com modos de vida codificados e com rotinas rigidamente demarcadas – foi a uniformização da vida quotidiana (Henry Lefèbvre).
O mesmo princípio hierárquico da produção fordista refletia-se em universidades igualmente centralizadas, cujos reitores, tais como marionetes, deviam atender, prioritariamente, às necessidades tecnológicas do capitalismo francês, às exigências do sistema produtivo então implantado e disseminado. Não por acaso, os enfurecidos estudantes de Nanterre bradavam, já antes de Maio de 68 que não queriam ser “des chiens de garde de la bourgeoisie” (“cães de guarda da burguesia”).
O governo francês, por sua vez, estava nas mãos de um general – De Gaulle, que havia posto um fim à guerra contra a emancipação política da Argélia e comandava o país com similar austeridade, sem consultas e governando por decreto, além de exercer um enorme controle político através das mídias de então: a televisão e o rádio. Os limites de seu governo se expressavam claramente no “slogan” já trivial nas manifestações de maio: “Adieu, De Gaulle, dix ans, ça suffit” (“Adeus, De Gaulle, dez anos, basta!”).
Durante os 25 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o sistema capitalista francês escondera-se atrás da embriaguez do progresso econômico. Mas a lógica do trabalho, decorrente do regime de produção taylorista-fordista então dominante, controlava toda a vida social e humana.
Em meados dos anos 1960, esse sistema de produção começou a perder eficácia. A produtividade desacelerou, os capitalistas tentaram compensar a queda reduzindo os salários reais, degradando ainda mais as condições de trabalho, promovendo o desemprego parcial e, funestamente, acelerando as já infernais cadências da linha de montagem. Os operários, em particular a massa de especializados, revoltaram-se contra o peso da crise que começo a recair sobre seus ombros, e o desequilíbrio instalou-se. Os operários decidiram juntar-se aos estudantes grevistas e recusaram-se ao jogo de “perdre sa vie à la gagner” (“perder a vida para ganhá-la”). Tal recusa apareceu também sob a forma de absenteísmo no trabalho — o chamado “turn-over”, a recusa do trabalho, ou sob a forma de sabotagem. Mas foram provavelmente as condições salariais dos trabalhadores especializados, a maioria absoluta dos trabalhadores fordistas, que levaram os trabalhadores à revolta e a se juntarem aos estudantes. Esta adesão ficou definitivamente gravada nas bandeirolas que tremulavam por toda parte com os dizeres: “étudiants, professeurs, ouvriers” (“estudantes, professores, operários”. Foi esta junção histórica entre o trabalho intelectual e o trabalho manual que fez do Maio de 1968 na França um evento particular e diferenciado em relação ao que ocorria no resto do mundo.
Somente no final da década seguinte a persistência dos sintomas depressivos exigiu reações e mudanças de modo a revigorar o crescimento econômico capitalista. A partir dos anos 1980, novas estratégias empresariais de competitividade e de produtividade começaram a ser desenhadas, alterando a organização do trabalho e as formas de gestão da produção. Um novo padrão instaurou-se, a assim chamada “produção flexível”. Mas como no taylorismo-fordismo, este sistema de produção nasceu igualmente ao processo geral de racionalização da produção instaurado pela grande indústria capitalista de finais do século XVIII. O objetivo continuava sendo o da acumulação de capital por meio do aumento da produtividade e da competitividade. Logo, numa perspectiva histórica e do ponto de vista da organização do trabalho, a recém-chegada “produção flexível”, longe de constituir uma novidade, foi antes de tudo uma norma, pois que o processo produtivo, com os seus trabalhadores aí inseridos, foi permanentemente reorganizado e/ou reestruturado ao longo do tempo em função da necessidade imperativa de crescimento do capital, que só se viabiliza através do aumento constante da produtividade do trabalho e, portanto, da mais-valia.
“A força com a qual a contestação estudantil e operária se afirmou na França, em Maio de 1968, confirma a virulência dos antagonismos no interior desta sociedade pretensamente estável e a incapacidade da burguesia de superá-los, ou seja, de conseguir a domesticação durável das classes exploradas” (cf. Daniel Bensaid). Os trabalhadores não demoraram a perceber, face à recessão que se abriu e se estendeu ao longo dos anos que se seguiram, que o capitalismo não se encontra ao abrigo de crises maiores, tendo como resultado um conjunto de reestruturações que prejudicam, inevitavelmente, suas condições de existência.
Como testemunha ocular dos acontecimentos de Maio de 1968 na França, quando eu era apenas uma entre milhares de outras estudantes, francesas e estrangeiras que aí faziam seus estudos, e no auge de meus 20 anos, termino este texto compartilhando o mesmo sentimento de Christian Laval, tão bem expresso em seu depoimento, quando dos 40 anos de Maio de 1968:
“(…) Este movimento, sem chefe, sem direção e sem programa é o nome daquilo que um dia fez medo e que precisou ser controlado, remetendo-o ao folclórico, ao anedótico ou ao banal…Este movimento, e sua força, permaneceu aberto às interpretações, às recuperações…68 é a afirmação gritante de uma recusa que continua a atemorizar… [é a afirmação] de que há outra coisa possível. Maio de 68 é o nome deste desejo…Nosso tempo passou e é preciso dar passagem. Nós fomos o elo provisório de um tempo igualmente provisório, (…) nós somos muitos a ter o sentimento do inacabado…”.
Leia mais
- 1968, um ano múltiplo – Meio século de um tempo que desafiou diversas formas de poder. Revista IHU On-Line, Nº. 521
- Maio de 1968. 40 anos depois. Revista IHU On-Line, Nº. 250
- "Maio de 1968 ainda não terminou". Entrevista com Patrick Viveret
- Ter 20 anos em 2018. Cinquenta anos depois de maio de 1968, a geração atual que relação tem com a fé?
- Do maio de 68 francês para o Brasil: “A imaginação no poder”
- A força da revolta. Maio de 68 foi um acontecimento que ainda ressoa hoje
- As eleições cubanas 50 anos depois de maio de 68. Entrevista especial com Sílvia Cezar Miskulin
- Cinquenta anos de Maio de 68 – Parte 1: Revolução e contrarrevolução sexual
- México: 50 anos depois de 1968 e a tarefa de não esquecer os herdeiros perpetradores da repressão. Entrevista especial com Larissa Jacheta Riberti
- Maio de 1968: um convite ao debate
- Maio de 68 e a retomada da velha e nova utopia socialista. Entrevista especial com Diorge Konrad
- Maio de 1968. Schneider, o alemão que "agitou" Trento
- Do maio de 68 francês para o Brasil: “A imaginação no poder”
- Seu maio de 68 e o nosso