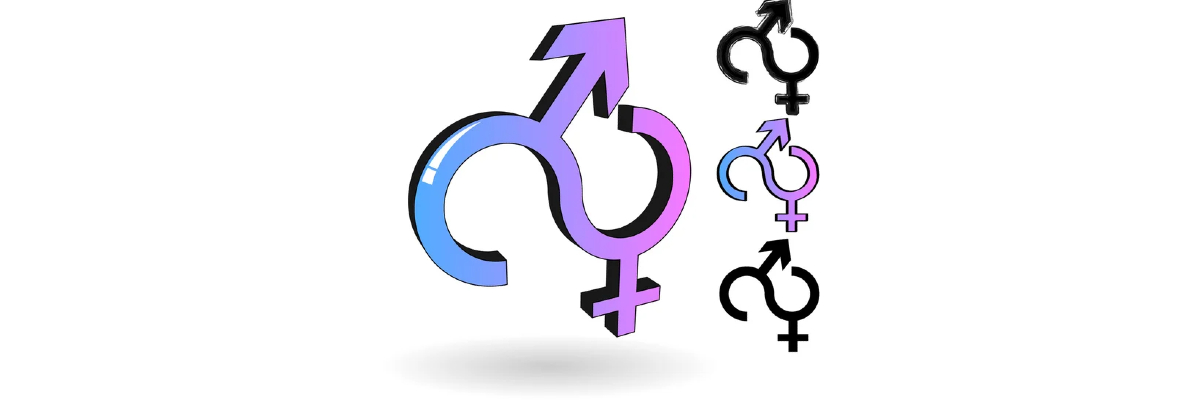19 Janeiro 2012
 Escritora brilhante e de sucesso, Michela Murgia provém do mundo da Ação Católica e é sócia da Coordenação de Teólogas Italianas. Com o seu recente Ave Mary, ela se interroga sobre o papel das mulheres na Igreja e sobre a influência de uma certa visão mariana no papel "serviçal" que o universo feminino teve na comunidade eclesial.
Escritora brilhante e de sucesso, Michela Murgia provém do mundo da Ação Católica e é sócia da Coordenação de Teólogas Italianas. Com o seu recente Ave Mary, ela se interroga sobre o papel das mulheres na Igreja e sobre a influência de uma certa visão mariana no papel "serviçal" que o universo feminino teve na comunidade eclesial.
A reportagem é de Roberto Carnero, publicada na revista Jesus, de janeiro de 2012. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
O título do último livro de Michela Murgia, Ave Mary (Ed. Einaudi, 2011, 170 páginas), foi amplamente mal compreendido. Não se trata, de fato, de um livro sobre Maria, a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Portanto, esse Mary não foi posto ali com uma intenção dessacralizante. Mary, nos explica a escritora, "é uma hipotética mulher dos nossos dias, porque o meu livro quer se interrogar sobre o que há da narração mariana, tradicionalmente promovida pela Igreja Católica, nas mulheres de hoje".
Aos 39 anos, natural da Sardenha, de Cabras, por muito tempo animadora da Ação Católica e professora de religião nas escolas, em 2010 Michela Murgia ganhou o Prêmio Campiello com o romance Accabadora (publicado no ano anterior pela Ed. Adelphi), um relato ambientado na sua Sardenha . Mas, como escritora, ficou conhecida ainda em 2006 pelo romance Il mondo deve sapere (ISBN Edizioni), do qual Paolo Virzi realizou o filme Tutta la vita davanti.
Agora, com Ave Mary (subtítulo: "E a Igreja inventou a mulher"), ela assina um vivo panfleto a meio caminho entre as memórias pessoais (as experiências na vida de paróquia) e a reflexão teológico-pastoral (além de ter realizado estudos teológicos, a autora é sócia honorária da Coordenação de Teólogas Italianas).
Eis a entrevista.
Como nasceu a ideia desse livro e com quais intenções você o escreveu?
Idealmente, comecei a escrevê-lo há muitos anos, quando eu comecei a refletir sobre os modelos oferecidos pela educação católica a respeito da razão entre os sexos. Decidi concluí-lo e publicá-lo hoje, solicitada pelo reacender-se do debate público sobre a condição feminina. Parece-me um momento propício para uma reflexão séria sobre esses temas, porque finalmente pode-se discutir sem o condicionamento de posições ideológicas que, no passado, foram muitas vezes muito rígidas.
Ou seja?
Quero dizer que, nos anos 1960, o movimento feminista levou adiante fortes ações de ruptura, também com uma contraposição frontal à Igreja Católica, vista como uma força conservadora, hostil a todo progresso, defensora de modelos patriarcais imutáveis. Por sua vez, a Igreja se enrijeceu, rejeitando as mulheres, mesmo as fiéis, próximas do feminismo e de suas reivindicações. Foi uma pena, porque a renovação iniciada pelo Concílio Vaticano II certamente teria muito a ganhar com a contribuição dessas inteligências construtivas.
E hoje?
Hoje, ao contrário, também podemos falar de feminismo dentro da Igreja. Fiquei contente que esse meu livro, que apresenta mais de uma crítica às posições oficiais da hierarquia eclesiástica, foi bem acolhido nos últimos meses, inclusive por órgãos de imprensa institucionais, o L'Osservatore Romano ou o Avvenire. O primeiro intitulou uma resenha com "Católicas e feministas": um título impensável nos anos 1970.
Muitas vezes, ouvimos dizer que um certo preconceito antifeminista que se arraigou na história da Igreja nasce não com Jesus, que, nos Evangelhos, ao contrário, sempre mostra sensibilidade e respeito para com as mulheres, mas sim com São Paulo. Mas, no livro, você desmonta essa interpretação...
Sim, porque é preciso entender uma coisa fundamental: Paulo de Tarso não escreve tratados teóricos de teologia ou de moral, mas sim cartas pastorais endereçadas a comunidades precisas com problemas específicos. Por isso, não podemos ler esses escritos descontextualizando-os. O erro foi absolutizar algumas afirmações paulinas. Além disso, a Igreja, pelo menos nos últimos séculos, sempre fez uma leitura contextual dos textos bíblicos. Mas temo que não o tenha feito o suficiente quando se fala da relação entre masculino e feminino.
Em certo ponto, você lembra de uma frase de João Paulo I. No Ângelus do dia 10 de setembro de 1978, o Papa Luciana disse que Deus "é pai, mas ainda mais mãe". Uma afirmação que escandalizou alguns monsenhores da Cúria...
Porém, a imagem é bíblica, presente no livro de Isaías. Mas se tratava de uma expressão decisivamente forte para uma cultura machista como a italiana. Para fazer aceitar a imagem de um Deus-Mãe contribui também um problema simbólico e de representação iconográfica. Tradicionalmente, o Deus-Pai é retratado como um velho de barba branca. Como velho, o homem é percebido como uma pessoa de autoridade. Ao contrário, a mulher velha é vista, na melhor das hipóteses, como terna, mas talvez também como uma espécie de bruxa. São condicionamentos culturais que pouco têm a ver com a pesquisa teológica séria, mas que infelizmente acabam, às vezes inconscientemente, influenciando os modos de pensar daqueles que têm responsabilidades dentro da Igreja.
A que você se refere?
Por exemplo, o então cardeal Joseph Ratzinger, que, em 1984, respondendo à pergunta de uma entrevista de Vittorio Messori, afirmou que o simbolismo do divino paterno usado Jesus é" irreversível". Nisso, Ratzinger estava na mesma linha de pensamento de João Paulo II, que, em uma carta endereçada aos sacerdotes por ocasião de uma Quinta-Feira Santa, fechou decisivamente qualquer possibilidade de debate em torno do sacerdócio ministerial para as mulheres,  defendendo que, para que os sacramentos sejam válidos, é necessária "a plenitude do sinal". E como o sacerdote age in persona Christi, e Cristo era homem, é preciso que o sacerdote seja do sexo masculino.
defendendo que, para que os sacramentos sejam válidos, é necessária "a plenitude do sinal". E como o sacerdote age in persona Christi, e Cristo era homem, é preciso que o sacerdote seja do sexo masculino.
Você não concorda?
Não, porque me parece um raciocínio ilógico: ilógico com base no próprio Catecismo da Igreja Católica. Dou apenas um exemplo: no casamento, os ministros do sacramento são os próprios esposos. E um deles, até possíveis modificações do direito canônico, é uma mulher, ou estou errada? Nesse caso, quem age in persona Christi é, justamente, uma mulher. Mas ninguém colocaria em discussão, por causa disso, "a plenitude do sinal".
No seu livro, você mostra não apreciar totalmente nem a encíclica dedicada por João Paulo II à questão feminina, Mulieris Dignitatem.
Reconheço que se trata de um documento inovador. Por exemplo, agrada ver que o papa conhecia as reivindicações das mulheres e que, em parte, as compartilhava. O que não me agrada totalmente é a afirmação de que a mulher tem uma "vocação esponsal natural". Traduzido mais simplesmente, significa um chamado à relação. Mas isso, digo eu, não vale também para os homens? Temo que se quisesse afirmar sutilmente uma outra coisa: isto é, que a mulher, enquanto tal, não é completa sem a presença ou a referência a uma contrapartida masculina. Em suma, implicitamente, a afirmação de uma minoridade ontológica.
Uma concepção – você afirma – muito difundida no clero...
Infelizmente, sim, muitas vezes também entre sacerdotes cultos e em certos aspectos iluminados. Temo que isso derive da formação que os candidatos ao sacerdócio recebem nos seminários. A mulher é carregada de simbologias negativas porque representa uma ameaça à promessa de celibato que os futuros padres serão chamados a fazer no dia da ordenação. Por trás disso, há séculos de história e de estereótipos, difíceis de remover a curto prazo. Nessas condições, às vezes é difícil amadurecer uma relação serena com o outro sexo e com a própria sexualidade. Mas também há outro problema.
Qual?
Estou convencida de que não se refletiu o suficiente sobre as consequências negativas que tem a estrutura hierárquica da Igreja em termos de domínio e de submissão. O Concílio Vaticano II havia proposto um modelo diferente: ao da pirâmide, ele havia substituído pelo do círculo, com Cristo no centro. Mas essa proposta, que remetia às origens fundantes da próprio Igreja, foi logo arquivada. Temo que, dentro da Igreja, não seja possível discutir a relação entre os gêneros se, antes disso, não colocarmos seriamente em discussão o sistema hierárquico.
Voltemos à figura de Maria. Você critica o modo pelo qual a Igreja a pregou ao longo dos séculos. Por quê?
Por que foi feito um arquétipo de Nossa Senhora, subtraindo-a da sua verdade e da sua historicidade. Um arquétipo que começa depois das Escrituras. Os quatro evangelistas dizem de Maria apenas o que é funcional ao relato da vida e das obras de Jesus. Até São Paulo, cujas cartas são ainda mais antigas do que os próprios Evangelhos, para falar da encarnação de Cristo, o define como "nascido de mulher", mas não enfatiza a identidade dessa mulher. Tudo começou depois.
Em que consiste esse arquétipo sobre o qual você fala?
Na desmaterialização da sua pessoa. Por exemplo, nunca se fala da morte de Nossa Senhora, mas, quando muito, da sua "dormição". Um eufemismo que remove realidade da experiência humana de Maria. É como se, à encarnação de Cristo, correspondesse, por contraste, uma espécie de "desencarnação" da sua mãe. Isso leva à difusão de um modelo feminino falseado e, portanto, para a maior parte das mulheres, inalcançável. Restituir à Maria a sua feminilidade significa tornar o seu caminho viável para as mulheres.
Qual a sua ideia de Maria?
A ideia que se pode apreender dos Evangelhos, se lidos sem preconceitos. Comumente, na pregação, fala-se de Maria como um modelo de docilidade e de quase passividade com relação à vontade de Deus. Ao contrário, trata-se de uma moça que faz uma escolha em plena responsabilidade. O anjo traz o anúncio a Maria e não a seu pai ou a quem a tivesse sob tutela. Há dois mil anos, na Palestina, uma menina da idade de Maria era completamente sujeita à vontade dos pais. Ela, ao contrário, assume a responsabilidade de responder a Deus em primeira pessoa, desviando, por assim dizer, da "cadeia de comando" normal. E Maria discute com Deus, quer saber mais diante de uma proposta decisivamente fora de toda a lógica humana. Portanto, Maria é absolutamente protagonista, aceita corresponder ao projeto divino, não é nada passiva.
No seu livro, você escreve em certo ponto: "A Igreja sofre a injusta fama de ser um corpo inamovível e rígido, mas bastaria estudar a sua história com um olhar darwiniano para descobrir com quanta inteligência esse corpo atravessou os séculos". Você vê essa inteligência na Igreja de hoje?
Infelizmente, hoje eu vejo na Igreja acima de tudo um grande medo. O medo de perder espaço, de ser posta de lado. Quando alguns "ateus devotos" brandem o crucifixo como símbolo identitário ou como "objeto contundente", eu gostaria que a hierarquia eclesiástica tomasse distância. Em vez disso, com algumas exceções apreciáveis, tudo fica em silêncio. Uma Igreja do medo, da desconfiança, do complexo de cercamento, não é a Igreja aberta, inclusiva, capaz de infundir esperança que eu vivi nos anos da minha formação.
O seu livro cruza essas e outras reflexões com o relato de algumas das suas experiências na Ação Católica. O que você aprendeu com essa militância em uma das principais associações católicas?
Sou grata à Ação Católica fundamentalmente por dois motivos. O primeiro é que, depois da Crisma, eu encontrei nessa organização uma proposta educativa válida e estimulante, adaptada às exigência antes de uma adolescente e depois de uma jovem adulta. Uma proposta no ritmo dos tempos, que evitou que eu abandonasse a Igreja, como aconteceu e acontece com muitos rapazes no pós-Crisma. A segunda razão é que na Ação Católica eu aprendi o que significa discutir e debater sem preconceitos e sem barreiras. Encontrei um ambiente capaz de acolher a discordância também. Ali, aprendi a ter a coragem de expressar as minhas ideias, mesmo quando, talvez, elas são contracorrente ou correm o risco de irritar alguém. Encontrei, em suma, uma autêntica escola de democracia. O fato de que, a cada três anos, se vote pela renovação dos cargos impede que tudo gire, como ocorre em outros movimentos eclesiais, em torno de líderes carismáticos que ditam de cima a linha a todos os membros. Não é por acaso que das fileiras da Ação Católica tenham saído políticos como Oscar Luigi Scalfaro, Rosy Bindi, Romano Prodi...