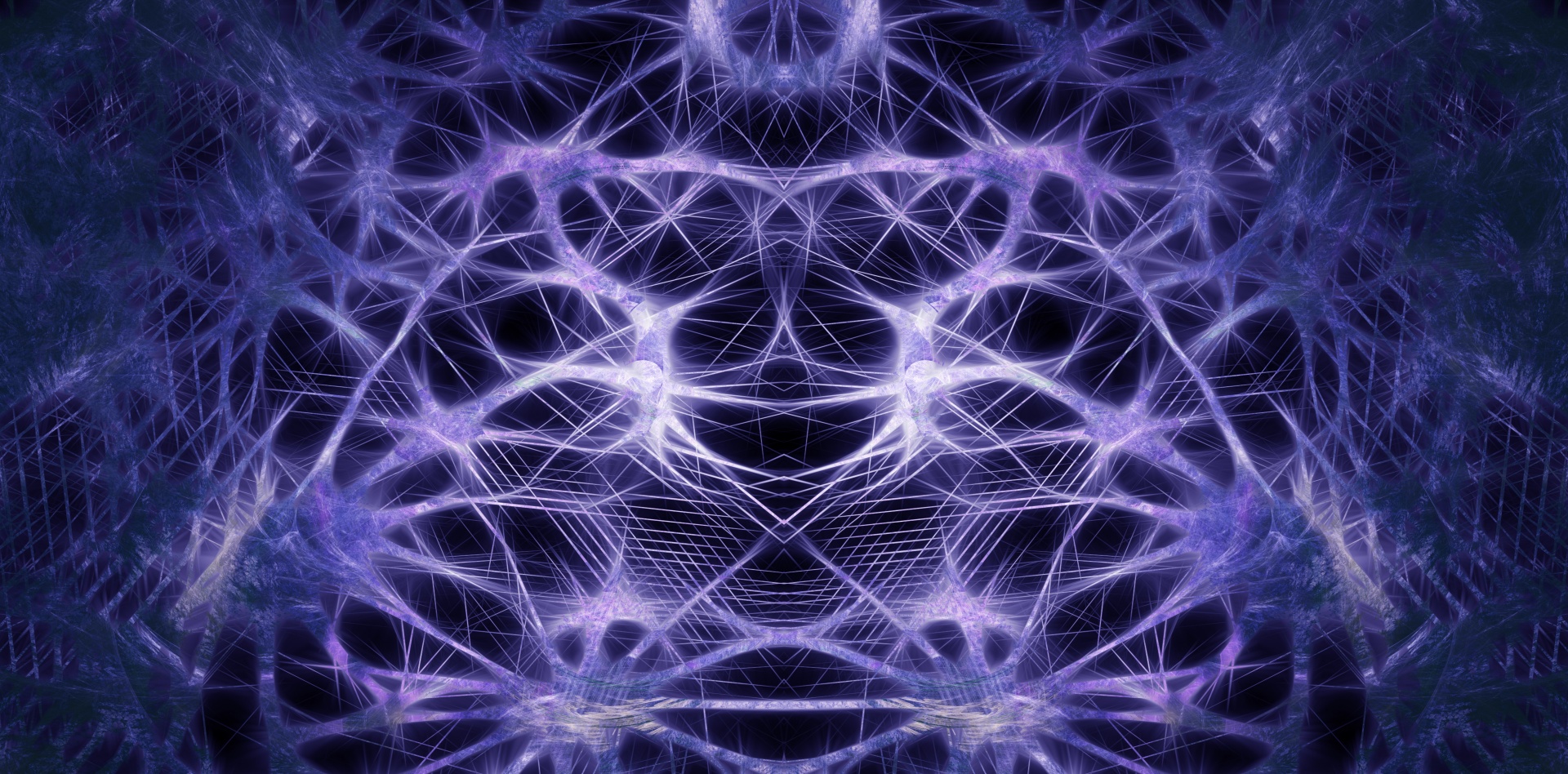28 Abril 2020
Estamos cruzando as portas de um novo tipo de civilização: a digital. É a esse epocal divisor de águas que está dedicado o livro de Gustavo Ghidini, Daniele Manca e Alessandro Massolo, intitulado “La nuova civiltà digitale” [A nova civilização digital].
O comentário é do filósofo italiano Maurizio Ferrera, professor da Universidade de Milão, em artigo publicado em Corriere della Sera, 27-04-2020. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Quem alimenta a mudança, acima de tudo, são as novas tecnologias. A internet e a telefonia smart estão levando à conectividade de tudo, incluindo das “coisas”. O big data disponibiliza vastos conjuntos de informações que podem ser analisadas por meio de algoritmos sofisticados.
A inteligência artificial permite que robôs e máquinas aprendam a executar muitas funções quase de forma autônoma. Pode-se produzir remotamente graças à manufatura “aditiva” e à impressão 3D. As blockchains armazenam dados em registros digitais cuja integridade é garantida pelo uso de complexas criptografias.
A lista poderia continuar. Os autores do livro, portanto, têm razão em intitulá-lo de “A nova civilização digital”: não é preciso ser marxista para entender que os novos modos de produção estão tendo repercussões em cascata nas esferas da sociedade, da política e da cultura.
Diante dessas mudanças, confrontam-se duas narrativas. Uma catastrófica: será o fim do trabalho humano, o advento do Big Brother. A outra é triunfalista: nos livraremos da famosa condenação bíblica, as máquinas farão o esforço no nosso lugar.
A mensagem do livro é mais sóbria e pacata: precisamos pensar nas luzes e nas sombras daquilo que está acontecendo, “separar o joio do trigo”. Não pode haver dúvidas de que a civilização digital tem efeitos positivos em termos de prosperidade material, de oportunidades de escolha, de acesso ao conhecimento. Mas é preciso ter bem claros os efeitos negativos também. Se aprendermos a conhecê-los, talvez possamos neutralizá-los.
Tomemos o mundo do trabalho. Em vez de usar as máquinas, os humanos se limitarão a monitorá-las, definindo o que deve ser feito e como, e, depois, usando os robôs para obter exatamente o resultado desejado.
Criatividade, imaginação, inteligência emocional serão os fatores determinantes. Desaparecerão progressivamente as tarefas repetitivas e pouco gratificantes.
Porém, também há o risco de novas formas de monitoramento e de controle invasivo sobre o desempenho laboral. Nascerão novos setores produtivos e, portanto, postos de trabalho de “qualidade” adicionais (especialistas em big data, gestores de mídia social, engenheiros especializados em computação cognitiva, arquitetos para a chamada “internet das coisas”, desenvolvedores de blockchain e assim por diante).
Mas já está nascendo um novo subproletariado digital, especialmente em torno da gig economy, o trabalho através de plataformas digitais. E estão sendo criadas novas desigualdades.
A pandemia da Covid-19 mostrou claramente os efeitos socialmente perturbadores e injustos causados pelas diversas oportunidades de acesso ao trabalho, ao consumo, à educação digitais.
Do ponto de vista social, aumentam as possibilidades de comunicação, interação, trocas em escala global. E já basta um clique para ter acesso a todos os tipos de informações e de textos: a biblioteca de Babel imaginada por Borges já é uma realidade. Os eleitores podem ter uma ideia em tempo real do que os políticos estão fazendo, em todos os níveis do governo.
Mas existe o outro lado da moeda. A inundação de fake news, em primeiro lugar. Mas também a dificuldade de se orientar em meio a tantas notícias plausíveis e bem fundamentadas, mas que dizem coisas diferentes (sobre a Covid-19, os cientistas estão divididos, ninguém sabe a quem dar crédito).
O mundo das mídias sociais permite que qualquer pessoa diga qualquer coisa, mas muitos abusam dessa oportunidade. As “câmaras de eco” das comunidades online são o caldo de cultura dos discursos de ódio (racial, étnico, religioso e assim por diante).
Muitos usuários acabam exibindo de forma exaltada o seu ego individual, “arriscando transformar a sociedade em um conjunto de mônadas”, como os autores observam corretamente. A política pode abrir espaço para as práticas manipuladoras da pós-verdade e explorar o big data para instituir sutilmente um “estado de vigilância”: um risco que não deve ser subestimado no rastro das técnicas de rastreamento que estão sendo testadas devido à Covid-19.
Uma parte muito interessante do livro é a discussão sobre as possíveis contramedidas. Na esfera do trabalho, a via mestra é a formação (que deve continuar ao longo de toda a vida).
Mas a abordagem deve ser pragmática, baseada em um diálogo estreito com o mundo empresarial. E como são necessários recursos, é preciso avaliar como “tributar” a digitalização. Para o uso dos robôs no lugar dos humanos, por exemplo. Ou redesenhando a taxação dos gigantes da rede e da sua predação cotidiana dos dados pessoais dos usuários, com fins lucrativos.
Muito pode e deve ser feito através da regulamentação e da luta contra os oligopólios. Na esfera da informação e da cultura, os autores sugerem injetar robustos “anticorpos iluministas” na escola (entre os professores, em primeiro lugar) e em todos os canais que formam os profissionais da informação. Sem esse filtro básico, as sanções ou os controles não servem, até mesmo o fact checking se torna irrelevante, se choca com os preconceitos e barreiras cognitivas difíceis de serem superadas.
A metáfora dos anticorpos iluministas é bela e adequada. Contanto que fique claro que o que é necessário não é a ânsia enciclopédica, mas sim o exercício crítico e cético da razão. Aprenda a pensar bem e a fazer funcionar corretamente o conceito de verdade, ou seja, a função mental que ativamos para verificar, precisamente, o vínculo entre o que se diz e se escuta e “as coisas como são”.
O livro também fornece ideias interessantes sobre como a civilização digital está mudando o “mundo da vida”, aquele dentro do qual levamos a nossa existência concreta junto com os outros.
Aqui, o nó central é a relação entre a experiência offline e online. O filósofo Luciano Floridi cunhou um novo termo a esse respeito: o “onlife”, uma esfera com fronteiras cada vez mais sutis entre o real e o virtual, entre ser humano, máquina e ambiente, entre ser e interagir.
O advento da civilização digital implicará uma profunda revisão dos quadros cognitivos que desenvolvemos durante a modernidade para nos orientar no mundo e lhe dar sentido. É o desafio da hiperconectividade, do possível salto, nas palavras de Yuval Noah Harari, do Homo sapiens ao Homo deus.
Debates e cenários fascinantes, mas que devem ser tratados com muito cuidado. Para usar o lema de Ghidini, Manca e Massolo, devemos sempre prestar atenção para separar o joio do trigo. E para temperar, com o pensamento crítico, tanto os desvios catastrofistas quanto os triunfalistas.
Leia mais
- A pandemia de Covid-19 é um grande teste à resiliência de sistemas de saúde no mundo inteiro. Entrevista especial com Beatriz Rache
- O mundo depois do coronavírus. Artigo de Yuval Noah Harari
- Inteligência artificial: a máquina capitalista que pensa como uma empresa. Artigo de Paolo Benanti
- O insustentável crescimento do digital
- “O big data apresenta uma multimetodologia”. Entrevista com Walter Sosa Escudero
- "A era do Onlife, onde real e virtual se (com)fundem". Entrevista com Luciano Floridi
- “‘Game’ é o nome da civilização em que vivemos hoje”. Entrevista com Alessandro Baricco
- O pessoal é digital. Artigo de Slavoj Žižek
- Internet das coisas: objetos conectados à internet podem trazer inclusão digital?
- Vigilância e privacidade digitais: o ''Big Brother'' não previsto por Orwell