Plataformização e mídias sociais são construídas para dar visibilidade a tópicos que geram raiva, ansiedade e medo e têm transformado o comportamento social dos jovens, diz sociólogo
“Há uma mudança significativa do comportamento que não se restringe à juventude, mas que é mais evidente junto aos jovens, de melancolia societal”. Esse estado de espírito que tem marcado o comportamento social no período recente é potencializado pelo uso cada vez mais frequente das redes sociais que, segundo Ricardo Severo, “são construídas para dar visibilidade a tópicos que geram raiva, ansiedade, medo e sentimentos negativos”. A resposta emocional que emerge da interação social plataformizada, explica, é a “constituição de câmaras de eco de indivíduos que compartilham opiniões semelhantes e que tendem a invisibilizar os diferentes, com relevância, comumente, para opiniões extremadas, com maior alcance aos tópicos ligados à extrema-direita”.
Desde a pandemia de Covid-19, o sociólogo tem conduzido pesquisas com estudantes do Ensino Médio e observa que as transformações comportamentais dos jovens estão associadas ao intenso uso de smartphones e redes sociais. O que se nota, pontua o entrevistado, é que “os processos de aprendizagem, a relação em sala de aula e as formas de dialogar parecem mais carregados de anseio, além de uma dificuldade crescente de manter atenção a temas, conversas, às vezes diálogos entre duas pessoas”. Nas relações interpessoais, menciona, “há uma mudança na forma como as diferenças passaram a ser tratadas cotidianamente, impossibilitando, via de regra, o reconhecimento do outro”.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Severo afirma que a continuidade entre os espaços online e offline estão ressignificando os processos de sociabilidade e transformando o comportamento e as relações sociais das juventudes. “Presencialidade não significa sociabilidade. E não só para jovens. Não raro, vejo uma sala cheia de estudantes de diferentes idades no mesmo local físico, mas ausentes daquele local e interação social e, não necessariamente, socializando, mas utilizando os aparelhos para o que alguns chamam de brain rot, hábito de ver atualizações do feed de sua rede social, olhando vídeos curtos ad infinitum, que não têm, objetivamente, nenhum ganho intelectual ou interacional”, relata. Para muitos jovens, acrescenta o entrevistado, não mais o ambiente offline, mas o online é prioritário “como forma de pertencimento, de constituição de comunidades e, consequentemente, fonte de identidade social”.
Com o objetivo de debater de forma transdisciplinar aspectos sociológicos das juventudes, seus papéis e suas perspectivas no contexto contemporâneo de transformações políticas, ecológicas e econômicas, o IHU está promovendo o Ciclo de Estudos Juventudes e o espírito do tempo e do espaço. Desafios tecnopolíticos e socioambientais. A programação completa do evento e as videoconferências ministradas no primeiro semestre estão disponível aqui. Na próxima semana, 07-08-2025, Álvaro Soler Martínez, sociólogo especializado em gestão territorial e ambiental do CETR Barcelona, ministrará a videoconferência Cultura e capital. Hedonismo depressivo e imaginários juvenis sob a desafeição política atual. O evento será transmitido na página eletrônica do IHU, nas redes sociais e YouTube, às 10h. A atividade é gratuita e aberta ao público.
Ricardo Severo é graduado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e no Programa de Pós-Graduação em Educação e na Especialização em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). É coordenador adjunto do GT Sociologia da Juventude da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS).
A entrevista foi originalmente publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 29-07-2025.
IHU – Após a covid-19, aumentaram os relatos de professores sobre a dispersão e as dificuldades de socialização entre os jovens nas escolas. Cinco anos depois, especialistas têm comentado os impactos sociais do isolamento entre a juventude. Em suas pesquisas, percebe mudanças no padrão de sociabilidade dos jovens? Em que sentido e a que atribui esse fenômeno?
Ricardo Severo – Durante a pandemia conduzi uma pesquisa com estudantes do Ensino Médio a partir de entrevistas online e, posteriormente, um documentário sobre as experiências desses jovens nesse período. A questão principal apontada por eles dizia respeito à saúde mental. Havia um sentimento de tristeza, solidão e cansaço, em especial relacionados, à época, à necessidade de estarem conectados para assistirem às aulas. Além disso, eles falaram sobre suas preocupações em relação ao futuro, a incertezas e sobre as possibilidades de trabalho. Terminada a pandemia, há uma mudança significativa do comportamento que, precisa-se observar, não se restringe à juventude, mas que é mais evidente junto aos jovens, de melancolia societal.
Os processos de aprendizagem, a relação em sala de aula e as formas de dialogar parecem mais carregados de anseio, além de uma dificuldade crescente de manter atenção a temas, conversas, às vezes diálogos entre duas pessoas, mediado por smartphones, utilizando-se as mídias sociais, por exemplo. Ao mesmo tempo que se observa o crescimento da ansiedade e do cansaço, muitas vezes apontado pelo uso desses aparelhos, dispersando nossas atenções, há uma necessidade também de manter-se conectado. É o que Hartmut Rosa chama de aceleração, um processo de incremento das atividades realizadas em um menor tempo. Esse era um processo já em andamento e ubíquo, colocado para todas as gerações, mas aos jovens, que alguns chamam de nativos digitais, é algo dado, sua realidade desde seu ingresso em relações societais para além do núcleo familiar.
IHU – Os jovens de hoje estão vivendo mais isolados do que os de outras épocas?
Ricardo Severo – Há, sim, uma mudança nos padrões de sociabilidade. Não havendo muita distinção entre o online e offline, ambos são vistos como continuidades e com a mesma importância nos processos de interação, cabendo muitas vezes ao online a prioridade como forma de pertencimento, de constituição de comunidades e, consequentemente, fonte de identidade social. Isso não surge hoje. Já foi observado por Giddens, que o denomina como desencaixe. Ou seja, hoje uma jovem do interior de Dom Pedrito pode sentir-se parte da comunidade de fãs de K-Pop, ignorando a existência de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) ao lado de sua casa.
Hoje, tais processos não são mais uma novidade, mas são algo já estabelecido e óbvio para a geração atual. Presencialidade não significa sociabilidade. E não só para jovens. Não raro, vejo uma sala cheia de estudantes de diferentes idades no mesmo local físico, mas ausentes daquele local e interação social e, não necessariamente, socializando, mas utilizando os aparelhos para o que alguns chamam de brain rot, hábito de ver atualizações do feed de sua rede social, olhando vídeos curtos ad infinitum, que não têm, objetivamente, nenhum ganho intelectual ou interacional. Há, portanto, uma ressignificação dos processos de sociabilidade, o que altera grandemente os processos de interação que requerem trocas presenciais e, portanto, requerem repensar os processos educativos, por exemplo.
IHU – No fim do ano passado, uma reportagem chamou atenção por relatar que jovens e adultos “têm evitado passar o fim de ano com parentes para se preservar de estresse e conflitos”. Nas suas pesquisas, o que os jovens relatam sobre relacionamentos familiares? Também evidencia a busca de isolamento e solidão como forma de evitar as relações parentais?
Ricardo Severo – Tal fenômeno talvez seja mais evidente em situações em que há diferenças significativas de opinião sobre temas que sejam caros aos jovens e familiares e que os tenham distanciado por não ser possível encontrarem pontos em comum, ou ainda, a interdição de determinados temas. Isso se apresentou em minha pesquisa em situações nas quais alguns jovens têm opiniões diferentes sobre política ou quando sua orientação sexual, ou mesmo o gênero, eram tópicos que geravam invariavelmente conflitos. Em tais circunstâncias, esses jovens escolhiam ou o silêncio ou a ausência como forma de evitar o sofrimento.
A diferença, por si, não é o motivo dessa dificuldade de partilhar os espaços. Antes, há uma mudança na forma como as diferenças passaram a ser tratadas cotidianamente, impossibilitando, via de regra, o reconhecimento do outro. Conforme percebo a partir de minha pesquisa e em outros estudos, tal fenômeno se agrava com o advento da plataformização, com o uso crescente das mídias sociais, as quais são construídas para dar visibilidade a tópicos que geram raiva, ansiedade, medo, sentimentos negativos e que tendem a ter uma resposta emocional que leva à constituição de câmaras de eco de indivíduos que compartilham opiniões semelhantes e que tendem a invisibilizar os diferentes, com relevância, comumente, para opiniões extremadas, com maior alcance aos tópicos ligados à extrema-direita.
IHU – Em termos políticos, para onde diria que se dirigem os jovens de hoje? Com quais discursos eles mais se identificam? Tendem a ser mais conservadores, progressistas, ou com posições e valores variados?
Ricardo Severo – Não há um caminho único, pois as juventudes não são homogêneas. É possível observar, porém, alguns padrões contemporâneos. Em termos comparativos, na América Latina, os jovens brasileiros são os mais conservadores, com um maior número se identificando como de extrema-direita (16%) segundo a pesquisa Juventudes: um desafio pendente.
Considerando esses recortes ideológicos, minha pesquisa, intitulada Juventude e Política: uma proposta de análise geracional, e a de outras colegas têm demonstrado que as variáveis gênero, raça, religião, região e classe são importantes para identificar padrões políticos. Por exemplo, mulheres tendem a identificarem-se com a esquerda e os homens com a direita. Em relação à religião, jovens cristãos, especialmente evangélicos, identificam-se com a direita, enquanto agnósticos com a esquerda. Há uma maioria que se define como centro, buscando mediações, com comentários como “há coisas boas em ambos os lados”. Em minha pesquisa, tal caminho era indicado como uma forma de buscar fugir daquilo que definem como “polarização” ou indispor-se com familiares e colegas.
Algumas das possíveis causas dessas posições podem estar relacionadas à não regulação das plataformas, sendo frequente o uso de informações falsas por figuras públicas, especialmente indivíduos com mandatos, assim como à não realização de um processo de punição dos responsáveis pelas perseguições e assassinatos durante a ditadura militar. No Brasil, hoje é ainda mais evidente que há uma compreensão, por parte de setores que se identificam com a extrema-direita, de que cabe aos militares a organização da sociedade a partir do uso da violência. Para esses setores, a violência é um recurso legítimo, segundo o qual se constrói uma noção de político e de democracia necessariamente tutelada. Não é algo inerente e tampouco homogêneo ao modelo militar, mas, historicamente, constitui-se assim no país, justamente pela ausência de punições em casos de excessos, e, via de regra, são as juventudes as parcelas que mais sofrem com esta mentalidade.
IHU – Segundo o Relatório Mundial da Felicidade (World Happiness Report), que apresenta o ranking de felicidade dos países segundo as respostas da população sobre o assunto, os jovens de países desenvolvidos da Europa Ocidental e da América do Norte relatam a menor sensação de bem-estar, associada, entre outros fatores, ao alto custo de vida. Como a policrise (econômica, social e política) tem afetado os jovens no Brasil?
Ricardo Severo – Nesses países há uma trajetória de esgotamento do modelo econômico vigente até então, em especial a promessa de qualificação educacional e melhoria dos salários, ou a garantia de emprego, constituindo essas juventudes como precariado, pessoas com formação educacional e em empregos temporários e mal remunerados, conforme define Guy Standing. A última característica já é a norma em nosso país. O que vemos crescer são jovens com formação educacional que antes lhes garantia emprego em situações de trabalho precário, tanto pelo aumento da oferta de Ensino Superior (em sua maioria privadas) quanto pela manutenção das características do mercado de trabalho brasileiro, que, mesmo aumentando o número de empregos, o faz em sua maioria em postos de menor remuneração.
A diferença é que esses passam a participar do espaço público quando essa crise generalizada já está instalada, tornando-se, portanto, a norma, aquilo que é vivenciado como a realidade, sem parâmetros de comparação para momentos sem a crise. Nesse sentido, para essa geração, o momento atual é o parâmetro de comparação que farão no futuro. O diferencial, portanto, é que se coloca uma maior responsabilidade a essa geração, dado que o momento atual – de polarização política assimétrica e perniciosa, mudanças de exigências para o ingresso no mercado de trabalho, alteração e aceleração do padrão das mudanças societais, em especial as econômicas – é colocado para toda sociedade, mas se constitui como a realidade, ponto de partida para as juventudes.
IHU – Outro dado que chama atenção em relação aos jovens brasileiros é o número daqueles que nem trabalham nem estudam. Como esta realidade pode ser interpretada? Ela está associada ao desemprego, à digitalização e à precarização do mercado de trabalho juvenil?
Ricardo Severo – Em 2024, entre as pessoas com 15 a 29 anos no Brasil, 18,5% não estavam ocupadas, nem estudavam ou se qualificavam. Em 2023, esse percentual era de 19,8% e, em 2019, de 22,4%. Observamos uma redução, portanto. Há de se considerar o quadro político no país, especialmente após 2015. Considerando a juventude desempregada, o índice aumenta a partir de 2015, com maiores valores durante a pandemia e apresentando uma redução gradual após esse período.
Para dados comparativos no mundo, podemos analisar as informações disponibilizadas pelo Banco Mundial sobre a população de 15 a 24 anos. Aí, vemos que, mesmo reduzindo o número de jovens em tal situação, ainda há um índice alto e, comparativamente na América do Sul, ele é um dos maiores.
As reformas do Ensino Médio, aprovadas no governo Temer com apoio de instituições privadas, como o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Lemann e o Todos pela Educação, tiveram como justificativa dar maior protagonismo à juventude, pela escolha de itinerários, assim como tornar o aprendizado mais relacionável ao mercado de trabalho. Até o momento essas mudanças têm apresentado resultados negativos. Isso ocorre pela dificuldade dos jovens que precisam trabalhar para se manterem estudando, pois as escolas passam a ter aulas em tempo integral e, em casos de oferta de bolsas, os valores são insuficientes para atender às necessidades das suas famílias.
Também há relatos de uma dificuldade adicional para quem deseja ingressar no Ensino Superior, pois reduziram-se componentes curriculares, como Física, Sociologia, História, entre outros, em detrimento dos itinerários que, conforme muitos relatos, não são percebidos como úteis e, portanto, têm gerado insatisfação. Fiz um minidocumentário sobre o tema, coordenado pela professora Wivian Weller. Esse trabalho faz parte de um projeto que integra o Redejuvem:
Voltando à questão do mercado de trabalho, há um modelo de financiamento de produção agrícola atualmente, que tem como característica a baixíssima contratação de mão de obra, reduzindo, com isso, as possibilidades de emprego para toda população e, em especial, para a juventude. Seria fundamental a transformação do modelo produtivo interno, o que deveria ser feito a partir da mudança de padrão de financiamento estatal dos setores produtivos, buscando aqueles que geram maior número de empregos, como os setores de serviço (como o turismo, tecnologia) e industrial.
IHU – Por que a minissérie Adolescência foi um sucesso mundial? O que ela revela? Como a interpreta à luz das suas pesquisas sobre juventude?
Ricardo Severo – Como possíveis hipóteses, a série virou um sucesso mundial por fazer sentido com aquilo que o público vê ou sente ao seu entorno. Nos EUA, os tiroteios em escolas são, há anos, infelizmente, uma constante. Na Inglaterra, onde se passa a série, há um crescimento de casos de ataques com armas brancas entre jovens. No Brasil, também houve um aumento de casos de atentados em escolas, sendo o mais recente o realizado por um adolescente em cidade do interior do RS, vitimando duas crianças. A visibilização de casos semelhantes, e, em alguns casos, o planejamento online de violências, são uma das causas, mas não a única.
No caso da série, um adolescente mata uma menina e descobre-se posteriormente situações de bullying virtual no qual o caso está envolvido. Assim, o que ocorre é que os espaços de sociabilidade virtual passam ao longe do acompanhamento e visibilidade do controle dos familiares, das escolas e outros agentes socializadores que, previamente, faziam a mediação de situações de conflito. Ademais, tais espaços virtuais incentivam comportamentos agressivos e recompensam atitudes extremas com reconhecimento de seus pares. Há uma dificuldade evidente de acompanhar tais dinâmicas virtuais, o que é dificultado pela ausência de alguma forma de controle ou legislação reguladora das mídias sociais e das big techs de modo geral.
IHU – A minissérie suscitou inúmeras questões sobre o comportamento dos jovens, as relações entre pais e filhos, mas também sobre a atuação dos adultos. Há um abismo comunicacional entre as gerações? Como superá-lo?
Ricardo Severo – Há, via de regra, mudanças geracionais e que constituem diferenças na percepção da realidade, que mesmo não ocorrendo de forma homogênea, geram uma forma de partilha sobre aquilo que importa ser discutido, assim como sobre a forma de fazê-lo. Isso não impossibilita o diálogo entre gerações, mas demanda a necessidade de aprendizagem sobre os novos processos de comunicação. Isso não é exclusividade dos mais jovens. Por exemplo, muitos idosos, atualmente, adotaram posições extremadas politicamente, sendo uma das causas o uso de mídias sociais, nesse caso o WhatsApp, como forma de socialização. O problema nesse caso é que a socialização é realizada por agentes que propositadamente difundem informações falsas, que geram indignação. Há, assim, um distanciamento entre diversas gerações e uma das razões disso é a adoção das plataformas como mediação da sociabilidade. Uma das formas de superar este problema é, necessariamente, pela regulação dessas plataformas e pelo letramento digital e científico.
IHU – Deseja acrescentar algo?
Ricardo Severo – Quando compreendemos a juventude, de modo geral há uma redução ou uma homogeneização daquilo que se compreendem ser suas características, o que leva, muitas vezes, ao erro. A partir de uma perspectiva geracional, é possível identificar as pessoas que nascem em determinado momento sócio-histórico e se deparam com uma determinada realidade, mas a experienciam de formas distintas, a depender se sua raça, classe social, gênero, entre outros marcadores. Assim, é mais adequado e preciso compreendermos a existência de juventudes, pois possibilita pensar na construção e aplicação de políticas públicas que atendam de forma mais efetiva os grupos distintos. E em termos políticos, retomando as noções teóricas de Karl Mannheim, em uma mesma geração é possível perceber diferentes unidades geracionais, que se constituem como defensoras de diferentes ideologias e se colocam em disputa na sociedade por aquilo que compreendem ser os problemas mais relevantes de seu presente.
São inúmeros desafios que se colocam para as juventudes e, em especial para especialistas que se debruçam sobre estas questões, analisando as mudanças do trabalho, participação política, violência, gênero, entre outros, na busca de, a partir de seus trabalhos, sugerir melhorias ou implementação de políticas públicas para essas juventudes. Um desses grupos é a RedeJuve, rede de pesquisadores da juventude do Brasil que conta com pesquisadores(as) de todo país e que têm se encontrado regularmente, em congressos, como o da Sociedade Brasileira de Sociologia, ou em eventos próprios, como colóquios realizados bienalmente. Como pesquisadores das juventudes, um dos desafios que está colocado é o de conseguir que essas pesquisas voltem a ser utilizadas em auxílio nas políticas para as juventudes.
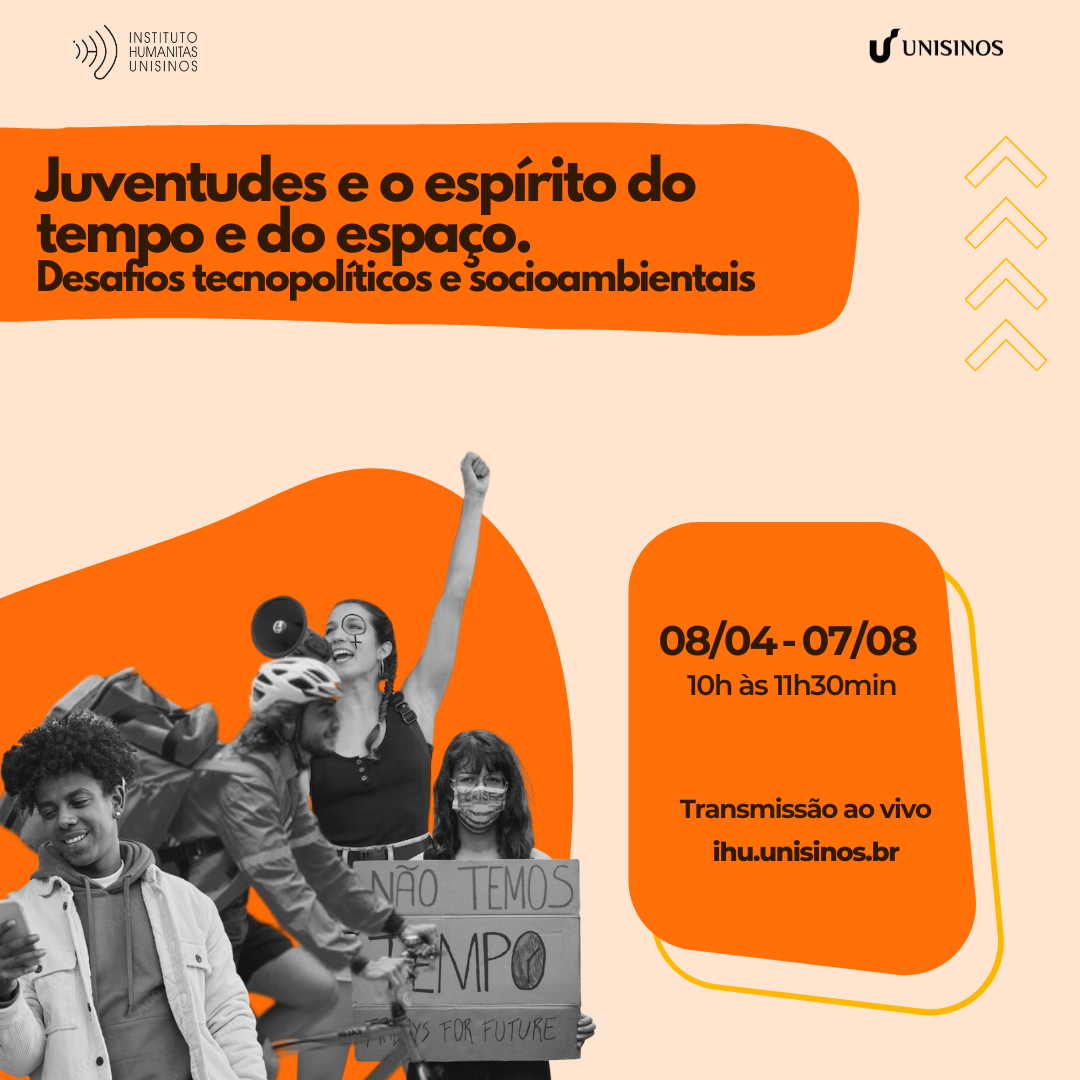
Inscreva-se no ciclo de estudos aqui.