21 Outubro 2022
No Amazonas, à frente dos roçados, mulheres quilombolas lutam contra as consequências da crise do clima e desmonte de políticas públicas.
A reportagem é de Juliana Aguilera, Marina Colerato e Mônica Prestes, para Instituto Modefica, e publicado por EcoDebate, 20-10-2022.“O pouco que as famílias conseguiram colher depois de duas grandes cheias é insuficiente. Muita gente está passando necessidade. Tem quem não possa comprar um quilo de açúcar, que aqui custa R$ 6. Tudo ficou muito caro. A gente nem come mais feijão, porque não pode pagar R$ 15 no quilo. Já tem famílias aqui na comunidade que não têm o que comer no almoço ou na janta, daí os moradores se ajudam. Um doa uma farinha, o outro dá um peixe. Isso é o coletivo”.
Este é o relato de Elivalda Barros Macedo de Souza, 46 anos, agricultora da comunidade quilombola Lago de Serpa, em Itacoatiara (AM), onde vivem cerca de 300 famílias, e reflete a realidade paradoxal do Amazonas. Embora seja o estado com maior número de agricultores familiares, é também um dos estados com maior nível de insegurança alimentar.
Numa análise regional, é possível notar como o Norte do país é o mais afetado pela insegurança alimentar, onde 71,6% da população chega a não ter o que comer, bem acima da média nacional. Em termos comparativos, enquanto a fome (insegurança alimentar grave) fez parte do cotidiano de 25,7% das famílias na região Norte, esse número é muito menor, 9,9%, no Sul, por exemplo. A média nacional é de 15,5%.
A segunda edição do Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), revelou que 58,7% da população brasileira (ou 125 milhões de pessoas) vive em situação de insegurança alimentar e que 15,5% (assustadores 33 milhões) passam fome, mesmo patamar de 30 anos atrás.
Entre os domicílios rurais brasileiros, o segmento da agricultura familiar foi especialmente afetado pelo desmonte das políticas públicas voltadas para o pequeno produtor rural. Em 38% dos domicílios de agricultores(as) familiares e produtores(as) rurais no Brasil, as formas mais severas de insegurança alimentar (IA) (moderada ou grave) estavam presentes. A insegurança alimentar grave foi encontrada em 21,8% dos domicílios, o que revela que a fome atingia os moradores de mais de 1/5 dessas habitações. No Norte, o quadro se mostra ainda mais preocupante porque as formas mais graves de insegurança alimentar (IA moderada ou IA grave) eram realidade em 54,6% dos domicílios, respectivamente, e o acesso pleno aos alimentos existia em apenas 20,1% dos domicílios.
A falta de comida no prato de quem produz alimentos é consequência de uma série de fatores combinados: insegurança jurídica dos territórios, desmonte de políticas públicas de combate à fome e fomento à agricultura familiar, inflação, pandemia da COVID-19 e as consequências da devastação ambiental e da crise climática no Amazonas.
“O Norte do país sempre figurou como um ‘ponto exótico’, cheio de riquezas a serem extraídas e levadas pelos colonizadores. Mas a riqueza só foi extraída e não devolvida ao povo. E isso resulta no quadro de desmatamento, biopirataria e garimpo ilegal, o que coloca nosso povo à margem e deixa as pessoas que habitam esses territórios e produzem essas riquezas em condição de insegurança, inclusive alimentar”, pontua Amanda Lorena Nunes Cruz, agroecológa e integrante da Rede Maniva de Agroecologia, movimento social que une agricultores e organizações no fomento à agroecologia no Amazonas.
A falta de comida no prato de quem produz alimentos é consequência de uma série de fatores combinados: insegurança jurídica dos territórios, desmonte de políticas públicas de combate à fome e fomento à agricultura familiar, inflação, pandemia da COVID-19 e as consequências da devastação ambiental e da crise climática no Amazonas.
Amanda destaca também que ao longo da pandemia muitos agricultores perderam suas colheitas para as cheias do rio e não conseguiram produzir, tendo uma diminuição expressiva na produção. Além disso, houve igualmente uma diminuição considerável na compra de produtos: “dentro da Rede criamos várias estratégias, como circuitos de comercialização para que esse material conseguisse ser escoado. Assim, os agricultores seriam minimamente remunerados e comunidades quilombolas e indígenas poderiam receber alimentos que necessitavam em uma época de desemprego e inflação nesse contexto pandêmico”.
Com origem em meados de 1855, a comunidade quilombola do Lago de Serpa já foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, mas ainda aguarda a conclusão da regularização fundiária e emissão do título do território pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Não ter a titulação é um dos obstáculos para pequenos produtores acessarem benefícios, incentivos ou fontes públicas de financiamento necessárias não só para escoar a produção e proteger o território, como também para enfrentar as perdas de safras resultantes das alterações do clima.
No capítulo 8 do livro Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação, de 2014, ao analisar os impactos regionais da crise do clima no Brasil, os pesquisadores afirmam que “o aumento de concentrações atmosféricas de CO2, o incremento da temperatura do ar e as variações em precipitação pluviométrica podem afetar negativamente a produtividade de gêneros agrícolas e de espécies usadas na atividade extrativista” na região norte do país.
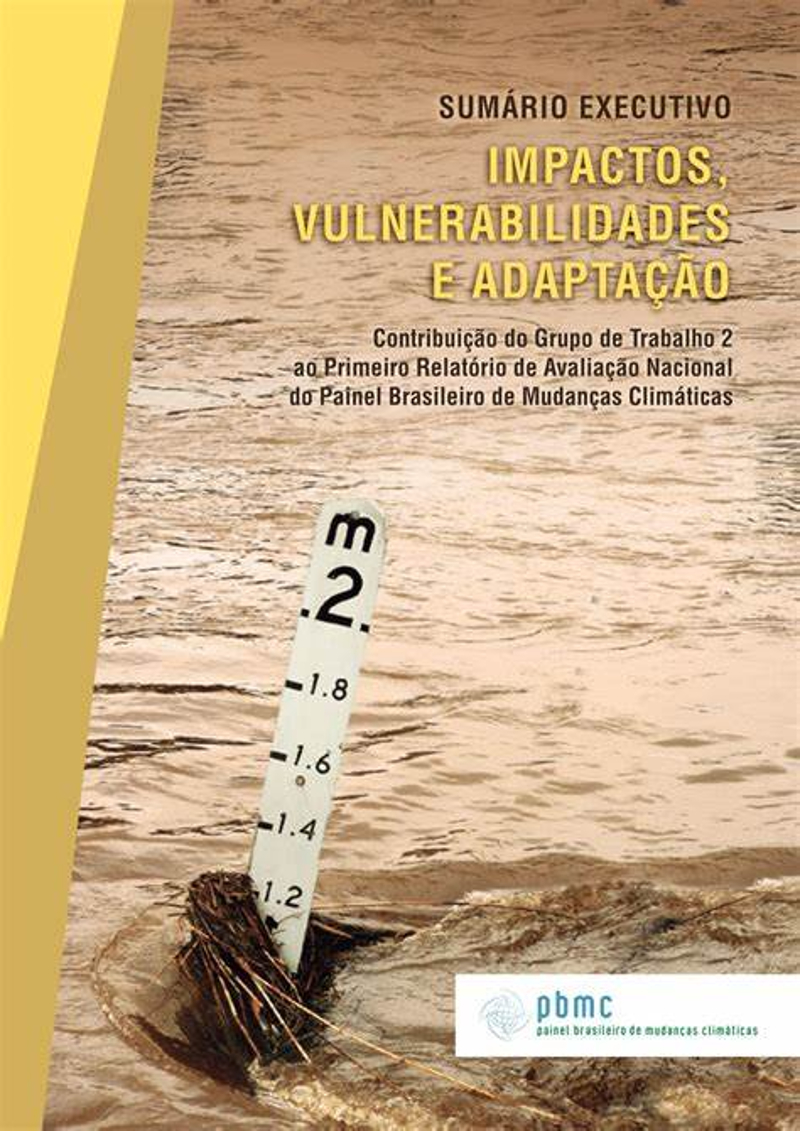
Livro "Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação
Foto: divulgação
Nos últimos 20 anos, o Rio Negro passou por três grandes enchentes e três grandes secas, ocorridas em 2009, 2012 e 2021. Em março de 2022, menos de um ano após o rio subir cerca de 30 metros (equivalente a um prédio de três andares), o mesmo cenário voltou a acontecer. Cerca de 230 mil pessoas foram afetadas diretamente, segundo a Defesa Civil do estado. Além de desabrigar famílias, as cheias também impactam nas lavouras e geram falta de alimentos.
A World Meteorologial Organization projeta aumento da precipitação e dos períodos de seca na Amazônia. De acordo com o documento: “a precipitação foi cerca de 200–250 mm acima do normal (1981–2010) na Amazônia central em dezembro de 2020 a fevereiro de 2021”. Já um estudo de 2017 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), afirma que todos os municípios do Amazonas (62) foram considerados de vulnerabilidade à mudança do clima. O documento destaca que Manaus e a região metropolitana poderão apresentar uma elevação da temperatura máxima acima dos 4°C e municípios ao sul do estado, 4ºC, nos próximos 20 anos.
As alterações climáticas no Amazonas já acontecem há décadas. Um artigo publicado na revista científica PNAS, em 2013, observa que a alteração na estação seca no sul do estado são sentidas desde 1979. O atraso do final da estação seca é acompanhado por uma estação prolongada de incêndios. O levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para a safra brasileira de 2021/22, no período de junho, julho e agosto, apontam, com exceção do noroeste e extremo-leste do Amazonas, que o estado registra previsões de chuva acima da média climatológica.
Com o desequilíbrio climático – ora muita chuva, ora seca prolongada – há atraso na semeadura da lavoura. A crise climática também traz risco para a variedade vegetal tão famosa da região. Um estudo publicado na Biological Conservation, em maio de 2021, destacou que as alterações climáticas põem em risco o futuro de 18 espécies de palmeiras e árvores amazônicas. Entre elas estão a castanha-do-brasil/castanha-do-pará, açaí, tucumã, pupunha, babaçu, andiroba e cupuaçu.
“Por conta do inverno [período chuvoso] que foi muito pesado, agora que estamos conseguindo plantar, começamos com atraso. Muita gente ainda está limpando a terra quando, em outros anos, a esta altura, já estava tudo plantado. A gente não pode fazer nada além de esperar o tempo da natureza, que está mudando. No passado a gente plantava de tudo, mandioca, banana, milho, arroz, feijão, melancia, banana. Mas hoje a gente está dependendo só das hortaliças, que conseguimos manter no quintal de casa”, explica Elivalda.
A cor e o sexo da fome
No Brasil, a fome tem cor e é feminina. Segundo a pesquisa da Rede PENSSAN, 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas enfrentam algum grau de insegurança alimentar e nas casas em que a mulher é a pessoa de referência, a fome passou de 11,2% para 19,3% em 2021. “As mulheres negras têm mais responsabilidade com a família e a comunidade desde cedo. Elas são obrigadas a terem o cuidado com os outros e se colocarem em segundo plano. Muitas precisam abandonar a educação formal para trabalhar em subempregos ou cuidar dos demais. Com isso, elas são as mais impactadas pela fome”, conta Amanda.
Embora estejam nesse lugar de vulnerabilidade social, são as mulheres negras que estão na ponta da produção alimentar e que pensam nas soluções para combater a insegurança alimentar. No Amazonas, as pessoas negras representam 65% dos agropecuaristas e as mulheres dirigem 21% dos estabelecimentos agropecuários no geral. Segundo a última edição do Censo Agro do IBGE, em 2017, mulheres negras estão à frente de 65% dessas unidades gerais e de agricultura familiar.
O protagonismo das mulheres quilombolas no campo ganha um peso ainda maior nas famílias em que a produção rural e a própria subsistência são lideradas por elas, como é o caso de Aldaíza Rosa de Lima, 56. Na sua família, a produção de comida sempre teve a presença das mulheres, já que era a mãe dela quem cuidava da roça quando o marido saía para trabalhar nos seringais e ficava fora por dias. Quatro décadas depois, é Aldaíza quem ensina aos filhos todos os conhecimentos que aprendeu com os pais e, juntos, eles dão continuidade à tradição familiar.
No quilombo do Tambor, comunidade que ocupa 32% do território do Parque Nacional do Jaú, a 440 quilômetros da sede do município de Novo Airão, no Amazonas, ela planta maniva, cará, banana, batata e mandioca e produz farinha. Aldaíza tem a ajuda do marido e de três dos oito filhos, que misturam conhecimentos ancestrais, como o preparo das sementes crioulas, com técnicas mais modernas de cultivo, como sistemas agroflorestais. Cerca de 25 famílias vivem no quilombo do Tambor e sobrevivem sobretudo da agricultura no período de vazante dos rios e do extrativismo na cheia.
“Nasci em Manaus, mas me criei no interior, em Novo Airão. Desde que me entendo por gente, me reconheço como quilombola, e isso explica a minha relação com a terra. Aprendi desde jovem a plantar com a minha mãe e nunca me afastei do trabalho com a terra, nem depois de casar. Quando o Parque do Jaú (em 2000) foi criado, tivemos que adaptar nossa forma de trabalho, porque não podíamos mais tirar madeira, caçar e pescar para vender. E a agricultura passou a ser ainda mais importante, junto com a pesca e o extrativismo de cipó. Ainda planto as mesmas espécies que minha mãe plantava, mas hoje com os meus filhos”, pontua Aldaíza.
Apesar de viverem dentro de uma Unidade de Conservação (UC) federal, em tese protegida e relativamente próxima à Manaus, a comunidade não está livre dos impactos das mudanças climáticas, como as cheias extremas. Em 2021, na cheia histórica do rio Negro, Aldaíza perdeu uma casa, metade do roçado e quase todas as mudas que havia preparado para o próximo plantio. “O rio subiu tanto que cobriu uma área de terra firme onde plantamos uma roça no período da cheia quando as outras áreas estavam alagadas. Essa roça que me ajudava a ter renda na cheia. Mas, no ano passado, colhemos a metade e a outra metade ficou debaixo d’água, além de quase todas as mudas de coco, açaí e castanheiras que tínhamos preparado para o próximo verão”, lembrou a agricultora.
Outro desafio que tem se apresentado à agricultura familiar na região é a falta de diálogo e de políticas públicas específicas para a população quilombola, principalmente para facilitar o acesso a ferramentas de fomento à produção rural. Assim como na comunidade de Lago de Serpa, o quilombo do Tambor também aguarda, há 16 anos, a titulação do território pelo Incra, processos que estão praticamente paralisados desde 2019.
Novamente, sem a regularização fundiária, o acesso às políticas públicas fica ainda mais difícil. “A gente não é convidado a participar dessas decisões, que depois vão afetar as nossas vidas. A gente vive da floresta, e tudo que prejudica ela vai prejudicar a nossa subsistência também, mas ninguém lembra de perguntar o que a gente acha, o que a gente quer… Quem trabalha no chão da floresta é o primeiro a ter prejuízo, mas o último a receber ajuda”, conta Aldaíza.
Sementes Crioulas e Mulheres Negras na Resistência Contra a Fome
O município de Barreirinha, na região do Baixo Rio Amazonas (a cerca de 330 quilômetros de Manaus), foi o primeiro do estado a adquirir alimentos de produtores quilombolas para compor a merenda escolar por meio de chamada pública. Em maio de 2022, a prefeitura firmou contrato com famílias da comunidade quilombola Santa Tereza do Matupiri para a produção de alimentos orgânicos, usados para abastecer a escola municipal de mesmo nome, que atende alunos desta e de outras cinco comunidades quilombolas do rio Andirá. A primeira entrega aconteceu em abril deste ano e, desde então, a demanda da merenda escolar vem reforçando a renda de famílias como a da agricultora quilombola Jaciara Ribeiro de Castro, 32, que mora na comunidade.
“Nossa dificuldade sempre foi escoar a produção. Como não temos um transporte próprio, metade da renda da colheita fica no transporte até a cidade para podermos vender nas feiras. Ou, então, a gente fica nas mãos do atravessador, que compra direto na comunidade, mas paga o preço que quer. Com a chegada do projeto da merenda escolar, a gente pode ter comprador para boa parte da produção”, contou Jaciara.
No roçado o trabalho é coletivo, como a gente sempre trabalhou no quilombo: quando chega a época certa para plantar, fazemos um mutirão, cada um leva uma coisa, todo mundo faz um pouco e, quando a roça fica pronta, cada um cuida do seu pedaço e colhe.
Segundo a agricultora, são, ao todo, dez famílias que tiram o sustento da produção de alimentos para a merenda escolar. “No roçado o trabalho é coletivo, como a gente sempre trabalhou no quilombo: quando chega a época certa para plantar, fazemos um mutirão, cada um leva uma coisa, todo mundo faz um pouco e, quando a roça fica pronta, cada um cuida do seu pedaço e colhe. A cada 15 dias reunimos a produção de todo mundo para fazer a entrega. Esse projeto da merenda escolar também ajudou muito as crianças, que têm um alimento limpo, saudável e fresco e a certeza de que fome não vão passar”.
Após uma infância e juventude com muita abundância na produção de alimentos, na caça e na pesca, outras fontes de subsistência das famílias quilombolas do Matupiri, os últimos anos vinham sendo de dificuldades para quem depende do equilíbrio ambiental para viver. Chuvas fora de época, cheias recorde, secas prolongadas e o impacto das queimadas, do desmatamento e do assoreamento de cursos d’água afetaram a segurança alimentar de povos tradicionais.
Jaciara conta que quem mora mais perto das fazendas e das margens e cabeceiras dos rios que tiveram a vegetação derrubada para criação de pastos sofre mais com o assoreamento e os agrotóxicos usados no capim – que são levados pela chuva para os igarapés, onde a população costumava pescar, nadar e até usar a água em casa. “Na vazante, as crianças começaram a ter diarreia e vômito, coisa que não acontecia antes”, relata. Hoje, os moradores têm, cada um, seu próprio poço artesiano e evitam usar a água do rio, principalmente na seca. O rio deixou de ser, também, uma fonte de alimento, já que eles não pescam mais ali.
A produção de mandioca, carro-chefe da roça de Jaciara, foi comprometida pelos impactos causados pelo avanço do desmatamento e pela perda de biodiversidade na região do rio Andirá. Responsável por metade da renda da família, que não chega a mil reais por mês, a farinha é vendida a feirantes e atravessadores e não garante sequer a compra de uma cesta básica em uma região onde um botijão de gás custa R$ 170 e a gasolina, necessária para abastecer as embarcações, principal meio de transporte na região, chega a R$ 10 por litro. “Está tudo muito caro. Açúcar a gente compra meio quilo por mês. A carne é 2kg no mês, o resto é da caça e da pesca, que não têm mais a mesma fartura. Já o gás não dá para comprar sempre porque tá muito caro. A gente cozinha na lenha”.
A alta da inflação forçou o marido de Jaciara a dividir o tempo entre a produção familiar e as diárias para produtores rurais da região, cabendo a ela assumir a liderança do plantio da família. Entre as responsabilidades da agricultora está o preparo das sementes crioulas, fundamentais para a garantia da segurança alimentar dos quilombos. Segundo a Embrapa, as sementes crioulas possuem características agronômicas e nutricionais diferenciadas que garantem maior produtividade e agregam valor aos produtos, resultando, ainda, na preservação da biodiversidade, no respeito às culturas locais, geração de renda e na liberdade de escolha para o plantio e alimentação familiar.
Foi a compreensão sobre as dificuldades particulares enfrentadas pelas comunidades quilombolas que levou Maria Amélia, 62, ao cargo de presidente da Federação das Organizações Quilombolas do Município de Barreirinha (FOQMB) em 2011, dois anos depois de voltar para o quilombo após 15 anos trabalhando como empregada doméstica na cidade. “Era o trabalho que a gente conseguia sem estudo. Foi uma mudança difícil. A gente enfrenta muito preconceito, não só pela cor da pele, como por ser do interior. Em 2003 me mudei para Manaus e continuei trabalhando como doméstica até 2009″, contou ela.
A agricultora e estudante de agroecologia no Instituto Federal do Amazonas (IFAM) aprendeu com os pais e avós a plantar macaxeira, maniva, cará, banana, abacaxi, batata, feijão e tudo o mais que eles precisavam para sobreviver. Conhecimentos tradicionais da cultura quilombola sobre plantas medicinais e técnicas de cultivo milenares, como o preparo das sementes crioulas, também foram uma herança dos pais.
“Meu contato com a terra vem desde sempre. Meus pais eram agricultores e tinham uma relação muito forte com a floresta. Quando eu tinha 9 anos, descobri minha descendência de negros com índios. Meu avô me falou que o pai dele era de Angola. Já minha mãe era daqui mesmo, do [rio] Andirá, indígena sateré-mawé. Ela me ensinou a lidar com a medicina da natureza. Eu sabia que era negra, mas só em 2005 surgiu a primeira pesquisa dentro do quilombo que confirmou nossa descendência. Foi quando a nossa luta começou”, conta Maria Amélia.
Entre estudos, reuniões comunitárias e com órgãos públicos nas comunidades e até mesmo em Brasília – para onde ela viajou pela primeira vez como liderança quilombola – a FPQMB conseguiu o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares em 2013, ano em que Maria Amélia começou sua segunda e última gestão à frente da entidade. Hoje ela é vice-presidente da FOQMB. As comunidades quilombolas do rio Andirá que fazem parte da FOQMB e foram reconhecidas pela Fundação Palmares são Santa Tereza do Matupiri, a comunidade polo, onde vivem Maria Amélia e a maior parte das famílias, e ainda: Trindade, Boa Fé, São Pedro do Andirá, Ituquara e São Paulo do Açu.
“Foi nossa luta pelo território que me fez voltar a estudar: quando me candidatei para a minha primeira gestão na FOQMB, fui humilhada porque não tinha estudo, então como ia poder liderar a associação [FOQMB]? Foi quando decidi que queria dar a volta por cima e resgatar a minha dignidade. Retomei [os estudos] e, mesmo com as dificuldades, terminei o ensino médio em 2016, em Barreirinha. Em 2019 voltei a morar em Manaus, mas desta vez para começar a faculdade de agroecologia. Fui a primeira quilombola da nossa comunidade a entrar na universidade”, lembra Maria Amélia.
Aprovada via política de cotas, a agricultora conseguiu se manter na graduação com recursos da Bolsa Permanência, benefício federal de R$ 900 garantido aos povos tradicionais e deve concluir o curso em 2023. Ela já tem planos para o diploma: “Quero voltar para a nossa comunidade e passar para todos o que aprendi, para melhorar nossos sistemas de produção agrícola e o cuidado com o meio ambiente” conta Maria Amélia.
A agricultura familiar é fundamental para garantir a segurança alimentar das comunidades quilombolas do rio Andirá frente ao avanço do desmatamento e das queimadas, o assoreamento de igarapés, a poluição de cursos d’água e a invasão de pescadores e caçadores ilegais.
Agora, seu objetivo, além de garantir a continuidade da cultura quilombola, é contribuir para melhoria das práticas produtivas e adaptação das formas de cultivo diante dos novos desafios impostos por impactos da crise do clima. Entre os conhecimentos que já aprendeu na de faculdade de agroecologia, e que já conseguiu implantar em sua comunidade, estão técnicas de compostagem natural e de preparo do solo sem uso de fogo, rotação de culturas, preparo de adubos ecológicos e uso de plantas e produtos naturais para controle de insetos.
Como próximo desafio está a implantação de um sistema agroflorestal na comunidade, onde o plantio de culturas agrícolas é consorciado com espécies nativas, aliando a produção de alimentos à preservação florestal. “A gente aproveita também para preservar e ainda podemos voltar a tirar cipó e palha, colher frutos, e ajudar a proteger os animais que dependem da floresta. Vamos começar um projeto com quatro famílias, mas vai ser um experimento coletivo, vamos compartilhar os conhecimentos com toda a comunidade”, detalha ela.
O sistema agroflorestal é apontado pelo último relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) como uma das ações necessárias para reduzir as emissões globais e limitar o aquecimento do globo em até 1,5ºC, junto com a transição energética e redução do desmatamento. Consideradas de baixo impacto e regenerativas, a agroecologia e agricultura familiar são vistas pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) como soluções para as crises alimentar, climática e desigualdade.
A agricultura familiar é fundamental para garantir a segurança alimentar das comunidades quilombolas do rio Andirá frente ao avanço do desmatamento e das queimadas, o assoreamento de igarapés, a poluição de cursos d’água e a invasão de pescadores e caçadores ilegais. Segundo Maria, esse conjunto de ações somadas gerou escassez dos mais variados recursos da floresta, de sementes e óleos a cipós e frutas, passando pelos próprios animais. A comunidade era cercada de castanheiras e tucumãzeiros, mas os fazendeiros colocaram tudo abaixo para transformar em pasto.
Quando não havia desmatamento nas margens dos igarapés, áreas de terra firme eram usadas para plantar no tempo de cheia, pois não alagavam, mas o efeito dominó da devastação afeta todo o ecossistema da área. “As frutas que davam na seca somem, daí não tem mais o peixe, que vinha para comer a fruta que caía no rio. As queixadas, por exemplo, não acham mais comida na floresta e atacam as nossas roças de bando. O que elas não comem, pisoteiam, e chegam a destruir um canteiro inteiro num dia. E não são os únicos animais que estão invadindo nossas roças. Mas a gente sabe que eles não são o problema. Eles estão fugindo do mesmo problema que a gente, só que aqui é nossa casa, a gente não pode fugir”.
No entorno das comunidades quilombolas, Maria Amélia diz que a pressão vem ainda das extrações ilegais de madeira, areia e terra, além da caça e da pesca clandestina em áreas protegidas: “Começamos a ter problemas com as invasões em 2013, mas de 2019 para cá isso aumentou muito, porque a fiscalização ambiental praticamente desapareceu. Só entre 2019 e 2021 um fazendeiro, sozinho, derrubou uns 60 hectares de floresta dentro do território quilombola”, recorda ela. A denúncia foi feita aos órgãos competentes, mas não houve nenhuma resposta.
O descaso das autoridades é parte e parcela do racismo ambiental e climático enfrentado pelas comunidades amazônidas. Apesar de estarem entre os primeiros a sentirem os impactos da crise do clima e da devastação dos ecossistemas, e de forma mais severa, esses grupos seguem invisibilizados, inclusive nos debates nacionais e internacionais sobre o tema. “Eu sempre ouvi falar em racismo, e achava que era só quando alguém ofende outra pessoa por causa da cor da pele ser mais escura. Mas com os parceiros na comunidade e na faculdade, aprendi que é muito mais que isso. A gente vive isso na prática, e muita gente nem se dá conta”, relata Maria.
A presença dos fazendeiros trouxe ainda outro problema, pois “viciaram os homens em uma diária de trabalho R$ 45, que para quem tem quatro filhos não é nada. Eles são atraídos com a imagem do dinheiro fácil, mas como não produzem mais, se a mulher não assume a roça, a família fica sem ter o que colher para comer e sem dinheiro para comprar comida”, conta a estudante. Dessa forma, as mulheres acabam assumindo a jornada tripla: além da casa e das crianças, também são elas que precisam cuidar da roça e garantir o alimento diário. Porém, muitas vezes, sem reconhecimento do trabalho. “Por isso queremos criar grupos de mulheres agricultoras, para apoiarmos umas as outras”, finaliza ela.
Leia mais
- Mapa da fome: pesquisa mostra onde estão as pessoas em insegurança alimentar no país
- Vamos parar a escalada da insegurança alimentar
- Produção agrícola global não dá conta de meta de segurança alimentar da ONU
- A guerra e os riscos para a segurança alimentar
- “Com a guerra, a fome voltará a explodir no mundo”
- Pesadelo: fome para 811 milhões de pessoas
- A guerra na Ucrânia pode desencadear uma crise mundial de alimentos
- Países caribenhos e latino-americanos aumentam exportações de alimentos, mas parte do seu povo passa fome
- “Efeitos colaterais” da guerra de Putin: o bloqueio no Mar Negro atrasa a disponibilidade e entrega de ajuda alimentar ao Iêmen e à Etiópia
- Nos países pobres já se percebe a carestia
- Guerras, fome e carestia: o escândalo continua
- Assim os conflitos bélicos influenciam na insegurança alimentar
- Escreve-se guerra, lê-se fome. Alerta da ONU sobre as crises: 124 milhões em risco
- A escalada dos preços dos alimentos
- Preços dos alimentos nos máximos históricos. FAO: risco de fome
- As crianças da África e do Oriente Médio pagam os preços recordes pelo alimento






