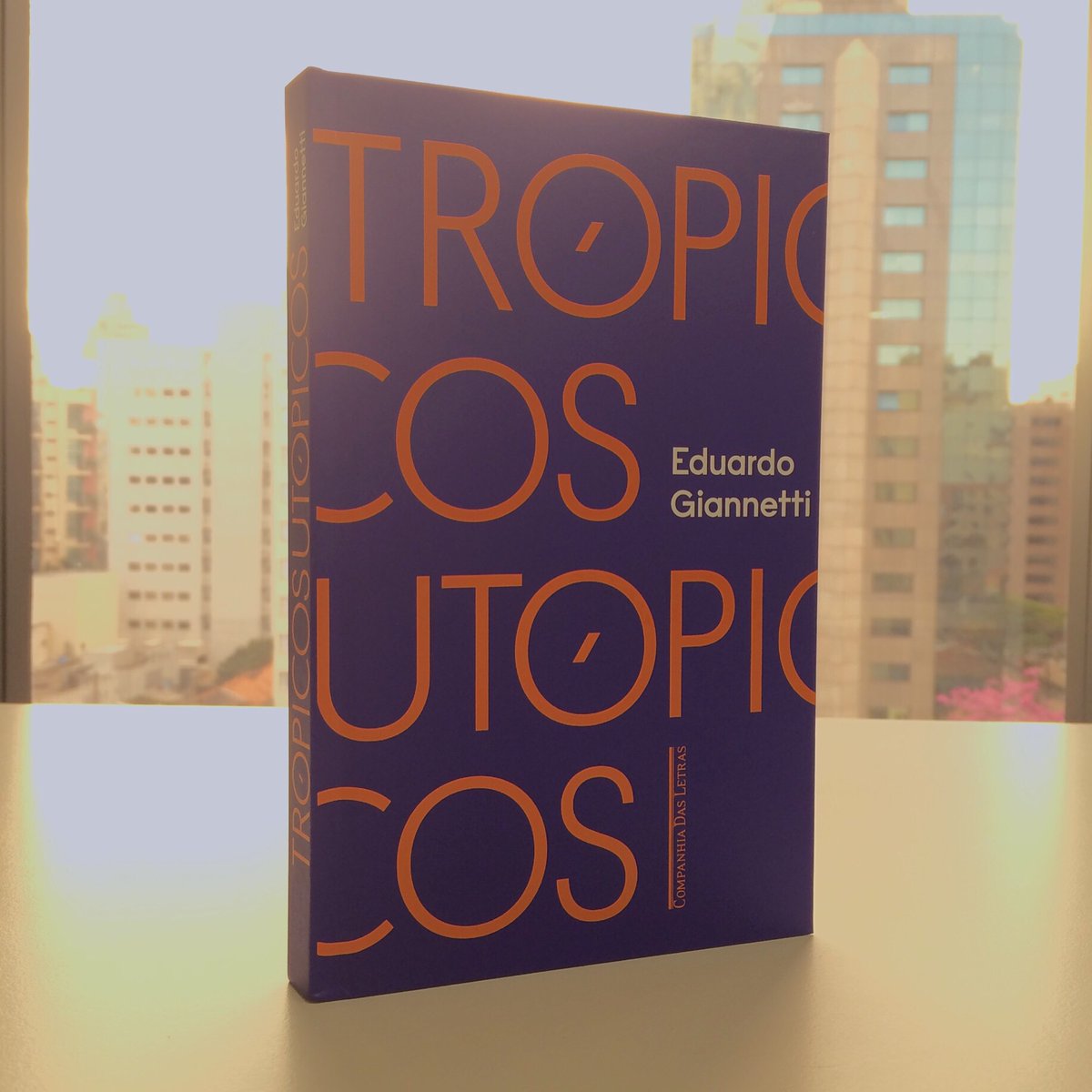11 Mai 2021
Deixemos claro, desde o início: o colapso não é o fim do mundo. É o fim deste mundo, conforme hoje o conhecemos. Não é o apocalipse. Um colapso, segundo a definição de Yves Cochet, é “o processo a partir do qual uma maioria da população não conta mais com as necessidades básicas (água, alimentação, abrigo, vestimenta, energia, etc.) cobertas [por um preço razoável] pelos serviços previsto pela lei”.
Pablo Servigne (Versalhes, 1978) é autor, junto com Raphaël Stevens, de um best-seller que encara de frente o futuro: Colapsología (Arpa, 2020). São muitos os dados (climáticos, mas não só) que apontam que caminhamos para o afundamento de nossa civilização.
“Ainda que fizéssemos uma paralisação total e imediata das emissões de gases do efeito estufa, o clima continuaria esquentando durante algumas décadas. Seriam necessários séculos, até mesmo milênios, para empreender o retorno às condições de estabilidade climática pré-industrial do Holoceno”, escreve Servigne.
Sendo assim, o desmoronamento parece certamente inevitável. O que não sabemos é como será a vida humana após o desaparecimento das calotas polares, o esgotamento das matérias-primas energéticas, a escassez de água doce, de alimentos, de solo fértil e de ar limpo por conta da poluição, da multiplicação de epidemias e de fenômenos meteorológicos extremos, as migrações em massa...
A famosa série L’Effondrement [O colapso] (2019) tomou o livro de Servigne como ponto de partida para imaginar esse futuro (com resultados desiguais).
O marco cultural dominante (o neoliberalismo) nos leva a pensar que será uma competição até a morte, ao estilo Mad Max. A história natural e a ciência nos apontam o contrário: a lei do mais forte costuma ser suspensa em períodos de crise para dar passagem ao apoio mútuo, conforme destacou Piotr Kropotkin, para garantir a sobrevivência da espécie.
Conversamos sobre todos estes temas com Servigne, aproveitando sua passagem por Barcelona para dar uma conferência na Escola Europeia de Humanidades, da Fundação La Caixa.
A entrevista é de Manuel Ligero, publicada por La Marea-Climática, 10-05-2021. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
É possível considerar seu trabalho como uma continuação do que Jay Forrester, Donella Meadows e muitos outros intelectuais fizeram, nos anos 1970. Eles já avisaram sobre ‘Os limites do crescimento’. Por que, 50 anos depois, ninguém quer ouvi-los? Há um obstáculo de caráter psicológico para além do político e o econômico?
O obstáculo psicológico é um a mais. Ciência e crença assumem caminhos diferentes. Passou meio século e os trabalhos científicos contribuíram com uma enorme quantidade de dados. No entanto, não conseguimos fazer com que se acredite neles. Existe um grande problema aí: não acreditamos completamente no que, efetivamente, já sabemos.
Há uma grande variedade de obstáculos, de empecilhos, que poderiam explicar esse fenômeno. Empecilhos políticos, econômicos, psicológicos, jurídicos, financeiros... Há empecilhos individuais, pelo simples fato de se ter medo ou de não compreender o que está acontecendo, e também empecilhos coletivos.
Existem pessoas que recebem milhões de dólares, por meio de seus think tanks, para fabricar e propagar dúvidas. São os chamados mercadores da dúvida. Mas, apesar de todos esses fatores, após 50 anos de trabalho, a ciência vai abrindo passagem, pouco a pouco. Hoje, as pessoas sabem mais e acreditam um pouco mais. Esse limiar de medo e dúvidas vai ficando para trás, também porque temos visto como os desastres naturais se sucedem.
Você é doutor em Biologia, engenheiro agrônomo e especialista em mirmecologia [a ciência que estuda a vida das formigas], mas um dia decidiu deixar seu trabalho como pesquisador universitário. Afastou-se das publicações científicas e da competição que as caracteriza para assumir um ativismo popular. Sente-se mais útil do que em seu trabalho anterior?
Não sei se sou mais útil. O que, sim, sou é mais feliz. Deixei a concorrência da pesquisa científica há oito anos, afastei-me de tudo isso do publish or perish [publique ou pereça]. Adorava esse ofício, mas precisava me afastar desse ambiente. Não queria permanecer na torre de marfim de nosso laboratório.
O que queria de verdade é informar o máximo de pessoas. E ao fazer isso, sentia-me cada vez mais alegre e mais útil, ao poder escrever para o grande público, em francês ou em espanhol, em vez de escrever complicados artigos acadêmicos em inglês que, por fim, ninguém lia. Para mim, foi muito gratificante ir ao encontro de um público popular, de diferentes classes sociais e com diferentes atividades, para adaptar o discurso científico e o tornar mais acessível.
Você está entre os especialistas que dizem que o colapso não ocorrerá somente pelas causas climáticas, mas também pela desigualdade. Por que insiste tanto nesse ponto?
Essa é uma parte importante de nosso livro Colapsología. Há muito estudos que mostram até que ponto a desigualdade é tóxica, corrosiva para uma sociedade. Destrói a confiança, a democracia, o bem comum, o conceito de uma narrativa, de um horizonte comum. É um fator decisivo para o colapso.
Há um modelo estatístico muito interessante, o modelo HANDY [Human and Nature Dynamics, desenvolvido em 2014], que estabelece a relação entre a sociedade e seu meio ambiente. Pela primeira vez incluiu a desigualdade em seus parâmetros e o que indica é que quanto mais uma sociedade é desigual, mais possibilidades têm de entrar em colapso, e de forma mais rápida.
E por quê? É muito simples. Porque a desigualdade cria uma casta de ricos que extrai recursos do povo e da natureza, e essa exploração combinada de bens, recursos humanos e recursos naturais propicia um risco irreversível de colapso. Dito de outra maneira, a prioridade hoje para evitar riscos e danos maiores é compartilhar, é reduzir as desigualdades.
Logicamente, a maior parte da opinião pública, em todo o mundo, recebeu a vacina contra o coronavírus com alegria e alívio. As pessoas querem voltar ao mundo de antes, assim como era, sem mudar nada. Você refletiu a esse respeito?
Questão difícil. Ainda nos resta muito a conhecer sobre a COVID-19. Como biólogo, eu diria que temos que aprender a viver com o vírus, assim como antes fizemos com a gripe. A vacina ajuda a minimizar a comoção, por assim dizer, mas a sociedade irá mudar. Existe a tentação de pensar que voltaremos ao mundo de antes, mas é difícil.
Sobre esta questão, tenho dificuldades em falar de crise porque os desastres se superam e as crises passam. Na narrativa do colapso o que causa medo é justamente o seu lado irreversível. Para mim, o medo está no núcleo deste problema, e o importante é saber de que maneira afetará as pessoas. Pode perturbar as pessoas mais velhas até o ponto de congelar suas vidas. No caso dos jovens, ao contrário, o medo pode ser uma motivação, pode ativá-los.
Mas por que provoca tanto sofrimento pensar que, inevitavelmente, caminhamos para outro tipo de sociedade? Esta ânsia em voltar ao mundo de antes não é um sintoma de nosso vício pelo capitalismo?
Sim, claro. Há um vício pelo crescimento econômico, os recursos naturais, o petróleo, a energia... Não sei se todo mundo sofre com isso, mas o que é indubitável é que a mudança sempre causa medo. Há pessoas que não querem mudar porque têm medo e outras que não querem mudar por causa de seu próprio interesse econômico.
O mundo se tornou muito grande e está muito interconectado. A menor perturbação pode provocar danos consideráveis em toda a economia. Em inglês, são utilizadas as expressões too big to fail [muito grande para quebrar] e too big to jail [muito grande para ir para a prisão]. Esse é um dos principais problemas da transição ecológica.
O capitalismo é um dos empecilhos dos quais falávamos antes. No livro, utilizamos a metáfora do carro sem controle: nossa civilização industrial é um carro com o tanque prestes a se esgotar; é noite e estamos cercados pelo nevoeiro; os freios não funcionam, não podemos tirar o pé do acelerador, saímos da estrada e os buracos danificam a estrutura do veículo; e, por fim, percebemos que o volante não funciona. Esse volante travado que nos impede de mudar de direção é o capitalismo.
Em seu livro, recomenda consumir produtos culturais que falem da mudança climática. Trata-se, em sua avaliação, de aprender a imaginar o futuro por meio de documentários, filmes, romances, gibis... Já se passou algum tempo desde que escreveu isto. Sua opinião mudou? Não fica preocupado com o medo e a ansiedade que essas narrativas, quase sempre apocalípticas, possam gerar?
Não, continuo opinando a mesma coisa. O medo faz parte da vida e é lógico que esteja nessas narrativas. Mas também é preciso imaginar outros futuros melhores, outros horizontes, e sobretudo falar de clima, de biodiversidade.
A série ‘O Colapso’ se concentra em coisas mais alarmantes. Mostra fundamentalmente o lado violento e egoísta do ser humano.
Os criadores da série [o coletivo Les Parasites] são amigos. A história surgiu a partir de uma entrevista que fizeram com o astrofísico Jacques Blamont e eu e que dirigiram para Thinkerview. Escreveram o roteiro buscando ser positivos, a intenção inicial não era provocar medo, mas... não conseguiram. Compreendo que é difícil quando se fala em colapso, porque nesse contexto o medo ocupa todo o espaço. O tema do clima, por exemplo, não está muito presente na série.
Há um escritor indiano, Amitav Ghosh, que faz ficções sobre o clima e que escreveu um ensaio intitulado The Great Derangement, no qual questiona a ausência deste tema na literatura. Como cientistas, nós que falamos sobre colapsologia chegamos apenas aos números, ao plano mental, mas para o grande público isso é difícil de digerir. É preciso também falar a partir do coração, das emoções, da imaginação.
As lágrimas são proibidas para o cientista. É difícil ver lágrimas quando você acaba de dar uma palestra. Mas quando toca o coração, provoca uma tomada de consciência muito mais poderosa do que a possível com os números. O ideal é combinar o rigor científico com o calor da narrativa. Os dois elementos são necessários para conseguir o fundamental: levar à ação.
É possível dizer que você começou escrevendo diretamente ao intelecto e que depois, nos livros posteriores, como ‘L’entraide: l’autre loi de la jungle’ [‘O apoio mútuo: a outra lei da selva’], toma um caminho mais emocional e mais político?
Não exatamente. O plano inicial era fazer uma trilogia. O primeiro volume, que é Colapsología, é efetivamente um livro denso, frio, seco, racional, composto fundamentalmente por dados que falam à cabeça antes que ao coração. Raphaël [Stevens] e eu ficamos muito surpresos com o fato de ter contado com uma acolhida tão emocional, que tenha comovido tanta gente.
O plano seguia, posteriormente, com um segundo volume que seria a colapsosofia, que falaria da sabedoria, das histórias e as emoções. Porque não se trata apenas de sobreviver à tempestade, é preciso aprender a viver na tempestade. Intitulou-se Une autre fin du monde est possible [Outro fim do mundo é possível].
E o terceiro volume é a colapso-práxis, no qual estamos trabalhando agora e que será um livro mais coletivo e de ordem prática, dedicado à questão política e a organização. Nele falaremos do corpo em um duplo aspecto: o pessoal, de quem sofre o choque em seu próprio corpo, e o do corpo social.
Ao concebê-lo assim, em uma trilogia, queríamos seguir a célebre estrutura de Gilles Deleuze: conceito, afeto, percepto. L’entraide foi um livro que surgiu em paralelo a estes e que contribuiu para que o público tenha uma imagem do futuro um pouco mais positiva e que aceite o discurso do colapso.
O confinamento provocado pela COVID-19 despertou certa solidariedade entre as pessoas dos bairros e das pequenas comunidades rurais. Acredita que este apoio mútuo pode ser um comportamento permanente ou está limitado a momentos de crises?
As duas coisas. A experiência nos mostra que quando há catástrofes pontuais e inesperadas as pessoas colaboram de maneira altruísta. E não apenas isso: reagem de uma forma extraordinária. Surge uma auto-organização quase perfeita e se age com uma calma incrível. Ou seja, ocorre totalmente o contrário do que esperamos.
Acreditamos que após a catástrofe se espalha o pânico, começa uma luta de poder para conduzir a organização das coisas e se age de forma egoísta. É falso. É cientificamente falso. Sim, quando os efeitos da catástrofe se alongam no tempo, o apoio mútuo se derrete. Nós escrevemos sobre os mecanismos que o ser humano adotou ao longo de milhares de anos para estabilizar estas redes de apoio. O apoio mútuo é muito poderoso, mas também muito frágil. Também pode entrar em colapso em um instante.
A desigualdade, obviamente, faz parte dos fatores de dissolução, de desagregação social. A perda de confiança, o sentimento de injustiça, o sentimento de insegurança, todos estes são fatores que podem arruinar a solidariedade e a cooperação. Por isso, mesmo que surja de forma espontânea nos piores momentos, é preciso trabalhar em uma cultura cotidiana de apoio mútuo. E também, é claro, deixar para trás a cultura da competição e do egoísmo que hoje é a dominante por conta da ideologia neoliberal.
Quando sofrermos a primeira crise climática grave, o normal será que os cidadãos reajam com ira pela inação dos governos. Essa irritação, politicamente falando, pode se traduzir em uma ascensão dos movimentos fascistas?
É muito provável que sim, mas não é inevitável. Ainda há margem de manobra. Mas se nos fixarmos na história, vemos, com efeito, que o autoritarismo costuma ser uma das etapas habituais nos colapsos. Nos momentos de caos, sempre há uma busca colérica de culpados. Inventam-se bodes expiatórios para canalizar a violência, como os judeus, os refugiados, os estrangeiros...
E também se busca a proteção paternal de um homem forte, com o fator agravante de que este ditador não acalma a situação, mas, pelo contrário, participa do caos e traz mais desigualdades, mais conflito e mais violência.
Mas a cólera também pode assumir outras direções. A raiva é o que anima, por exemplo, os e as jovens de Extinction Rebellion. Possuem dois slogans muito descritivos: “Amor e raiva” e “Quando a esperança morre, a ação começa”. Eles vão além das promessas e esperanças. Não possuem mais tempo para isso.
Na França, despertam a memória da luta contra o nazismo, daqueles garotos que se alistavam na Resistência com 15 ou 16 anos. Há algo muito belo neste desespero ou na raiva que representa, por exemplo, Greta Thunberg. Politicamente falando, é preciso cultivar o lado bom da cólera, do medo e da desesperança. Apelar às emoções é arriscado, sei disso, o sucesso não está garantido, mas também não temos muitas outras opções.
Dado que o colapso parece inevitável, seu trabalho de ativismo se baseia em dizer às pessoas que devem se preparar para o sofrimento que está por vir. Alguma vez teve dúvidas sobre este ponto? Pensou na possibilidade de diminuir o tom para explicar esta realidade de uma forma menos dura?
Não. Como cientista, sempre tive paixão pela verdade. Além disso, tento compartilhar a maior parte da informação de uma forma benéfica, embora seja verdade que não costumo ser muito emocional nas conferências. E sim, é preciso aceitar o sofrimento, a morte, o luto, o medo. No budismo, e também em outras escolas espirituais, é ensinado justamente isso: a viver com a dor, para viver melhor.
Eu prefiro não mentir e tentar aprender a administrar o sofrimento. O curioso disto é que os meninos, as meninas, os e as adolescentes que comumente estão presentes no público me agradecem. Isso me emociona muito. Me agradecem pela sinceridade e a franqueza, e de repente o problema passa a ser uma questão de coragem, não de medo ou de dor.
Pois bem, a priori alguém poderia dizer que não estamos em uma época muito propensa ao sacrifício e à aceitação da dor, menos ainda entre os jovens. A geração de nossos pais e de nossos avós, sim, estava mais acostumada a lidar com o sofrimento. Eles não se assustariam com um discurso como o seu.
Também não acredito que eu tenha um discurso tão severo. Há outros muito mais duros e mais sombrios do que eu. De qualquer modo, acredito que há 50 anos o discurso suave não mudou muito as coisas. Neste tempo, a única coisa que conseguimos é nos fazer ouvir. Nosso discurso antes era inaudível e agora é audível. E antes era dirigido ao futuro, agora não. Trata-se do presente, de nós.
A geração atual teve um clique. Os jovens acordaram, com amor e com raiva, e querem fazer as coisas de outro modo, aceitando o combate, o sofrimento, a resistência. Aconteceu em outros momentos de crises. Pense nas juventudes da CNT ou nos jovens que se alistaram nas Brigadas Internacionais, durante a Guerra Civil. Não estavam pensando em hedonismo e alegria. Sabiam, por convicção moral, que havia chegado a hora de lutar.
Neste momento, a metáfora do incêndio é muito útil. Imagine que você vê fumaça perto de sua casa. Você tentará saber de onde vem essa fumaça, se as chamas podem chegar até o seu domicilio, se os vizinhos que há dentro daquele edifício são vulneráveis, como pode ajudá-los, como se organiza a evacuação... Evidentemente, sentirá medo, mas o que fará? Retirar-se? Não. Bem, a colapsologia é exatamente isso. Há décadas que estamos vendo a fumaça e sabemos que já existem pessoas que estão morrendo.
Leia mais
- “A única maneira de atravessar os desastres deste século é nos unir”. Entrevista com Pablo Servigne
- “O nível de vida irá diminuir, e isso pode ser antecipado ou sofrido”, afirma Pablo Servigne
- “Na Fratelli Tutti, o Papa expressa uma sabedoria pessoal e política”. Entrevista com Pablo Servigne
- “Este século será difícil e é preciso se organizar”, avalia Pablo Servigne
- “Temos que nos preparar para um século de desastres”, adverte Pablo Servigne, teórico da colapsologia
- “O capitalismo nos prepara para sermos queimados na procura de energia”. Entrevista com Michael Marder
- O papa e a vida após o vírus: “Ecologia e solidariedade são os pilares do novo mundo”
- “A ecologia é a questão política, social e humana central no século XXI”. Entrevista com Michael Löwy
- “A crise ecológica não é o fim do capitalismo, é o capitalismo com menos pessoas”. Entrevista com Mark Alizart
- A ética da responsabilidade é um caminho para encarar a crise ecológica e dilemas de nosso tempo. Entrevista especial com Wendell Lopes
- Da Crise Ecológica ao pensamento complexo. Entrevista especial com Edgard de Assis Carvalho
- O capitalismo morreu, viva o capitalismo
- Existe vida além do capitalismo. A busca de uma alternativa. Artigo de Giannino Piana
- A dor social, arma política do capitalismo digital
- Milhões em fuga devido à catástrofe ambiental. Entrevista com Marco Aime
- “É preciso que a velha lógica extrativista, predatória, neoliberal ceda ao realismo da necessária reconstrução ecológica”
- Crise climática e alimentar são os principais desafios do mundo pós-pandemia
- Pandemia e mudança climática ameaçam estabilidade global, diz relatório