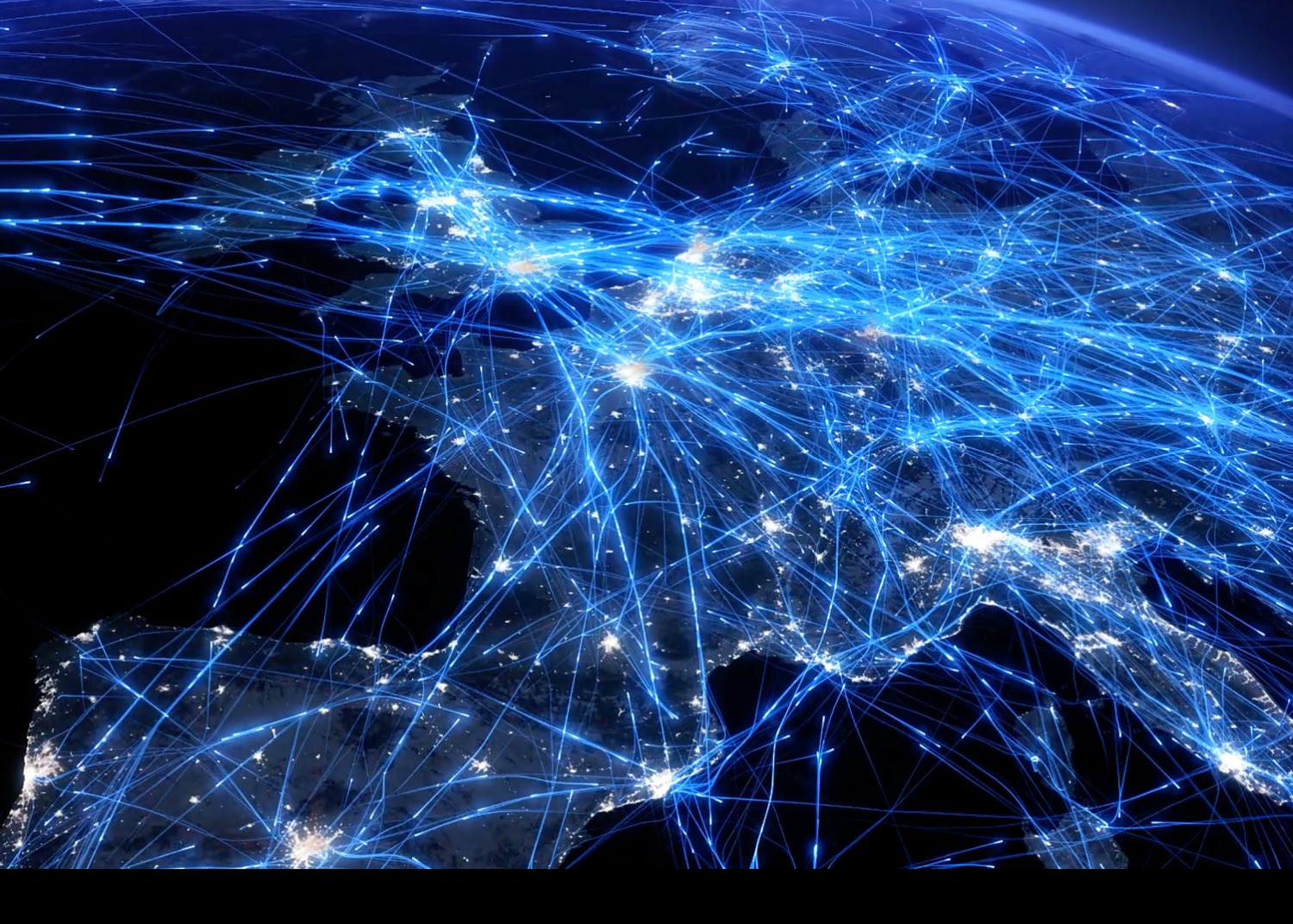14 Julho 2020
UbûÙqua e inacessûÙvel, polissûˆmica e fantasmagû°rica, a ideia de informaûÏûÈo se tornou o fio que parece entrelaûÏar tudo o que existe, tudo o que existiu e inclusive o que talvez nunca exista. Seres humanos, animais, vegetais, mas tambûˋm objetos e mûÀquinas, todos somos, em û¤ltima instûÂncia, sistemas de dados.
Esse dogma ûˋ o resultado de um longo processo cultural que conjuga prûÀticas sociais e discursos cientûÙficos, e cuja genealogia ûˋ reconstruûÙda por Pablo RodrûÙguez em seu livro ãLas palabras en las cosasã (Cactus).
A entrevista ûˋ deô Javierô Lorca, publicada porô PûÀgina/12, 13-07-2020. A traduûÏûÈo ûˋ doô Cepat.
Com o tûÙtulo do livro, RodrûÙguez ã professor da Universidade de Buenos Aires - UBA e pesquisador do Conselho Nacional de InvestigaûÏûçes CientûÙficas e Tûˋcnicas - CONICET ã nûÈo sû° faz referûˆncia a Michel Foucaultô para pensar continuidades e transformaûÏûçes a respeito de sua obra, como tambûˋm sugere, diretamente, que a linguagem se tornou autûÇnoma do humano e se expandiu aos computadores, algoritmos, molûˋculas...
Eis a entrevista.
Como se construiu este processo que tem a ideia de informaûÏûÈo como eixo? No livro, o define como uma nova episteme.
Episteme ûˋ um conceito que se refere a um cû°digo fundamental da cultura a partir do qual todos os soldadinhos se acomodam em um sû° regime, em uma matriz muito identificûÀvel. Foucaultô aplicava a ideia de ãepisteme modernaã û s ciûˆncias humanas e sociais, ou seja, û s ciûˆncias que surgiram no sûˋculo XIX e que eram um discurso de saber acerca do humano. NûÈo ûˋ que antes nûÈo houvesse discursos sobre o humano, mas, sim, que naquele momento determinados discursos cientûÙficos definem o que ûˋ o humano.
A partir da ideia de informaûÏûÈo ûˋ possûÙvel notar que hûÀ um grande conjunto de ciûˆncias que se acomodam segundo um critûˋrio diferente. E nûÈo sûÈo sû° ciûˆncias, tambûˋm hûÀ questûçes vinculadas û s artes, por exemplo. A informaûÏûÈo ã na realidade, no livro falo de informaûÏûÈo, comunicaûÏûÈo, organizaûÏûÈo e sistema ã ûˋ uma palavra que comeûÏa a ser aplicada a um montûÈo de coisas diferentes: a uma molûˋcula, a um cûˋrebro, a um computador... A informaûÏûÈo ûˋ candidata a ocupar um lugar central em uma episteme, na medida em que tenta explicar um grande conjunto de variûÀveis de ordens diferentes.
Quando comeûÏa esse processo?
Sua manifestaûÏûÈo pode ser localizada nos anos 1940-1950. Quase nenhuma histû°ria das ciûˆncias conferiu a importûÂncia merecida û s Conferûˆncias Macy, uma sûˋrie de encontros cientûÙficos que foram realizados nos Estados Unidos, entre 1946 e 1953. AûÙ surge a ideia da cibernûˋtica ã ûˋ o nome que recebe de Norbert Wiener ã e, dentro da cibernûˋtica, o problema da informaûÏûÈo. Desde entûÈo, surgem as relaûÏûçes com a biologia molecular, a computaûÏûÈo - que surge nessa ûˋpoca -, as ciûˆncias cognitivas... Essa ûˋ a emergûˆncia forte da nova episteme.
Mas, na realidade, essa ideia de informaûÏûÈo jûÀ estava prefigurada muito tempo antes. Por exemplo, na estatûÙstica, que constitui um tipo de saber no qual os signos se acomodam sû°s, ou seja, um tipo de saber onde se manifesta a possibilidade de que as representaûÏûçes das coisas adquiram um sentido prû°prio para alûˋm do que estûÈo representando.
Foucault dizia que na episteme moderna a representaûÏûÈo estava aprisionada na figura do homem. Mas, naquele mesmo perûÙodo, em filigrana, jûÀ havia um conjunto de discursos e disposiûÏûçes que, depois, a cibernûˋtica revelou, como destampando a panela. û a ideia de que hûÀ uma ordem dos signos que ûˋ parcialmente independente do humano. Isso ûˋ o que a cibernûˋtica escancara.
Quais sûÈo as prûÀticas sociais que caracterizam este novo ordenamento?
Hoje, nossa vida cotidiana estûÀ atravessada pelas tecnologias da informaûÏûÈo, WhatsApp, redes sociais, geolocalizadores para nos movimentar... HûÀ uma parte nada menor da vida social da maioria das pessoas que passa pela mediaûÏûÈo de plataformas informûÀticas. NûÈo discuto que existe a brecha digital, e que muita gente nûÈo estûÀ conectada. Mas para os que sim, estamos, a informaûÏûÈo estûÀ absolutamente imbricada em nossa vida.
Atûˋ os anos 1980-1990, o imaginûÀrio acerca de tudo isto era o do virtual, sociedade virtual, aula virtual, segundo a qual se estava duplicando um mundo por outro. Mas agora, se conhecemos alguûˋm atravûˋs de uma plataforma, jûÀ nûÈo podemos dizer que hûÀ uma duplicaûÏûÈo. Sim, podemos dizer que vocûˆ coloca em um aplicativo o que antes demorava para fazer: conhecer alguûˋm, ir a um bar (hoje, vocûˆ tem o Tinder), ou trocar cassetes no Parque Rivadavia (hoje, vocûˆ tem o Spotify). A todo momento estamos deixando nossos dados para que essas plataformas ou dispositivos nos digam o que temos que fazer. Estamos esperando que nos digam o que fazer, nûÈo que estejamos preocupados com isso.
E isto tambûˋm nos leva û pergunta sobre se os nossos comportamentos nûÈo sûÈo tambûˋm de alguma maneira algorûÙtmicos. Alguûˋm pode dizer que o Tinder ûˋ a objetivaûÏûÈo e a tecnificaûÏûÈo do desejo. Mas tambûˋm quando conhecemos outra pessoa fazemos certos cûÀlculos. NûÈo ûˋ que sejamos seres puramente calculistas, mas as coisas que estûÈo no algoritmoô sûÈo humanas, porque esses algoritmos foram desenhados por seres humanos. O fato que hoje estamos nos colocando manifestamente a viver pela mediaûÏûÈo desses algoritmos, dessas redes e dispositivos. Se nûÈo entendemos a noûÏûÈo de informaûÏûÈo, isso nûÈo serûÀ entendido.
HûÀ novas subjetividades prû°prias desta etapa?
Quando buscamos informaûÏûÈo na web ou nas redes, essa busca nûÈo se produz em um mundo livre de dados disponûÙveis, mas estûÀ determinada pelas buscas passadas, por nosso perfil de usuûÀrio e pelos outros perfis. A informaûÏûÈo que nos entregam como resultado estûÀ determinada por isso. Se isto fosse algo acessû°rio para a vida social, seria um joguinho. Mas se isso ûˋ parte central de nossas vidas, se muitas pessoas dedicam muito tempo de suas vidas ao Facebook ou ao Instagram, por exemplo, isto deve afetar ao que chamamos de subjetivaûÏûÈo, aos modos de produûÏûÈo de sujeitos. Se os modos de relaûÏûÈo entre as pessoas passam por estes processamentos de dados, temos um processo de subjetivaûÏûÈo diferente do que tûÙnhamos.
No livro, utiliza o conceito de ãdividualã para explicar esta transformaûÏûÈo.
û um conceito utilizado por Deleuze, mas que tem uma histû°ria por trûÀs, relacionada û ideia de que o indivûÙduo nûÈo ûˋ completamente indivûÙduo, mas que ûˋ divisûÙvel ou multiplicûÀvel por si mesmo. Isto ûˋ difûÙcil para nû°s pensarmos porque ainda somos modernos, vivemos a partir da ideia de que hûÀ uma coincidûˆncia entre corpo, pessoa, indivûÙduo, sujeito. Hoje, as teorias de gûˆnero colocam isso em discussûÈo, mas, em geral, continuamos pensando assim.
No entanto, isso estûÀ se alterando, hûÀ uma espûˋcie de fragmentaûÏûÈo que se expressa por exemplo nas redes sociais. A construûÏûÈo do subjetivo sempre ûˋ social, mas hoje tratamos com nû°s mesmos e nos relacionamos com os outros como se todos fûÇssemos um grande pacote de dados. Saibamos disto ou nûÈo. Se eu edito a informaûÏûÈo de meu perfil, estou consciente disso. Mas nûÈo estou pensando nisso toda vez que as redes me sugerem conteû¤do ou contatos. Cada oferta de amizade que a rede nos oferece ûˋ o resultado de um grande processamento de dados, que inclui os dados prû°prios. Seus perfis nas redes sûÈo parte de vocûˆ, sem ser vocûˆ mesmo.
Neste processo de dividuaûÏûÈo, o indivûÙduo se torna coisas diferentes, que podem ser remetidas a ele, mas nûÈo somente. Um caso desta dividuaûÏûÈo sûÈo as unidades biolû°gicas. A informaûÏûÈo de uma anûÀlise genûˋtica, por exemplo, ûˋ a expressûÈo de uma pessoa, mas nûÈo ûˋ a prû°pria pessoa. Dizemos que hûÀ informaûÏûÈo nas molûˋculas, e essa informaûÏûÈo se manifesta em uma sequûˆncia, e essa sequûˆncia a retiramos de um tecido que, por sua vez, faz parte de um corpo. AûÙ temos quatro instûÂncias.
Se um laboratû°rio diz ãeu sou dono de tal sequûˆncia genûˋtica porque pude obtûˆ-laã, um Estado pode lhe dizer que nûÈo, que se trata de um bem comum, como aconteceu com o sequenciamento do genoma humano. A sequûˆncia nûÈo ûˋ uma materialidade, nûÈo existe fora de um tecido, mas se um laboratû°rio a leva, ûˋ como se levasse uma parte da pessoa de onde provûˋm. O mesmo acontece com as cûˋlulas-mûÈe.
Todos estes exemplos nos dizem que um nûÈo se ûˋ unicamente um, mas que estamos espalhados em diferentes pacotes de dados, fragmentados em diferentes lugares. E todos esses dados sûÈo parte de nû°s, sem ser nû°s. Com tudo isso estabelecemos uma relaûÏûÈo de interioridade e exterioridade, nos representam em algo e, ao mesmo tempo, nada de tudo isso ûˋ... minha mûÈo. A nova episteme ûˋ solidûÀria com determinadas prûÀticas sociais para as quais, onde antes havia indivûÙduos, agora hûÀ conjuntos diferentes.
Que novas formas de controle e vigilûÂncia social fazem parte desta trama?
Essa ûˋ uma das questûçes mais complicadas da nova ûˋpoca. Atûˋ hûÀ algum tempo, era possûÙvel dizer: todos somos vigiados... Era uma espûˋcie de paranoia que funcionava como sistema crûÙtico. Mas hoje a vigilûÂnciaô se misturou com o manejo de questûçes prûÀticas, como saber qual caminho ou qual meio de transporte tomo para ir a um lugar. û uma era de vigilûÂncia absoluta, mas como estamos completamente vigiados, nûÈo estûÀ claro quem vigia. Claro que hûÀ donos de infraestrutura, donos de servers e plataformas, ou seja, podemos identificar determinadas pessoas como aqueles que tûˆm nossos dados, mas como cada passo de todas as nossas vidas estûÀ datificado, esses dados estûÈo sû° parcialmente processados por humanos.
Na grande maioria dos casos, os dados sûÈo processados algoritmicamente, funcionando a partir da construûÏûÈo de perfis, alguns perfis construûÙdos por nû°s mesmos em nossas redes sociais, outros construûÙdos ligando dados como os das compras com cartûÈo, a geolocalizaûÏûÈo dos lugares onde estamos, os consumos na web. Tudo isso ûˋ mais ou menos fûÀcil de coletar. Mas hûÀ outra ûÀrea muito mais complexa: temos tantos dados que, na realidade, nûÈo sabemos o que existe, por isso hûÀ a mineraûÏûÈo de dados, que busca construir perfis que nûÈo conhecemos.
Como somos mediados por estas plataformas, podemos dizer que somos completamente vigiados, porque tudo o que nos ûˋ sugerido vem determinado por essas plataformas. Mas por trûÀs dessas plataformas nûÈo hûÀ um senhor malvadûÙssimo, ao contrûÀrio, hûÀ um sistema sociotûˋcnico, ou seja, delegamos uma parte nûÈo menor da vida social a tais tipos de processos tûˋcnicos, que sûÈo tambûˋm processos sociais. Todos esses dados nos constituem. Porque ainda que alguûˋm nûÈo queira entregar seus dados, nûÈo tenha celular, se vai û rua, ûˋ tomado pelas cûÂmeras...
Do ponto de vista de uma fantasia como a de 1984, estamos muito mais no forno que antes. Mas, ao mesmo tempo, nûÈo estûÀ claro quem ûˋ o Big Brother, nem como funciona, porque estûÀ muito imiscuûÙdo na vida cotidiana e em nossos critûˋrios de praticidade. Em 1984, havia alguûˋm mau que vigiava para exercer poder. Hoje, esse poder ûˋ exercido por mecanismos sociotûˋcnicos para os quais delegamos essa capacidade e, ao mesmo tempo, esses mecanismos sociotûˋcnicos tem uma relativa independûˆncia de critûˋrio. A mineraûÏûÈo de dados, os algoritmos que processam dados, lanûÏam resultados desconhecidos para quem elaborou esses processos originalmente. Este ûˋ um fenûÇmeno muito inquietante. E o mais inquietante ûˋ que, em um nûÙvel, nûÈo somos nada alûˋm de dados.
O capital estabelece formas de acumulaûÏûÈo diferentes nesta nova configuraûÏûÈo?
HûÀ uma economia de dados e estûÀ colocada uma discussûÈo acerca da teoria do valor clûÀssica, porque se estûÀ gerando valor econûÇmico com coisas que nûÈo possuem trabalho por trûÀs ou, em todo caso, coisas que nos exigem redefinir o que ûˋ o trabalho. Mas, efetivamente, hûÀ aûÙ um tipo de capital. A economia de plataformas supûçe uma nova forma de exploraûÏûÈo de algo que ainda nûÈo sabemos se chamaremos de mais-valia... Estamos gerando unidades econûÇmicas a partir de coisas que nûÈo sentimos que sejam trabalho, que nûÈo sûÈo trocar tempo por um salûÀrio, porque estamos o tempo todo gerando dados que sûÈo mercadorias.
Se a todo tempo estamos gerando mercadorias, estamos diante de uma nova etapa de acumulaûÏûÈo. Podemos dizer que toda a sûˋrie plataformas-algoritmos-dados constitui uma nova acumulaûÏûÈo primitiva? NûÈo tenho um discurso fechado sobre isto. HûÀ empresas que se compram e se vendem, hûÀ pessoas que se tornam milionûÀrias ou ficam na rua por isto que, em um sentido material estrito, nûÈo ûˋ nada.
Por outro lado, temos o chamado biocapital, que implica tomar fenûÇmenos viventes e transformûÀ-los em produtivos por sua prû°pria condiûÏûÈo de viventes. Por exemplo, posso pegar agrupamentos moleculares e patentear uma sequûˆncia ou patentear um processo. û algo que estûÀ vivo e que ûˋ tomado como uma unidade produtiva. û parte de um processo de produûÏûÈo, ou seja, que jûÀ nûÈo faz parte do vivo, mas, sim, que faz parte do capital. E isto se relaciona ao dividual, justamente porque nû°s nûÈo somos sû° nû°s, nem a mûÀquina ûˋ sû° a mûÀquina, mas todos estamos espalhados por todos os lados...
Enquanto continuar existindo capitalismo, o capitalismo irûÀ usufruir de tudo isso. Podemos explicar como atua utilizando as categorias do sûˋculo XIX? Claramente, nûÈo. Tudo isto ûˋ ininteligûÙvel sem o problema da informaûÏûÈo. Por sua vez, isto nûÈo quer dizer que nûÈo continuem existindo outros processos mais antigos... As fûÀbricas continuam existindo. O mundo tal como era continua, mas tambûˋm se estûÀ abrindo passagem a outro mundo.
Que formas de resistûˆncia social se desenvolvem ou podem se desenvolver neste cenûÀrio?
Hoje, nûÈo sabemos bem por onde passa a resistûˆncia. O que, sim, temos claro, e isto deveria deixar de ser tomado como um defeito, ûˋ que jûÀ nûÈo haverûÀ um sujeito polûÙtico como antes, no sentido de um sujeito identificûÀvel, com reivindicaûÏûçes estûÀveis, com definiûÏûçes claras sobre com quem tem que negociar. Durante um tempo, acreditou-se que as tecnologias permitiam um tipo de laûÏo que a polûÙtica tradicional nûÈo permitia ã por exemplo, a ideia da ãPrimavera ûrabeã. Mas logo se demonstrou que nûÈo se deve ser tûÈo otimista.
Acredito que daqui para frente teremos sujeitos polûÙticos muito instûÀveis, e o tipo de resistûˆncia que podem esboûÏar ûˋ muito variûÀvel. Se a resistûˆncia ûˋ contra algo global, o global ûˋ tûÈo global que nûÈo se sabe por onde resistir. Isso faz com que quase todas as disputas se apresentem por questûçes locais. Os prû°prios agentes nûÈo tûˆm, como antes, uma definiûÏûÈo da histû°ria e do antagonismo, uma delimitaûÏûÈo do conflito. NûÈo ûˋ que tudo isso jûÀ nûÈo exista, ao contrûÀrio, existe cada vez mais, mas de um modo dividual: cada vez vemos mais resistûˆncias, mas muito dificilmente podem ser unificûÀveis.
Por um lado, ûˋ cada vez menos necessûÀria organizaûÏûÈo para resistir. Mas, por outro lado, a resistûˆncia ûˋ cada vez menos orgûÂnica e mais episû°dica. Nos mundos progressistas onde alguûˋm se move, sempre fica melhor falar de um sujeito unificado, com uma organizaûÏûÈo estûÀvel e com uma conduûÏûÈo que sabe para onde vai. Mas esse nûÈo pode ser o û¤nico critûˋrio com o qual julgar algo que ainda nûÈo entendemos como estûÀ sendo gerado. NûÈo acredito que hoje uma organizaûÏûÈo frûÀgil seja sinûÇnimo de fraqueza polûÙtica. Em outra ûˋpoca sim, agora talvez nûÈo.
Como incidem hoje, em todo este contexto, a pandemia e a quarentena? As relaûÏûçes sociais parecem ter se deslocado mais do que nunca para os dispositivos e as redes informûÀticas.
Acredito que o que ocorre nesta quarentena confirma que algumas das questûçes que trato no livro sûÈo centrais para entender as transformaûÏûçes operadas pela informaûÏûÈo, tanto nas ciûˆncias, como na vida cotidiana. Uma destas questûçes ûˋ a relaûÏûÈo entre um vûÙrus e a viralizaûÏûÈo, ou seja, entre como se enfoca o estudo de um bicho que compûçe de maneira estranha com os corpos e como se utiliza esse mesmo bicho como metûÀfora de uma circulaûÏûÈo descontrolada.
O coronavûÙrus circula de maneira descontrolada, entûÈo, detûˋm-se a circulaûÏûÈo dos corpos, mas isso sû° se torna possûÙvel graûÏas a que, fechados, podemos viralizar todos os tipos de opiniûçes, comentûÀrios, piadas, palavras de amor e de û°dio, etc. Obviamente, em outros tempos houve quarentenas sem viralizaûÏûçes, mas como entenderûÙamos esta quarentena sem as tecnologias de informaûÏûÈo?
Por outro lado, as viralizaûÏûçes e as relaûÏûçes que se estabelecem atravûˋs das redes sociais nûÈo sûÈo simplesmente uma imitaûÏûÈo das interaûÏûçes face a face que terûÙamos na vida normal. No meio estûÈo os dados, os algoritmos, as plataformas, todo um sistema tecnolû°gico que faz mineraûÏûÈo de dados, elabora perfis e conecta esses mapas de nû°s mesmos com mapas de outros. O dividual nûÈo ûˋ uma duplicaûÏûÈo de si mesmo, ao contrûÀrio, ûˋ a interaûÏûÈo que se estabelece entre individualidades que deixam de ser porque o meio que as conecta participa da definiûÏûÈo de cada uma para as conectar: as sugestûçes de amizade, as publicidades, os links para textos, tudo isso ûˋ construûÙdo com base nos mesmos perfis que tambûˋm editamos em nossas redes.
Como observa a adaptaûÏûÈo de instituiûÏûçes como as educacionais ao distanciamento social?
As instituiûÏûçes tradicionais tiveram que se adaptar a uma virtualizaûÏûÈo forûÏada... Em meu lar de classe mûˋdia, se pode desarranjar a rotina por ter a escola na tela, mas a adaptaûÏûÈo ûˋ possûÙvel. Uma parte enorme da populaûÏûÈo nûÈo tem essa possibilidade por mû¤ltiplas razûçes. Contudo, mesmo quando se consegue essa ãadaptaûÏûÈoã, ocorrem coisas estranhas. Foucault dizia que a escola operava segundo uma lû°gica panû°ptica: as e os docentes falando e olhando da posiûÏûÈo central, as e os estudantes se silenciando e devolvendo o olhar. Outro dia, escutei uma professora de minha filha dizer: ãtodos com as cûÂmeras ligadas e os microfones desligadosã. Eu pensei: como o panû°ptico continua sendo eficaz como tûˋcnica. No entanto, comentando isto em uma aula de pû°s-graduaûÏûÈo na UBA, uma estudante me respondeu: ãAtenûÏûÈo, porque nû°s tambûˋm temos acesso û intimidade de sua casaã.
Estas diferentes interpretaûÏûçes demonstram como as sociedades de controle se constituem e como, para isso, se sobrepûçem formas velhas e novas, mas tambûˋm como nos vemos obrigados a redefinir o pû¤blico e o privado, e ûˋ aûÙ onde se vûˆ como as novas formas de vigilûÂnciaô se relacionam com novos modelos subjetivos, onde a intimidade se encontra redefinida.
Esta quarentena escancara um conjunto de mutaûÏûçes que jûÀ estavam ocorrendo. SerûÀ necessûÀrio observar o quanto fica de tudo isto quando passar a pandemia, mas estou certo que nûÈo se voltarûÀ ao mesmo de antes, justamente porque isso ãdo antesã jûÀ era diferente em relaûÏûÈo ao que eram as relaûÏûçes sociais hûÀ somente uma dûˋcada...
A Internet explodiu nos anos 1990, os celulares nos anos 2000, e as redes sociais mais tarde, mas sua integraûÏûÈo no mundo em mudanûÏa das plataformas, envolvendo milhares de milhûçes de pessoas e as sincronizando, tem muito menos tempo. E tûÈo dramûÀtica foi a mudanûÏa que agora, com outra transformaûÏûÈo mais dramûÀtica ainda, nûÈo sabemos bem ao que vamos nos ater quando nos disserem que teremos novamente uma ãvida normalã.
ô
Leia mais
- RevoluûÏûÈo 4.0. Novas fronteiras para a vida e a educaûÏûÈo. Revista IHU On-Line, Nô¤. 544
- Cidadania vigiada. A hipertrofia do medo e os dispositivos de controle.ô Revista IHU On-Line, Nô¤. 495
- ãEm nossa histû°ria moderna nunca sofremos duas revoluûÏûçes tûÈo profundas, em tûÈo pouco tempoã. Entrevista com ûngel Bonet Codina
- O vazio humano: do robûÇ alegre ao operador sistûˆmico
- A covid-19, o emprego, o novo auge da robotizaûÏûÈo?
- Tecnologia e novo pacto social. Artigo de Paolo Benanti
- ãNûÈo se deve ter medo da tecnologia, mas conhecer seus limitesã. Entrevista com Marta GarcûÙa Aller
- Quando a Covid-19 infecta as inteligûˆncias artificiais. Artigo de Paolo Benanti
- O teletrabalho nasceu de outra crise
- Covid-19 e avanûÏo tecnolû°gico. Nasce um outro mundo do trabalho. Entrevistas especiais com Ruy Braga Neto e Rafael Grohmann
- COVID-19 e rastreamento humano. Artigo de Giorgio Griziotti
- Aplicativo Immuni. Existe liberdade pessoal por trûÀs da privacidade hi-tech?
- Rastreamento de contato, app e privacidade: o elefante na sala nûÈo sûÈo os dados, mas a vigilûÂncia
- CenûÀrios pû°s-coronavûÙrus: da ãtecnologia civilã û economia contributiva
- O panû°ptico do coronavûÙrus rastreia seus contatos
- ãA pandemia fortalece, sobretudo, as corporaûÏûçes tecnolû°gicas e a economia de plataformasã. Entrevista com Josûˋ MarûÙa Lassalle
- CoronavûÙrus, os governos europeus pedem socorro û s Big Tech. Mas o tempo dos mapas de contûÀgio estûÀ se esgotando
- Prudûˆncia tecnolû°gica em tempos de coronavûÙrus. Artigo de Luca Peyron
- Inteligûˆncia artificial tambûˋm contra vûÙrus. Em primeiro lugar na China
- Inteligûˆncia artificial: somos ainda livres?