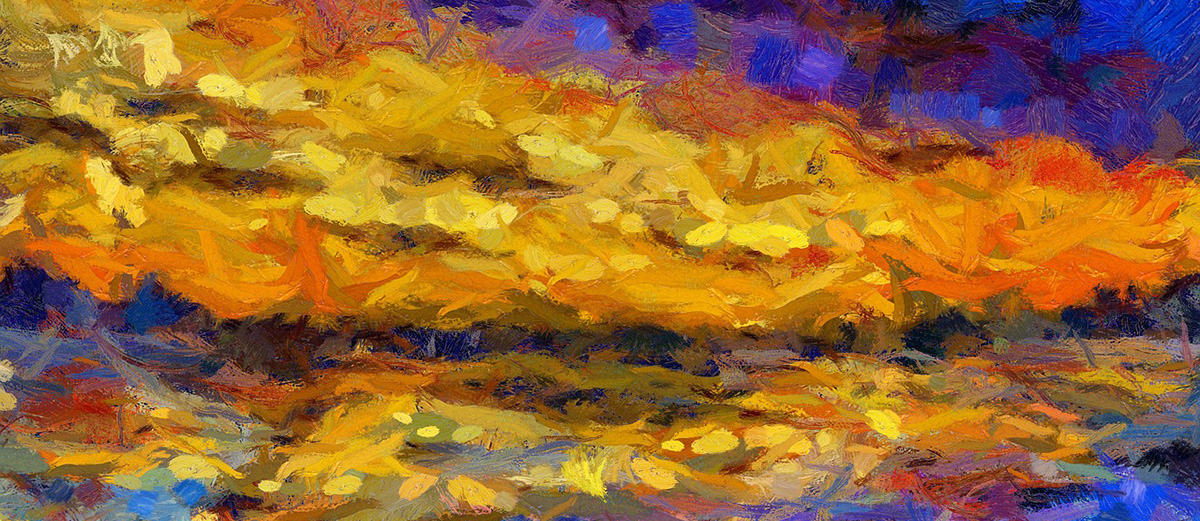29 Mai 2020
Para o grande escritor britânico Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), o mundo moderno está "saturado de velhas virtudes cristãs que se tornaram loucuras". Uma reflexão, esta, que o filósofo francês Rémi Brague usou para reconectar os fios de uma série de importantes ensaios curtos, agora reunidos sob o título Des vérités devenues folles. La Sagesse du Moyen Âge au Secours des Temps Modernes (Salvator).
“Chesterton também falou de 'verdades' que se tornaram loucuras e eu preferi retomar essa versão. Ele também define a loucura com uma fórmula igualmente famosa, ou seja, o fato de ter perdido tudo, exceto a razão. Uma vez perdido o contato com a realidade, a razão ‘vira loucura’, como se pode dizer de uma roda de engrenagem que não transporta mais nada e escapa ao controle", explica Brague, cuja vasta reflexão foi enriquecida nos últimos anos por uma vertente marcadamente ética: uma obra de escavação entre soluções antigas e novas para evitar justamente uma forma de loucura coletiva de matriz modernista que, entre outras coisas, nestes últimos meses, encontra fortes ressonâncias na crise sanitária global.
A entrevista é de Daniele Zappalà, publicada por Avvenire, 28-05-2020. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis a entrevista.
Professor, você argumenta que uma certa sabedoria medieval poderia "socorrer" a nossa modernidade sofredora. Como?
Fornecendo a todas as nossas construções o embasamento que poderia lhes permitir não desmoronar. Não almejo abandonar as conquistas da modernidade, admitindo que seja possível. Pelo contrário, gostaria de ver a aventura humana continuar, mas em bases sólidas. Às vezes, tenho a impressão de que estamos vivendo aquela cena de desenho animado em que um sonâmbulo continua a caminhar no ar, sem o chão debaixo dos pés, caindo apenas quando se dá conta. Eu estou falando justamente sobre o mundo real. Para respeitá-lo, deve-se ter mérito e, portanto, ser bom. Acreditar na bondade do que existe, ou seja, a fé na criação de um Deus benevolente, é talvez o que a Idade Média poderia nos ensinar de mais fundamental.
Nestes meses de pandemia, discute-se muito sobre liberdade, uma noção que você explorou profundamente. É realmente urgente praticar novamente uma liberdade concebida como "livre acesso ao Bem"?
Para deixar claro, a visão dominante da liberdade, amplificada e difundida pela mídia, é resumida pelo que as crianças de 6 ou 7 anos dizem: "Quero fazer o que quero, como quero, quando quero e assim por diante". A idade mental de muitos de nossos contemporâneos, ou melhor, sua idade afetiva, mesmo entre os intelectuais mais brilhantes, nem sempre é muito maior que essa. Para a publicidade, ser livre significa poder comprar o que eu faço você acreditar que precisa. Portanto, é necessário aprender ou reaprender que a liberdade não é uma “queda livre”, mas a “pista livre” aberta para aqueles que querem fazer o bem.
No pensamento e na cultura europeus, você já vê sinais de uma reconsideração do legado fértil da sabedoria medieval?
Para dizer a verdade, não muito. Alguns autores propõem buscar diretamente nas fontes medievais as respostas para alguns de nossos problemas. Estou pensando no estadunidense Rod Dreher, com sua "opção Bento". Penso também no grande medievalista Étienne Gilson, falecido em 1978, e em toda a sabedoria que soube extrair ao assistir os grandes filósofos escolásticos. Mas ele teve o cuidado de não tentar aplicar, de forma direta, soluções que apresentassem bons resultados na Idade Média, mas que seriam catastróficas em nosso mundo industrial e democrático. Basta pensar nas tentativas dos anos 1930 de recriar corporações profissionais. De qualquer forma, e Chesterton diz isso em uma passagem que cito, a Idade Média também contém o melhor da sabedoria antiga, aliás, da sabedoria de sempre.
"O ateísmo falhou e, portanto, está condenado a desaparecer", você argumenta evocando vários autores. Poderiam acusá-lo de ir rápido demais ou de ser pretensioso. Qual ateísmo moderno está no fim da linha?
Se você quer ser ouvido, precisa elevar a voz e dizer as coisas com franqueza, arriscando um pouco queimar as etapas. Começo prestando homenagem a um agnosticismo metodológico, que não cita Deus onde não é necessário que intervenha diretamente. O Criador deu razão à sua criatura. Ela lhe permite descrever rigorosamente as realidades físicas e organizar a vida social de maneira quase estável. Nesses campos, fazer a hipótese de Deus, como Laplace, não é necessário. Mas o ateísmo perde o fôlego quando se trata de dizer por que a existência dos homens é um bem. Pois bem, defendo que nenhuma dominação pode se privar de uma ideologia que a legitima. Você pode ver isso na política. É também o caso daquela que o homem exerce sobre a natureza. A longo prazo, ele terá que se justificar aos próprios olhos ou desaparecer. O que não significa receber um cheque em branco para explorar de todas as maneiras o nosso pobre planeta.
Por falar em natureza, você cita Leopardi do Zibaldone, para quem um "excesso" de razão pode levar à barbárie, caso se esqueça o equilíbrio entre razão e natureza. Até Giambattista Vico, você se lembra, falou de "barbárie da reflexão" nos Princípios da ciência nova. Abordagens ainda úteis e proveitosas?
Estou feliz por ter contribuído a despertar o interesse de meus leitores estadunidenses e franceses por esses dois grandes italianos. Lembro-me da minha emoção quando, em Nápoles, concordaram em me mostrar o manuscrito do Zibaldone. Não pode haver excesso de razão, porque nunca se raciocina em demasia. Mas a razão pode perder o contato com a realidade. Aristóteles já dizia que, antes da razão, existe o que ele chamava de paideia, a educação. Quando falta, ele argumentava, não se sabe em que caso é necessário pedir uma demonstração matemática e em qual seria ridículo fazê-lo. Essa educação, esse modo de ser bem-educados em relação às coisas, de recusar tratá-las com barbárie, é o respeito pela realidade. Vamos colocar isso filosoficamente: a fenomenologia tem um fundo moral.
Você também aborda a noção de civilização, evocada nos últimos dias no debate público, também para destacar que a pandemia atingiu principalmente distritos industrializados e poderosos. Essa configuração atípica, quase "revolucionária", impressiona você? Isso pode incentivar reflexões?
Não confundamos civilização e poder material, tecnológico, econômico e até militar. Existe algo de bom na distinção alemã entre Zivilisation e Kultur, desde que, obviamente, não se faça da primeira uma essência gentil e da outra uma essência má, e acima de tudo não se reservem uma para um país, a outra para outro e assim por diante.
De fato, há nessa epidemia um eco do deposuit potentes do Magnificat. Mas me recuso em ver algo como um castigo divino. Já são suficientes os fundamentalistas dos EUA ou muçulmanos para imaginá-lo. O Deus dos cristãos, por outro lado, morre pela salvação dos pecadores. Dito isto, as consequências derivam das causas de acordo com uma lógica bastante simples: onde não são respeitadas as regras de higiene nos mercados, ou onde se come qualquer animalzinho estranho, ou onde, talvez, se cede nos laboratórios a manipulações de risco sobre vírus, se recolhem os cacos quebrados e não isso não deve surpreender. E onde transitam os grandes circuitos comerciais, turísticos e culturais, os vírus também inevitavelmente transitam. Mas, além das causalidades e responsabilidades específicas, é de fato possível que isso faça com que aqueles que tomam decisões reflitam, talvez para conduzi-los a repatriar as indústrias deslocalizadas cedo demais de volta à Europa, ou a tratar melhor o pessoal médico. Pelo menos, podemos esperar por isso, mesmo que eu não seja um especialista no assunto.
Para Jacques Delors, que você menciona, deveríamos restaurar "uma alma para a Europa". Você ensinou ao mesmo tempo nas universidades da França e da Alemanha, nações por muito tempo "inimigas hereditárias", depois no centro da recentemente comemorada Declaração de Schuman (9 de maio de 1950), mas ainda não totalmente implementada. No plano filosófico, a Europa ainda está curando as feridas de suas velhas loucuras, ou já passamos além?
A reconciliação entre a França e a Alemanha é um dos sucessos da segunda metade do século XX. Estou muito feliz com isso, também por razões pessoais: na verdade, ocupei uma cátedra em Munique e tenho uma filha que mora em Frankfurt. De qualquer forma, sempre tentamos ir além. Mas além do quê? A Europa tem uma longa história às suas costas, que não começa no início da UE e as consequências do passado têm a casca grossa. Terminamos de acertar a Guerra de 1914? E a Revolução Francesa? E a Reforma Protestante? E o cisma com o Oriente Ortodoxo? Nesse passado, trigo e joio sempre se misturaram, bom e mau, razão e loucura, o que traz vida e o que leva à morte. Essa mistura é tão complexa que é uma tarefa árdua resolvê-la, não apenas para os filósofos. De qualquer forma, a fronteira sempre passa por dentro de nós. Por isso, aguardemos o juízo final, é mais prudente.
“Não vamos confundir civilização com poder técnico e riqueza. Na pandemia, há um eco do ‘deposuit potentes’ do Magnificat. Mas me recuso a vê-lo como um castigo divino". Para Chesterton, o mundo moderno ‘estava saturado de velhas virtudes cristãs que haviam se tornado loucuras’. Agora, o filósofo francês, que lecionou em Mônaco e Paris, publica um livro onde tenta retornar à sabedoria que deve embasar a Europa. ‘Queremos sempre ir além, mas além do quê? Nossa história é uma mistura de trigo e joio, e a nossa tarefa é saber discernir’”.
Leia mais
- Pandemia, uma oportunidade para um exame de consciência. Artigo de Rémi Brague
- Papa lembra os cristãos de suas responsabilidades pelo planeta. Artigo de Rémi Brague
- Europa e cristianismo. Artigo de Rémi Brague
- Enquanto permanecer o preconceito de que Deus poderia acabar com o mal do mundo, ninguém pode crer em sua bondade. Artigo de Andrés T. Queiruga
- Nós, seres humanos condenados à liberdade. Artigo de Massimo Recalcati
- “Nossas liberdades foram suprimidas porque o Estado foi mal organizado”. Entrevista com Gérard Haas
- Chegou a hora de repensar o que é a liberdade. Artigo de Gianfranco Pasquino
- Ateísmo, fé e espiritualidade. O silêncio autêntico é aquele religioso
- Ateísmo superficial
- Os não crentes. Uma visão geral do ''ateísmo religioso''
- Agnósticos
- Dialogar com Deus graças à leitura. Artigo de Gianfranco Ravasi
- O dia do ‘Magnificat’
- O mundo ao avesso do Magnificat. Entrevista com Mariapia Veladiano