Em seu novo livro É tudo novo, de novo, pesquisador da UFBA mostra como as empresas, sob o discurso da inovação, têm, na verdade, criado mecanismos de manter o velho capitalismo exploratório em voga
Uma pesquisa divulgada em novembro pela Austin Rating, agência internacional de avaliação de risco, coloca o Brasil como o quarto país do mundo com maior desemprego, com uma média que é o dobro da mundial. Em termos concretos, o terceiro trimestre de 2021 somou 14,8 milhões de pessoas da população economicamente ativa desempregadas, fora os desalentados, aqueles que sequer procuram trabalho. Todos esses elementos formam a tempestade perfeita para que os empregados sejam esmagados pelas necessidades mais básicas e tolerem, por falta de opção, condições aviltantes de empregabilidade que vêm sempre maquiadas pelo discurso do “novo”.
“O verniz do ‘novo’ pretende convencer as pessoas de que não há assimetria capital-trabalho, de que proteger os trabalhadores é prejudicial a eles mesmos, de que cada indivíduo é capaz de resolver o problema do desemprego”, aponta o professor e pesquisador Vitor Filgueiras, em entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisnos - IHU para falar de seu livro recentemente lançado É tudo novo, de novo (São Paulo: Boitempo, 2021).
“O discurso do empreendedorismo cola por uma série de razões. Uma delas é o fato de que é um discurso que faz alusão a aspirações legítimas da classe trabalhadora”, ressalta Filgueiras. Some-se a isso uma dimensão que, às vezes, é invisibilizada, mas sempre presente. “Relações de trabalho assalariadas são de dominação porque há quem mande e quem obedeça”, explica o entrevistado, o que contextualiza, em muitos casos, o canto da sereia do trabalho por aplicativo, que, por outro lado, é recheado de problemas.
“Os direitos desses trabalhadores de ‘aplicativo’ não são direitos só dessas pessoas, eles impactam a coletividade, portanto, não estão apartados do resto do mundo do trabalho. No momento em que alguém aceita que as pessoas trabalhem sob estas condições, está se afetando todo o mercado de trabalho, porque há uma pressão óbvia das demais empresas pelo ‘direito’ de explorar os outros sob os mesmos termos”, sublinha.

Vitor Filgueiras (Foto: Arquivo pessoal)
Vitor Araújo Filgueiras é graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, fez mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e realizou Doutorado em Ciências Sociais pela UFBA. Tem Pós-doutorado em Economia pela UNICAMP e realizou estágio de Pós-doutorado na Universidade de Londres. Atualmente é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA e professor visitante da Universidade Complutense de Madri (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). É vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET e um dos coordenadores da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (REMIR – Trabalho). Foi Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho entre 2007 e 2017.
IHU – Em linhas gerais, do que se trata seu último livro Tudo novo de novo? Por que esse título?
Vitor Filgueiras – O livro trata de um aspecto da ofensiva do capital nos últimos 40 anos, em escala mundial, que não tem sido percebido pelas forças do trabalho. Que aspecto é esse? A mobilização da ideia do “novo”, de que as coisas estão mudando, como mecanismo de legitimação do “velho” capitalismo, no sentido de algo que já vivemos antes, que remete a fatos que já vimos, como a radicalização da assimetria entre capital e trabalho, a ampliação de desigualdade, de degradação das condições de trabalho etc.
O livro, portanto, quer chamar atenção desse aspecto da ofensiva, que é um aspecto vinculado à retórica, ao discurso. Não se trata de uma hierarquização dos fatores que explicam a ofensiva, mas chamar atenção para a importância do fator retórico e discursivo, particularmente em relação à ideia do “novo”, das “novidades” que obrigariam a adaptação dos trabalhadores e instituições, narrativas que têm sido utilizadas na legitimação da ofensiva do capital.
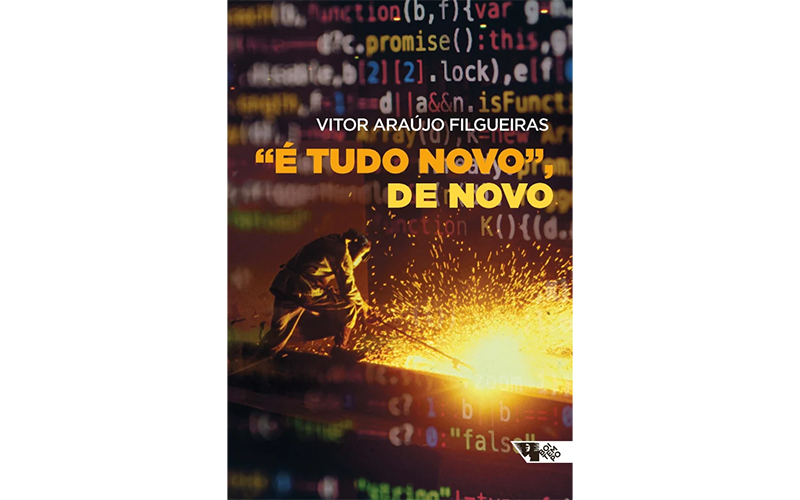
Capa do livro É tudo novo, de novo (Imagem: reprodução)
É importante ressaltar que o objetivo mais geral do texto é chamar atenção para o fato de que essas narrativas impactam fortemente o campo do trabalho e são, muitas vezes, assimiladas por parte significativa desse campo. Senão em sua totalidade, ao menos em seus pressupostos. Contudo, ao assimilar os pressupostos das narrativas, se delimita o debate e se joga a disputa dentro de um campo restrito, que é o do interesse do capital. Isso porque tais pressupostos conduzem e condicionam as proposições e as alternativas, portanto, os limites do debate. As “novidades” se repetem em ondas, e a cada nova onda os limites vão ficando mais estreitos e mais próximos na ausência completa de barreiras à exploração do trabalho.
É fundamental que as forças do trabalho se deem conta da natureza ideológica das narrativas do capital e as encarem sempre com desconfiança, sempre com uma perspectiva crítica e é isso que o livro busca demonstrar. Não é possível sair da encruzilhada que nos encontramos, do ponto de vista da situação defensiva do trabalho na atual conjuntura, sem refletirmos criticamente sobre a retórica das empresas e seus representantes. Em particular, essa questão da “novidade”, de supor que tudo está mudando nos moldes descritos pelas empresas, todo o tempo, e de que é necessário se adaptar às prescrições apresentadas pelas narrativas.
IHU – Em que sentido a narrativa do “novo” se torna meramente retórica?
Vitor Filgueiras – A narrativa do novo nunca é meramente teórica. Primeiro, porque elas trazem sempre alusões a aspectos da realidade e a problemas concretos que estão ligados a mudanças concretas. A questão é que elas exageram, distorcem ou mesmo invertem a natureza das mudanças em curso, de forma a identificar e prescrever uma série de ações que devem ser tomadas supostamente para preservar, aumentar o emprego e melhorar as ocupações. Na realidade, porém, são prescrições que visam fragilizar os limites existentes à exploração do trabalho, seja na legislação, seja na atuação individual e coletiva dos trabalhadores.
Se há algo “meramente retórico” é a incompatibilidade entre aspectos fundamentais da retórica e a realidade empírica. Contudo, creio que não se pode falar em “meramente retórico” porque não se trata disso exatamente; trata-se, sim, de um conjunto de argumentos e narrativas que identificam supostas mudanças e supostos impactos, apresentados em geral como inexoráveis, e que obrigariam a adaptação de trabalhadores e instituições. Esses discursos sempre fazem alusão a problemas reais, mas o objetivo fundamental dessas narrativas não é prescrever soluções conforme suas promessas.
Isso porque essas promessas são descoladas da realidade, de que, se seguir determinadas receitas, os empregos vão aumentar e vão ser criados postos de trabalho. Nesse sentido, se assim quiser, pode-se considerar meramente retórico, pois os objetivos declarados não são alcançados. Contudo, os objetivos de verdade não são esses, mas sim legitimar, conseguir o consentimento dos trabalhadores e da sociedade em geral para aplicação de determinadas políticas públicas, como reformas trabalhistas, cortes de direitos sociais, a tentativa de admitir que as supostas novas formas de organização do trabalho são legítimas, o desejo de que os trabalhadores tenham uma postura mais passiva, conciliadora, se sintam responsáveis pelo problema do desemprego etc. É isso que, de fato, as narrativas buscam legitimar e, portanto, facilitar que seja alcançado.
IHU – Uma questão importante para contextualizar nosso debate. Quais são as características estruturais do “velho” capitalismo, cujo verniz do “novo” pretende disfarçar?
Vitor Filgueiras – O verniz do “novo” pretende convencer as pessoas de que não há assimetria capital-trabalho, de que proteger os trabalhadores é prejudicial a eles mesmos, de que cada indivíduo é capaz de resolver o problema do desemprego. Uma das premissas fundamentais é a ideia de que se você proteger os trabalhadores, vai gerar desemprego. As narrativas querem vender a inviabilidade de construção de alternativas com base em pressupostos desse tipo, que são, inclusive, muito antigos, como custo do trabalho determinar o nível do emprego e de que a oferta de trabalho gera a própria demanda. O Estado teria como única alternativa a pauta neoliberal, os trabalhadores seriam responsáveis e poderiam resolver o problema do desemprego, que só dependeria deles mesmos, e direitos sociais estimulariam a desídia – falta de vontade de trabalhar. É também importante a ideia de que as empresas estão se afastando, de fato, dos trabalhadores e de sua gestão.
O que se pretende esconder é que todas essas posturas que, segundo as narrativas do “novo”, resolveriam os problemas do mundo do trabalho, na verdade os agravam, como é constatado empiricamente. Não há ampliação do emprego em escala mundial, muito menos melhora das condições de trabalho; é exatamente o contrário, porque se acentuam as características fundamentais do capitalismo, com o aumento da assimetria entre capital e trabalho e radicalização da desigualdade, sem ampliação do investimento produtivo.
IHU – Por que o discurso da inovação e do empreendedorismo “cola” mesmo em espaços críticos como nas universidades, por exemplo?
Vitor Filgueiras – O discurso do empreendedorismo cola por uma série de razões. Uma delas é o fato de que é um discurso que faz alusão a aspirações legítimas da classe trabalhadora. A ideia de liberdade, de não ter patrão, de que a pessoa pode decidir o que vai fazer etc. contribui para que as pessoas simpatizem com a proposta em linhas gerais. A questão, por óbvio, é que se trata de uma promessa cínica ou, no mínimo, ingênua, porque não tem lastro na realidade empírica, pois não se dão os meios para que as pessoas sejam efetivamente empreendedoras. Numa sociedade regida pelo trabalho assalariado, e não associado, é impossível que parcela relevante das pessoas consiga ser empreendedora porque existe hierarquia na constituição do trabalho, e o trabalho é fundamentalmente social, coletivo, a produção não é individual e fragmentada. Cada pessoa não é uma empresa produtora individual. Assim, a maior parte das pessoas precisa obedecer àquelas poucas que comandam os meios de produção. É por isso que apenas uma fração das pessoas pode ser empreendedora, e a grande maioria precisa ser assalariada nesse modelo de sociedade.
Em uma situação de desestruturação do mercado de trabalho, com poucas vagas, poucas oportunidades, as pessoas vão se fragilizando, então estão mais suscetíveis a apreender e assimilar a retórica do “novo”. Uma variável importante nesse processo é que há uma propaganda massiva, todo o dia, o tempo todo, na televisão, no jornal, no rádio, na Internet, nas escolas, o tempo todo, com as empresas divulgando suas “novidades” sem parar. Eu lembro desde criança do Jornal Hoje, do Jornal Nacional mostrando casos de suposto sucesso de alguém sozinho, que começou vendendo balas e se tornou um grande empresário, então essa conjugação de fatores ajuda a explicar por que esse discurso cola.
Na universidade, em particular, nos campos mais críticos o empreendedorismo não é recebido há muitos anos. Um problema central que o livro tenta trazer é que mesmo instâncias mais críticas, em outros aspectos, assumem os pressupostos da narrativa empresarial. Isso também, como um fator para ajudar a elucidar a questão, decorre de uma prática muito forte de percepção acrítica da aparência dos fenômenos. Em geral, é comum que as pessoas tomem o conteúdo pela aparência sem se dar conta de que ela não é nada ingênua, muito pelo contrário, é um instrumento político. O que eu chamo de aparência são formatos jurídicos, o discurso (por óbvio), as terminologias utilizadas para designar arranjos e relações, e isso ajuda a explicar por que as narrativas são assimiladas em seus pressupostos.
IHU – O imperativo do novo é um fenômeno local, do Brasil, ou global?
Vitor Filgueiras – As narrativas da novidade são globais. O Brasil está inserido em um contexto muito maior. Posso dar inúmeros exemplos. A narrativa de que existem novas empresas e que essas novas empresas têm cada vez mais se afastado da gestão do trabalho, primeiro com terceirização, e agora com as “plataformas”, é um fenômeno mundial e com o mesmo discurso. O Brasil é só um dos locais onde se manifesta esse modelo de gestão do trabalho.
As reformas trabalhistas, nesse sentido, se expressam na mesma dimensão global, sob o argumento de que é necessário “flexibilizar” a legislação para garantir ou ampliar os empregos. A ideia do empreendedorismo e de resolver o problema dos empregos individualmente também é um fenômeno mundial. A discussão toda do livro vai nesse sentido, de fazer esse debate trazendo exemplos mais abundantes do Brasil, mas também com pesquisas que eu fiz em vários países.
IHU – Relações de trabalho são, por definição, hierárquicas e de dominação. Nesse sentido como se dá a legitimação das relações entre empregador e empregados na atualidade?
Vitor Filgueiras – Sim, relações de trabalho assalariadas são de dominação porque há quem mande e quem obedeça. Atualmente, o elemento, digamos, estrutural que busca o consentimento, o que não é exclusivo, mas o ponto de partida, é a ideia de que há uma relação entre custo do trabalho/direito do trabalho e desemprego. Isso tende a tornar os trabalhadores, caso essa retórica seja assimilada, reféns de sua própria condição de dominação, porque lutar por mais direitos e melhores condições de trabalho provocaria desemprego. Esse é o elemento central.
Há outros, como o discurso do mérito, do empreendedorismo, da qualificação e de que tudo depende do trabalhador, inclusive de que o trabalhador é o responsável por estar ou não empregado, que legitimam o atual padrão de dominação. Há também a ideia de que não são mais as políticas públicas, nem poderiam ser, os elementos definidores do nível de emprego. Na mesma direção, é fundamental que as pessoas assumam uma suposta culpa pela própria situação na qual vivem, a ideia de que as pessoas recebem de acordo com o que produzem.
Algo fundamental à dominação é a ideia de que não se tem alternativa ao status quo. E isso joga dos dois lados, na promessa que a pessoa vai ser dar bem, mas, se não der, a responsabilização é do indivíduo. As pessoas acreditam na promessa, achando que vai dar certo, o que é o lado “positivo” desta promessa. Há também a ideia da inevitabilidade, em que se introjeta a ideia de que mesmo que a pessoa discorde da promessa “positiva”, não há uma alternativa.
IHU – Quais são os quatro eixos em que a retórica da novidade é apresentada pelo capital?
Vitor Filgueiras – Os quatro eixos em que estas retóricas se apresentam no livro são o suposto novo:
Com relação ao novo cenário internacional e das políticas públicas, a ideia que se reproduz e vige desde os anos 1980 é que – com a globalização, a financeirização etc. – há uma grande mudança. A questão é que essas grandes mudanças inviabilizariam as políticas públicas que não sejam as liberais, as reformas de austeridade e no campo do trabalho a reforma trabalhista. Com a crise de 2008, aparece o “é tudo novo”, de novo, a reedição de uma nova onda dessa narrativa com o mesmo fundamento, dizendo que para sair da crise são necessárias reformas. O pano de fundo e argumento base é a ideia de que há uma relação entre custo do trabalho e desemprego, de modo que quanto mais reduzir o custo do trabalho menor o desemprego, e por isso é “necessária” a reforma trabalhista. A ideia que amarra esse pressuposto é que, ao contrário do período pós-guerra, o Estado não pode atuar em políticas de estímulo à demanda efetiva, então a forma de reduzir o desemprego seria a plataforma liberalizante.
Com relação à ideia das novas tecnologias, que também se repete em ondas, é a de que há uma competição entre trabalhador e instrumento de trabalho, que a teoria econômica neoclássica chama de capital, e que as empresas comparam o tempo todo o preço do trabalho e a produtividade do trabalho e o preço do capital e a produtividade do capital. Então a empresa escolhe o que vai comprar mais considerando o preço e a produtividade. Quanto mais a tecnologia avança, a única forma de os trabalhadores não serem substituídos pela tecnologia é eles produzirem mais e mais, ou ter o preço do trabalho reduzido. Essa é a ideia que está explícita em um momento ou outro e por isso dizem que o trabalhador tem que se qualificar com o avanço tecnológico, ainda no contexto mundial da Indústria 4.0, e a legislação tem que ser “flexibilizada” para reduzir o custo do trabalho sob pena de eliminar os empregos.
Com relação às “novas” empresas, o argumento, atualmente, diz respeito de forma geral à ideia de que as empresas são mais flexíveis, com destaque inicial para a terceirização, de modo que elas estão se enxugando, voltando-se para seus core business. Nesse sentido, se afastando dos trabalhadores por meio da externalização das atividades. Na onda seguinte isso se radicaliza, primeiro com a ideia de que as empresas são compradoras – tipo a Zara, que supostamente só compra e coloca a marca – e as plataformas entram de vez para radicalizar ao extremo a ideia de que estão associadas aos trabalhadores. Ainda pior, eles invertem a relação, afirmando que são os trabalhadores que estão associados às plataformas e pagam para as empresas pelo uso do aplicativo. Um destaque nessa narrativa é a fala de que o trabalho assalariado está se reduzindo e que são novas formas de trabalho que têm aparecido e, portanto, direito do trabalho não é mais pertinente nem aplicável.
Por fim, no eixo dos novos trabalhadores está a ideia de que o Estado não vai resolver o problema do emprego, diante do novo cenário internacional e das políticas públicas, e não vai mais cuidar dos trabalhadores do ponto de vista dos direitos sociais. Cabe a cada um se resolver. Isso aparece primeiro com a ideia de que a qualificação resolveria o problema para os empregados, e o empreendedorismo, que se radicaliza nos últimos anos, seria a solução definitiva, pois não depende da participação de nenhuma empresa. Em paralelo, se divulga que os sindicatos devem ser conciliadores e nos últimos anos deixam de ser pertinentes, já que os trabalhadores não são sequer assalariados, e o sindicato perde sua função.
IHU – Quais são as implicações de quem, mesmo se colocando contrário às consequências das Reformas Trabalhistas, assume, no fundo, a premissa que a sustenta: a relação custo do trabalho versus desemprego?
Vitor Filgueiras – No momento em que se assume essa relação do custo do trabalho versus desemprego se enfraquece muito qualquer oposição à reforma trabalhista, porque o que será argumentado em sentido contrário, já que é esta precarização que está trazendo emprego, caso se assuma essa premissa? O problema é que se cria uma encruzilhada, uma situação a partir da qual não consegue fazer o enfrentamento. A mesma coisa com a terceirização, se é aceita como externalização, seria a especialização dos capitais e poderia aumentar a produtividade. É muito difícil ir contra.
A mesma coisa é a ideia da competição entre trabalhador e o meio de produção. Parte-se do pressuposto de que a tecnologia causa o desemprego e não a relação que se estabelece entre trabalhador, instrumento de trabalho e capitalista. Dificilmente se conseguirá apresentar argumentos satisfatórios para demonstrar a relação de luta que verdadeiramente se estabelece.
A implicação fundamental é que as pessoas passam a atuar de forma restrita a partir dos limites colocados pelo adversário, de modo que esses espaços vão se restringindo cada vez mais. A cada nova tentativa de conciliação dentro das premissas do debate imposto pelo capital os trabalhadores e suas instituições andam para trás. É isso que temos testemunhado nos últimos 40 anos. Não apenas se torna inviável uma oposição eficaz, como se abre espaço para que a legislação e as relações de trabalho sejam cada vez mais precarizadas, haja aumento da assimetria capital-trabalho e da desigualdade.
IHU – Por que, na sua opinião, o campo civilizatório não deveria defender uma legislação trabalhista específica aos empregados de startups e aplicativos e deveria fazer valer o que rege a CLT?
Vitor Filgueiras – Com relação a uma legislação específica, numa perspectiva civilizatória, é uma péssima ideia, porque essas estratégias servem para rebaixar direitos. Não se trata de adotar as legislações existentes para o campo do trabalho e ampliar direitos, mas para rebaixá-los. Isso não é uma coisa nova, inclusive, vários países têm contratos de trabalho que supostamente não são nem para empregado nem para trabalhador autônomo. Todas essas estratégias só servem para rebaixar direitos. A ideia é sempre rebaixá-los; se fosse para ampliá-los, seria ótimo.
Bastaria, então, que se reconhecessem os direitos desses trabalhadores, admitindo que são empregados, levando em conta as previsões legais contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e nos diferentes códigos laborais dos diversos países. Além disso, inserir direitos a mais como a jornada reduzida etc. via negociação coletiva.
Isso tudo é muito importante, e tem mais uma coisa que precisa ficar clara, apesar das pessoas perderem de vista: os direitos desses trabalhadores de “aplicativo” não são direitos só dessas pessoas, eles impactam a coletividade, portanto, não estão apartados do resto do mundo do trabalho. No momento em que alguém aceita que as pessoas trabalhem sob estas condições, está se afetando todo o mercado de trabalho, porque há uma pressão óbvia das demais empresas pelo “direito” de explorar os outros sob os mesmos termos. O direito dos trabalhadores de “aplicativos”, portanto, diz respeito ao direito de toda a sociedade, não somente a eles. Temos que superar a ideia ingênua de que são eles que têm que resolver sem o envolvimento dos demais. Isso é um problema concreto que afeta todo mundo.
IHU – De que ordem são os desafios de criar uma frente para barrar a ofensiva contra os direitos dos trabalhadores?
Vitor Filgueiras – Criar uma frente para barrar a ofensiva contra o trabalho demanda criar uma contraofensiva. Aliás, esta é uma das variáveis que explicam o sucesso da ofensiva do capital, a saber, o fato de o campo do trabalho estar discutindo nos termos do capital. Ou seja, o fato de agirmos de forma defensiva e (quase) sempre agirmos de forma conciliadora, nunca propondo mais direitos, é uma das variáveis que explica por que cada vez mais os direitos dos trabalhadores se enfraquecem. A novidade tem sido trazida pelo capital e não pelo trabalho.
Um elemento central para barrar essa ofensiva é instalar uma contraofensiva para, cada vez mais, ser radical e propositivo de saída. É preciso apresentar uma agenda própria, que não seja de manutenção dos direitos, mas de avanço, da forma mais radical possível no conteúdo. Ao invés da pauta do simples vínculo de emprego, tem que se pautar a democratização das relações de trabalho e o fim das empresas nos moldes como as conhecemos. Porque, ao fazer isso, o que muda são os termos do debate. O que hoje se debate em relação à perspectiva do direito do trabalho vai deixar de ser o “extremo”, porque, de fato, não é o extremo. O extremo é acabar com a hierarquia e a subordinação, tornar o processo do trabalho democrático. Quando se pauta o debate desta forma, o meio e o centro passam a ser o direito do trabalho, que é historicamente o centro. Por óbvio, como em qualquer outro debate político, o resultado provavelmente não será o extremo, nem de um lado, nem de outro. É algum ponto intermediário. Mas, na medida em que se amplia o campo da pauta debatida na perspectiva civilizatória, eleva-se a chance de algum sucesso no processo de disputa mesmo que não se alcance o ideal, mas cujo resultado já é um avanço ao que temos hoje, a ausência completa de direitos.