Para o pensador Jussi Parikka, o processamento automático de dados pessoais sem o nosso conhecimento é uma característica dos nossos tempos, semelhante à burocracia moderna: decisões são tomadas em algum lugar sem que saibamos quais ou onde.
Há alguns anos, o debate sobre imagens deixou de se limitar ao que elas mostram, estendendo-se à sua performatividade, agência ou capacidade de operar, calcular e decidir. Para além de drones ou câmeras de vigilância, estas reflexões focam-se na modulação e administração atuais do mundo com e através de imagens que, muitas vezes, são sensores, já não concebidos para os olhos, mas sim para máquinas e algoritmos.
Jussi Parikka é um historiador cultural e teórico da mídia finlandês que trabalha como professor de estética e cultura digital na Universidade de Aarhus. Ele também é afiliado à Winchester School of Art (Reino Unido). Foi curador de diversas exposições, incluindo, com Daphne Dragona, Climate Engines na Laboral (Gijón), em 2023-2024.
A recente tradução de seu livro Operational Images: From Visual Representation to Calculation and Automation [Imagens operacionais: da representação visual ao cálculo e à automação] (Caja Negra, 2025) é uma contribuição que revisita e renova reflexões contemporâneas sobre agências e ações mais-que-humanas.
A entrevista é de Hernán Borisonik, publicada por El Salto Diario, 30-10-2025.
Seu trabalho expande a noção de “imagens operacionais” para além da definição original de Harun Farocki. Quais urgências contemporâneas o levaram a revisitar esse conceito e quais riscos enxerga ao usá-lo para refletir sobre o presente?
Às vezes, a explicação é bastante prosaica: tive a oportunidade de liderar uma equipe de cinco pesquisadores durante cinco anos com foco em aplicações contemporâneas de “imagens operacionais”. A maioria era formada por estudiosos de fotografia, mas o artista madrilenho Abelardo Gil-Fournier também trabalhou comigo em como esse conceito se relaciona com a cultura contemporânea da inteligência artificial e outras imagens técnicas.
Ao mesmo tempo, estávamos interessados em diversas práticas e operações, inclusive históricas. No meio acadêmico, o termo geralmente é associado, por exemplo, a drones ou imagens militares. Mas me interessa a variedade de operações, desde o sensoriamento ambiental até, por exemplo, práticas especializadas como a arquitetura.
Seu livro também apresenta cenários mais mundanos e cotidianos. Como nossa experiência diária do mundo se transforma quando convivemos com imagens que não foram concebidas primordialmente para a visualização humana?
O processamento automático de dados sobre nós, sem que tenhamos consciência disso, é provavelmente um tema definidor do espírito da época, não é? No entanto, isso se assemelha à burocracia moderna em geral: decisões são tomadas em algum lugar, enquanto não sabemos quais ou onde. Ora, a infraestrutura computacional é fundamental para isso, e é por este motivo que me interesso pela linhagem da burocracia como um "tropo" central, e não pela criatividade. Embora, para acrescentar algo mais, eu amplie o conceito de imagens operacionais para incluir práticas de imagens técnicas pertencentes a campos como a arquitetura, como estávamos dizendo: imagens que medem ou modelam o mundo.
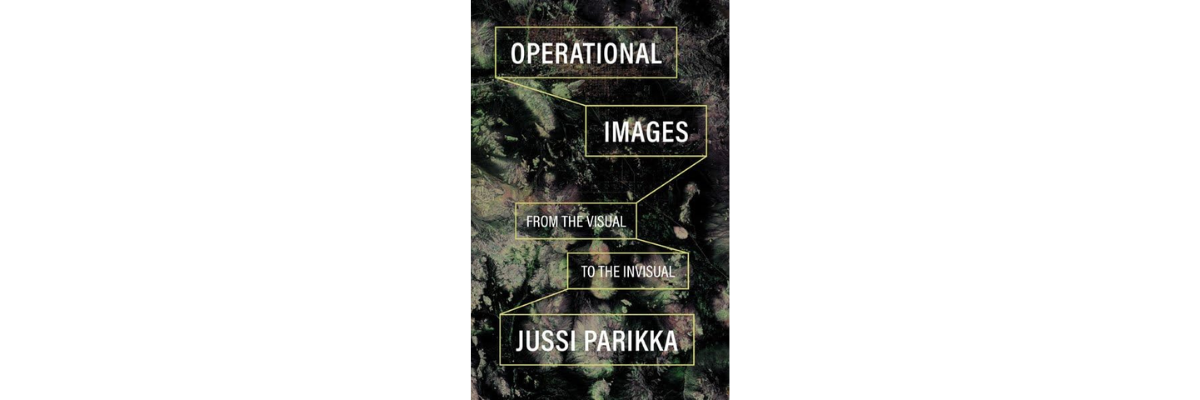
Livro de Jussi Parikka. (Foto: Reprodução/Amazon)
Que forma de política a percepção e a tomada de decisão automatizadas implicam ou substituem? Que lugar pode ocupar a imaginação crítica em sistemas que veem e decidem sem intervenção humana direta?
Para ser claro, não sou contra a automação: acredito que ela seja uma parte obviamente necessária da vida, e digo isso em um sentido amplo, não apenas em relação às tecnologias industriais ou pós-industriais. Filosoficamente falando, grande parte da vida humana gira em torno da automação, ou seja, além dos limites estreitos da ação consciente. A história cultural da imaginação está curiosamente ligada precisamente a formas não conscientes de compreender o mundo, como os sonhos. Mas, em termos de sistemas tecnológicos, a principal questão é: sob quais condições de automação operamos? A crítica aos sistemas corporativos é muito justificada e necessária. Além da imaginação crítica, também precisamos de estruturas legais robustas que nos permitam compreender os sistemas automatizados, bem como a possibilidade de criar sistemas alternativos.
Poderia detalhar essas operações legais necessárias? Que ator ou atores você imagina no centro delas? Estados-nação?
Estou pensando na criação e implementação de políticas, como as da UE, que permitam aos cidadãos entender que tipo de sistemas de tomada de decisão está sendo aplicado a eles. Isso não é uma solução, mas é melhor do que em outras partes do mundo. Refiro-me, por exemplo, ao Artigo 86 (“Direito à explicação da tomada de decisão individual”) da lei da União Europeia sobre IA, mas não estou endossando todo o pacote. Outra questão fundamental são os direitos de propriedade e como pensar radicalmente além da propriedade privada quando se trata de IA e big data.
Que tipo de regimes temporais e cenários futuros essas ideias geram? Como eles diferem dos imaginários tecnológicos anteriores?
Depende um pouco de quem está realizando a automação. Ainda acho a ideia de um “comunismo de luxo totalmente automatizado” bastante divertida. O que quero dizer é que devemos desenvolver imaginários sobre IA e outros futuros computacionais que não sejam meras críticas ao que temos, a “IA real existente”. A IA é interessante demais para ser deixada à mercê dos caprichos da chamada “economia da sobra” — termo cunhado por Kate Crawford — e dos imaginários que cercam o desperdício.
Em A Geologia da Mídia (Caja Negra, 2021), você explorou as profundas infraestruturas materiais da mídia contemporânea. Em Imagens Operacionais, você se inclina para sua estrutura mais etérea. Como vê a relação entre essas duas perspectivas (a geológica e a operacional) e o que essa mudança revela sobre a evolução de seus próprios interesses de pesquisa?
Continuo totalmente comprometido com o material! Imagens operacionais também são frequentemente objetos materiais, como interfaces, ambientes de design computacional, monitores e assim por diante. E dependem de infraestruturas materiais de grande escala: pense na IA como uma máquina de infraestrutura de grande escala composta por data centers, instalações de computação e infraestruturas de energia. Isso faz parte do meu interesse não apenas em imagens como elementos visuais, mas também no mundo das operações que transformam nossas cidades e paisagens.
As dimensões não humanas (técnicas, ambientais, algorítmicas, etc.) das imagens parecem estar ganhando destaque. Você vê isso como parte de uma virada pós-humanista mais ampla ou como uma continuação do materialismo midiático com novas implicações planetárias?
Penso que o pós-humanismo e o materialismo midiático são formas intimamente relacionadas de transitar de uma abordagem antropocêntrica para mundos mais sustentáveis, complexos e interessantes além do humano. O tipo de teoria pós-humanista que considero interessante deriva do trabalho feminista crítico e segue uma linha semelhante, como a de Rosi Braidotti e outras.
Mas sim, a ideia de que as imagens são um componente ativo não apenas na representação, mas também na transformação do planeta, parece-me particularmente relevante. Para mim, as imagens são um ponto de partida para a compreensão dos múltiplos tipos de agência tecnológica não humana que operam no mundo atual.
A história da arte e as teorias da imagem têm se concentrado, há muito tempo, na representação. Quais desafios você acha que surgem para as práticas artísticas quando as imagens existem cada vez mais como operações técnicas em vez de objetos de contemplação?
É simples, mas imensamente complexo: o que acontece com as artes visuais — e outras práticas artísticas contemporâneas, bem como com a educação — quando vivemos no que se chama de cultura "não visual"? O que é a não visualidade? Como outros colegas já articularam antes de mim, refere-se ao uso de imagens que não se relacionam mais exclusivamente à visualidade. Pense, por exemplo, na agregação e classificação computacional de imagens em dados de treinamento de aprendizado de máquina. As escolas de arte e design precisam responder a isso de novas maneiras, com novos tipos de educação e também com atitudes estéticas que não podem simplesmente revisitar textos antigos, mas devem desenvolver abordagens sobre como lidar com isso adequadamente.
Você afirma, então, que a educação, a arte e o design devem responder à cultura não visual. Já viu algum trabalho artístico ou pedagógico que incorpore essa mudança, práticas que você considera particularmente significativas?
Bem, Trevor Paglen vem desenvolvendo sua própria resposta às imagens operacionais há algum tempo, que, em certa medida, opera dentro dessa estrutura. Da mesma forma, há vários anos temos testemunhado diversos projetos que buscam visualizar esferas antes invisíveis, como a radiação eletromagnética. A dupla feminista Open Weather, por exemplo, trabalha acessando dados de satélite para abordar a corporeidade diante dessas infraestruturas de detecção que escapam à percepção visual.
Projetos como "Volumetric Regimes: Material Cultures of Quantified Presence" [Regimes volumétricos: culturas materiais e presença quantificada], de Jara Rocha e Femke Snelting, abriram caminhos muito interessantes na arte e na política em relação a esse regime expandido de imagens baseadas em software. Em meu livro, também me refiro ao trabalho de artistas como Rosa Menkman. Muitas das melhores obras em visualização de dados são, na verdade, investigações sobre os mundos multiespectrais da detecção, como o trabalho de pesquisa e design de Robert Pietrusko. Muitas outras poderiam ser mencionadas, também no que diz respeito às plataformas computacionais e como elas exemplificam a invisualidade…
Nos últimos anos, seu trabalho (e o de pensadores como Claire Colebrook, Yuk Hui, Benjamin Bratton e Armen Avanessian) tem apontado para uma mudança do “global” ou do “universal” para o “planetário” como uma estrutura fundamental para a compreensão da tecnosfera. O que você pensa sobre isso?
Gosto de pensar no planetário como um termo que nos ajuda a considerar a escala e a materialidade do planeta. O planeta é uma entidade material, como muitos teóricos já apontaram. Não é apenas uma construção cultural, mas também o que, neste contexto, pode ser chamado de uma história natural particular da logística, composta por fluxos, forças e diferentes ambientes.
É importante enfatizar que o planetário não tem necessariamente a escala do próprio planeta, mas é um mosaico, uma colcha de retalhos, como Anna Tsing e outros observaram. Não é um todo unificado, mas sim uma série de diferentes regiões e territórios de intensidade variável.
Para mim, o que está fundamentalmente em jogo é a multiescalaridade: o planeta é local, as tecnologias têm consequências planetárias e as nossas tecnologias são fundamentais para a compreensão de processos em escalas tão vastas quanto a do planeta.
Considerando que essa mudança planetária exige novas formas de pensar sobre proporções e escalas, como você entende a relação entre computação e o próprio planeta?
As provocações de Benjamin Bratton são interessantes nesse sentido. Por minha parte, tenho me interessado pelas consequências em larga escala da IA e de outras culturas computacionais — ou seja, que elas também são uma força que transforma o planeta. Isso se deve aos custos energéticos e às necessidades minerais de tais infraestruturas. A computação está, portanto, intimamente ligada ao extrativismo e ao seu papel na geopolítica atual. Meu livro Geologia da Mídia deve ser lido em conjunto com vozes críticas como a de Martín Arboleda, Planetary Mine [Mina planetária].
Será que a noção de imageamento operacional pode ser considerada parte dessa condição planetária mais ampla, na qual tanto a matéria quanto a mediação parecem operar além da escala humana?
Sim, exatamente. É por isso que me interesso por todas as histórias sobre satélites de observação da Terra e sensoriamento remoto; eles são formas técnicas de gerar imagens do planeta em várias escalas, mas também de criar uma noção do que poderia ser considerado um planeta biogeoquímico.
Seus escritos frequentemente oscilam entre a teoria da mídia e a estética (e até mesmo práticas curatoriais ou artísticas específicas). A própria teoria da mídia pode se tornar “operativa”?
Eu gostaria de dizer que sim, mas, claro, operativa no sentido mais amplo do termo — isto é, ativa, transformadora e dinâmica. É assim, em linhas gerais, que vejo — e ensino — os conceitos: eles são agentes operativos, operações pragmáticas. É aqui que minha formação em filosofias como as de Deleuze e Guattari se torna evidente. Tenho interesse, e sempre tive, no não representacional, que nos leva a pensar sobre outras maneiras pelas quais a cultura material funciona, além dos significados.
Também me interesso pelo sentido expandido da teoria, como em nosso trabalho artístico colaborativo com Abelardo Gil-Fournier. Nosso novo ensaio em vídeo, Lumi, está sendo apresentado na Trienal de Arquitetura de Lisboa e funciona precisamente como uma extensão do que também fazemos em nossos escritos.