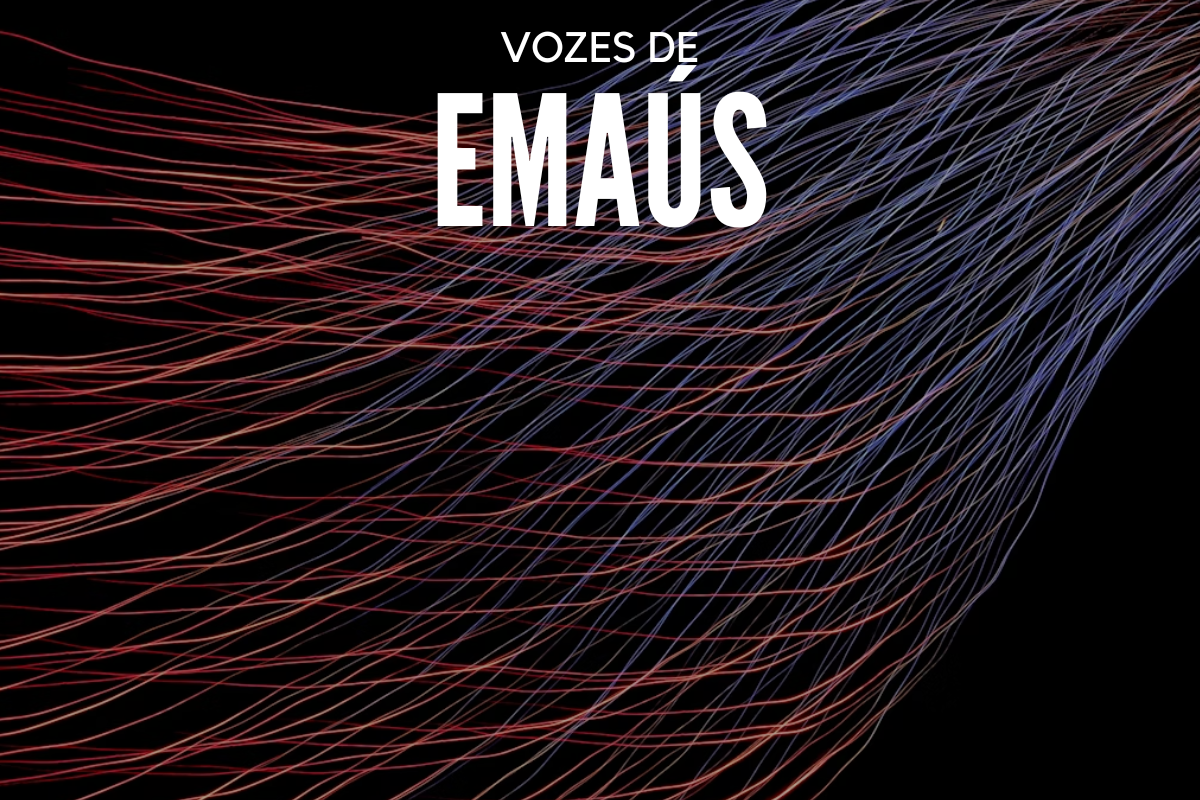15 Outubro 2025
"Pode-se justificar o liberalismo como o impĂŠrio do mal menor; ĂŠ impossĂvel fazĂŞ-lo passar por uma sociedade onde reina a justiça ou esquecer que a sua ideia de liberdade ĂŠ a antecipação jurĂdica de uma liberdade real inexistente, o fragmento de um projeto inacabado."
O artigo ĂŠ de Guido Mazzoni, escritor, publicado por Settimana News, 14-10-2025.Â
Eis o artigo.
Recentemente foi lançado, pela Laterza, Senza riparo. Sei tentativi di leggere il presente (Sem Abrigo. Seis tentativas de ler o presente), de Guido Mazzoni. "A Guerra Fria nĂŁo acabou, algumas batalhas locais tambĂŠm continuam, mas as pessoas estĂŁo abrigadas e as observam como chuvas de granizo de verĂŁo em um dia de sol", escrevia Italo Calvino em 1961, referindo-se Ă percepção da histĂłria que se tinha naqueles anos. ApĂłs o fim da Guerra Fria, nos anos 90 (mas tambĂŠm depois, apesar do 11-09-2001), a sensação de estar abrigado dominou o senso comum das maiorias. Nos Ăşltimos quinze anos, porĂŠm, essa impressĂŁo se dissolveu e deu lugar a uma impressĂŁo oposta, a de estar no meio de uma crise complexa da qual os populismos e as guerras culturais sĂŁo os aspectos mais visĂveis.
Senza riparo busca interpretĂĄ-la, refletindo sobre alguns eventos decisivos e algumas figuras simbĂłlicas, a começar por Donald Trump. Ao mesmo tempo, reflete sobre certas premissas fundamentais da polĂtica contemporânea, e em particular sobre a ideia de que as sociedades ocidentais jĂĄ nĂŁo conseguem imaginar uma alternativa que nĂŁo seja a degeneração autoritĂĄria da democracia liberal ou o desarranjo. Mas, antes de tudo, reflete sobre a natureza aproximada e falĂvel dos discursos que envolvem a polĂtica. Retiramos do blog Le parole e le cose (28-04-2025) dois parĂĄgrafos da Introdução.

O fim dos abrigos
A sensação de estar abrigado acabou por razĂľes econĂ´micas, demogrĂĄficas, geopolĂticas, ecolĂłgicas e tecnolĂłgicas. Eu as exponho nesta sucessĂŁo porque esta ĂŠ a ordem de importância pela qual sĂŁo percebidas.
A crise que começou em 2007-2008, a mais grave desde 1929, mostrou ao Ocidente coletivo que o seu lugar no mundo nĂŁo estĂĄ garantido para sempre. No inĂcio dos anos noventa, os paĂses do G7 (as economias ocidentais mais importantes, mais o JapĂŁo) ainda produziam cerca de metade do produto interno bruto planetĂĄrio em paridade de poder de compra; hoje, produzem menos de um terço. Ă verdade que o PIB mundial total continua a aumentar a uma velocidade sustentada, mas ĂŠ igualmente verdade que, hĂĄ algumas dĂŠcadas, sĂŁo sobretudo os PaĂses nĂŁo ocidentais que estĂŁo a crescer.
AlĂŠm disso, a distribuição da riqueza tornou-se mais desigual no Ocidente, tanto entre as classes como entre as ĂĄreas geogrĂĄficas, seguindo uma tendĂŞncia oposta Ă prevalecente nas trĂŞs dĂŠcadas seguintes Ă Segunda Guerra Mundial, quando as diferenças tinham diminuĂdo. Entretanto, o sistema de proteçþes que os trabalhadores tinham conseguido conquistar foi progressivamente enfraquecido.
Isso significa que as classes populares e uma parte das classes mĂŠdias dos Estados Unidos e da Europa Ocidental estĂŁo entre os perdedores da globalização: uma derrota lenta, mas incontrovertĂvel, porque a riqueza relativa diminui enquanto as desigualdades internas Ă s naçþes aumentam, e porque o neoliberalismo tornou a vida de muitos mais precĂĄria do que era hĂĄ algumas dĂŠcadas.
Um segundo aspecto ĂŠ a crise demogrĂĄfica.
A população europeia, sobretudo a caucasiana, estĂĄ destinada a diminuir, tanto em termos absolutos como relativos (a ItĂĄlia estĂĄ entre os paĂses que envelhecem e se esvaziam mais rapidamente), enquanto a população norte-americana aumenta pouco, mas sobretudo porque crescem as etnias nĂŁo caucasianas; ao mesmo tempo, grandes massas de pessoas que pertencem a culturas diferentes das dos autĂłctones pressionam nas fronteiras, e esta transformação ĂŠ vivida com inquietação pelas maiorias.
As teorias de extrema-direita sobre a "grande substituição" são a versão fóbica de um fenómeno real cujo efeito no sentimento primitivo de territorialidade e no medo ancestral do diferente a esquerda tende a subestimar.
Um terceiro aspecto ĂŠ a crise da ordem mundial de hegemonia americana que nasceu apĂłs 1989-1991.
Se a retirada desonrosa dos Estados Unidos do AfeganistĂŁo e a guerra na Ucrânia tinham aberto uma nova fase, mostrando Ă s outras potĂŞncias que os americanos tinham-se tornado mais fracos, os primeiros dias da segunda administração Trump parecem ter subvertido a gramĂĄtica das relaçþes geopolĂticas que vigorava apĂłs o fim da Guerra Fria, ou atĂŠ mesmo apĂłs o fim da Segunda Guerra Mundial.
Nos Ăşltimos trinta e cinco anos, os Estados Unidos sempre tentaram exercer a sua hegemonia levando em conta o direito internacional, nĂŁo porque o tenham sempre respeitado (pelo contrĂĄrio, violaram-no muitas vezes, com os bombardeamentos na SĂŠrvia ou com a invasĂŁo do Iraque, nas prisĂľes de Abu Ghraib e de GuantĂĄnamo), mas porque o seu discurso pĂşblico nunca ignorou a sua existĂŞncia, mesmo quando a prĂĄtica polĂtica ia na direção contrĂĄria.
E, no entanto, as primeiras palavras e os primeiros atos da nova administração movem-se fora de qualquer quadro jurĂdico, como quando Trump considera possĂvel uma invasĂŁo militar do Canal do PanamĂĄ ou da Groenlândia, ou quando se recusa a condenar publicamente a invasĂŁo russa da Ucrânia, e parecem endossar o regresso a uma pura polĂtica de poder, tal como era praticada antes que o direito internacional tentasse enquadrar as relaçþes entre Estados num sistema de regras que, por mais frĂĄgil, contraditĂłrio e hipĂłcrita que fosse, agia sempre como um travĂŁo ao direito do mais forte.
Mas os primeiros atos de Trump parecem ainda mais extremistas do que isso, porque parecem atĂŠ subverter os acordos escritos e nĂŁo escritos que, apĂłs a Segunda Guerra Mundial, tinham permitido o nascimento do Ocidente coletivo. Ameaçar a saĂda dos Estados Unidos da NATO, ou mesmo apenas exigir que os PaĂses europeus aumentem os gastos militares para contribuir mais para o orçamento da aliança, significa, de fato, violar o pacto implĂcito que se tinha formado com o Plano Marshall e o nascimento da prĂłpria NATO, e em virtude do qual a AmĂŠrica dava proteção a paĂses que, de fato, renunciavam a uma parte considerĂĄvel da sua soberania. Este do ut des, procurado e ao mesmo tempo submetido, garantia a segurança dos Estados protegidos e fazia-os viver sob tutela.
Hoje, as naçþes europeias tĂŞm exĂŠrcitos subdimensionados em relação Ă riqueza de que dispĂľem: apenas a França e a GrĂŁ-Bretanha possuem a arma atĂłmica; a Alemanha, a ItĂĄlia, os PaĂses Baixos e a BĂŠlgica nĂŁo podem tĂŞ-la, com base nos acordos internacionais que assinaram, e, no entanto, acolhem tropas e armas nucleares americanas como os Estados satĂŠlites que, de fato, sĂŁo.
A guerra na Ucrânia e as primeiras semanas da nova presidĂŞncia Trump mostraram aos europeus que o abrigo geopolĂtico em que viveram pode desmoronar-se e recordaram-lhes, apĂłs quase oitenta anos de vida em tempo de paz, que a guerra ĂŠ uma possibilidade da polĂtica, uma forma de resolução das controvĂŠrsias internacionais para a qual ĂŠ preciso estar preparado. O despertar desta longa ĂŠpoca de menoridade arrisca-se a ser traumĂĄtico para uma opiniĂŁo pĂşblica que se desabituou de pensar as relaçþes entre Estados de forma adulta e para uma instituição como a UniĂŁo Europeia, que nunca se tornou um verdadeiro sujeito polĂtico.
Um quarto aspecto ĂŠ a crise ecolĂłgica, que todos sabemos ser real e iminente. Mas, se quisermos dizer a verdade, devemos reconhecer que, por enquanto, ninguĂŠm se importa com esta crise: a prioridade do debate pĂşblico nunca ĂŠ a ecologia, e isso ĂŠ verdade em todos os paĂses, mesmo nos da Europa Setentrional. TerĂĄ de passar pelo menos uma geração para que a crise ambiental possa decidir os resultados do voto, e nĂŁo ĂŠ de todo certo que esse momento chegue â sobretudo nas democracias, que vivem no presente eterno do consenso e tĂŞm dificuldade em pensar no futuro.
Finalmente, hĂĄ uma quinta crise ligada ao controle da tecnologia, a mais perigosa e a menos percebida.
HĂĄ pelo menos setenta anos que a espĂŠcie humana tem o poder de se destruir por uma decisĂŁo polĂtica ou por um erro tĂŠcnico. Quando se pensa no apocalipse nuclear, pensa-se quase sempre na primeira hipĂłtese e tende-se, em vez disso, a subestimar quĂŁo complexo ĂŠ o mecanismo da dissuasĂŁo atĂłmica.
A crise de Cuba de outubro de 1962 entrou na memĂłria coletiva, enquanto nĂŁo muitos sabem que, em 26-09-1983, o erro de um computador quase desencadeou a retaliação soviĂŠtica por um ataque americano inexistente. Situaçþes semelhantes ocorreram vĂĄrias vezes, antes e depois da Guerra Fria, e no futuro ĂŠ possĂvel que a inteligĂŞncia artificial desenvolva um potencial destrutivo semelhante ao da energia atĂłmica. Controlar os efeitos de tecnologias tĂŁo perigosas nĂŁo ĂŠ simples.
A consciĂŞncia coletiva defende-se como sempre fez, ou seja, reprimindo, e no entanto "o fim do mundo entrou plenamente no rol das possibilidades reais, capazes de influenciar as dinâmicas sociais jĂĄ apenas enquanto possibilidade", e nĂŁo ĂŠ por acaso que as artes das Ăşltimas dĂŠcadas, agindo como sede de um regresso do reprimido, transformaram o relato apocalĂptico num dos gĂŠneros mais praticados.
A nova cena polĂtica
A segunda novidade tem a ver com a polĂtica interna.
Se por quase duas dĂŠcadas apĂłs o fim da Guerra Fria o desinteresse foi a Stimmung dominante das sociedades ocidentais, hoje o panorama geral parece muito diferente. A fortĂssima tensĂŁo polĂtica que dilacera os Estados Unidos, por exemplo, era totalmente imprevisĂvel hĂĄ trinta e quatro anos, na quietude dos anos noventa, quando a AmĂŠrica impunha a sua hegemonia; aliĂĄs, este conflito ĂŠ hoje tĂŁo intenso que se pode perguntar se ainda ĂŠ legĂtimo falar de Western way of life no singular ou se os conflitos internos nĂŁo estarĂŁo a tornar-se uma nova guerra civil comparĂĄvel, em termos de jogo e intensidade, Ă s batalhas polĂticas do sĂŠculo XX.
Um aspecto superficial, mas eloquente, da transformação que a esfera pĂşblica sofreu ĂŠ o comportamento das massas. Durante muito tempo, a classe hegemĂłnica no Ocidente era a versĂŁo atualizada da gente de Calvino, da maioria silenciosa de Nixon e da nova burguesia de Pasolini: desinteressada, pĂłs-polĂtica, individualista, familista, consumista, turĂstica, desinibida, pĂłs-burguesa, superficialmente polĂcroma se vista de perto, intimamente coesa se vista de longe e tendencialmente centrista.
Hoje, as maiorias nĂŁo sĂŁo mais silenciosas nem centristas; comportam-se, em vez disso, como "classes falantes" e polarizadas que participam todos os dias numa espĂŠcie de assembleia online perene, dividida em bolhas, tomando a palavra (ou comentando a palavra alheia, nem que seja com um like) dentro de um espaço polĂtico que as redes sociais remodelaram completamente.
à sintomåtico que a forma de agregação primåria do mais original entre os novos partidos italianos, o Movimento 5 Estrelas, fosse precisamente a assembleia online. Os dois conflitos mais importantes da dÊcada de 2010, os gerados pelas culture wars e pelos novos populismos, nascem dentro desta esfera pública inquieta, porque as novas maiorias, alÊm de falantes, estão tambÊm profundamente divididas.
Ponto de ignição das guerras culturais, o ativismo woke representa, sob certos aspetos, o correlativo atual das velhas minorias ruidosas de esquerda e exprime os valores daquela parte das classes mĂŠdias que beneficia da globalização, ama o cosmopolitismo e se comporta como uma vanguarda na metamorfose dos costumes. O seu fundamento ideolĂłgico, como se dirĂĄ, ĂŠ o grande projeto polĂtico da emancipação liberal, que ĂŠ, por sua vez, o resultado da Ăşnica revolução bem-sucedida da ĂŠpoca moderna, a burguesa.
A emancipação liberal tem duas faces.
A primeira, jurĂdica, ĂŠ o cumprimento do individualismo moderno e tem como objetivo tornar as pessoas livres para se autodeterminarem, adquirindo direitos e desvinculando-se de um passado autoritĂĄrio, patriarcal e etnocĂŞntrico. Este princĂpio choca com os resĂduos de um ethos tradicional que parece injustificĂĄvel se se assumir como valor o direito de ser o que se quiser, talvez com a ajuda da tĂŠcnica.
Ă um confronto moral e biopolĂtico que tem como objeto as hierarquias entre os sexos e as culturas, a ideia de normalidade, os costumes, os estilos de vida, o corpo, as questĂľes da identidade sexual, do nascimento e da morte artificial e parece levar Ă s Ăşltimas consequĂŞncias o slogan que, nos anos sessenta e setenta, anunciou um novo modo de conceber a esfera pĂşblica e os seus partages du sensible: "O pessoal ĂŠ polĂtico".
A segunda face, social, Ê uma espÊcie de prossecução do projeto redistributivo social-democrata e procura agir sobre as injustiças ligadas às diferenças de gÊnero, raça, cultura, orientação sexual, mas tende a ignorar, ou em todo o caso a subestimar, as injustiças produzidas pela economia de mercado e pelo capitalismo, aquelas que o velho projeto social-democrata colocava, em vez disso, no centro do discurso.
HĂĄ alguns anos, na biblioteca de uma das mais liberais das universidades americanas, Berkeley, havia um cartaz que dizia youâre in bear territory, sendo o bear, o urso, a mascote da universidade. Continuava dizendo: no discrimination, no fear, no hate, no intolerance; no hate for race, sexual orientation, religious beliefs, disabilities e dando voz Ă crĂtica liberal das hierarquias simbĂłlicas que o fundo patriarcal e colonial da sociedade americana e europeia continua consciente ou inconscientemente a defender. Ă muito interessante que numa lista tĂŁo minuciosa faltasse qualquer referĂŞncia Ă forma de discriminação em que o pensamento polĂtico oitocentista e novecentista mais insistiu, a de classe.
Uma das primeiras apostas do confronto cultural de hoje ĂŠ precisamente a redefinição dos partages du sensible. Quando, em junho de 2024, Claudia Sheinbaum venceu as eleiçþes mexicanas, por exemplo, a imprensa liberal mundial sublinhou que, pela primeira vez, o MĂŠxico seria governado por uma mulher, mas nĂŁo disse quase nada sobre o programa de Sheinbaum ou sobre o seu vĂnculo polĂtico com o presidente cessante, LĂłpez Obrador, de quem Sheinbaum herdou o sistema de poder e o populismo autoritĂĄrio.
O fato de uma mulher ter vencido as eleiçþes no MĂŠxico parece ao New York Times, ao Guardian ou Ă CNN, mais importante do que a polĂtica que esta mulher adotarĂĄ. Algo semelhante tinha acontecido hĂĄ trĂŞs anos, quando Giorgia Meloni se tornou a primeira presidente do Conselho na ItĂĄlia, e, com mais razĂŁo, teria acontecido se Hillary Clinton ou Kamala Harris tivessem vencido as eleiçþes americanas. Ă como se o conflito entre homens e mulheres fosse considerado mais polĂtico do que os programas propriamente polĂticos.
O adversĂĄrio da cultura liberal ĂŠ uma opiniĂŁo pĂşblica de direita que, nas Ăşltimas dĂŠcadas, se radicalizou, assumindo posiçþes que antes pareciam indizĂveis ou destinadas a permanecer minoritĂĄrias. Ă composta por quem se sente ameaçado pela globalização e pelas consequĂŞncias do liberalismo moral.
Embora herdeira das velhas maiorias silenciosas, aquelas que ainda nĂŁo estavam prontas para repudiar em pĂşblico os valores transmitidos, mesmo quando em privado experimentavam novos costumes, esta opiniĂŁo pĂşblica tornou-se com o tempo mais ruidosa e voltou a pĂ´r em discussĂŁo algumas conquistas de civilização que, no pĂłs-guerra, pareciam adquiridas para sempre: conquistas culturais, como a imprĂłpria presença de certas ideias xenĂłfobas, e conquistas polĂticas, como a ideia de que a democracia se baseia num sistema de vĂnculos constitucionais e no equilĂbrio de poderes, e que nĂŁo pode nem deve tornar-se um cesarismo, um bonapartismo ou, como se diz usando uma categoria que surgiu no final dos anos noventa, uma democracia iliberal.
Enquanto as guerras woke procuram modificar a decoração interior de um edifĂcio cuja arquitetura externa, capitalista e liberal, nĂŁo ĂŠ posta em questĂŁo, os populismos de direita arriscam-se a alterar as estruturas da Western way of life, e nĂŁo porque persigam um projeto de mudança utĂłpica â uma revolução mesmo que negra, como o fascismo histĂłrico com a sua ideia de Estado ĂŠtico â mas porque tĂŞm uma concepção autoritĂĄria do poder conferido pelo voto que arrisca entrar em conflito com as regras constitucionais das democracias.
NĂŁo ĂŠ um derrube evidente, ideolĂłgico e reivindicado, mas uma corrosĂŁo que mantĂŠm a fachada em pĂŠ, esvaziando o edifĂcio por dentro.
AlĂŠm do confronto entre uma concepção liberal e uma concepção iliberal da democracia, a linha de falha decisiva da polĂtica interna no Ocidente coletivo ĂŠ aquela que opĂľe quem quer o cumprimento do liberalismo moral e quem defende posiçþes conservadoras. TambĂŠm neste campo o confronto nĂŁo ĂŠ nem hiperbĂłlico nem histĂŠrico, as decisĂľes de fundo ainda devem ser tomadas e o resultado das eleiçþes conta.
Se a esquerda de antigamente considerava as relaçþes de classe e a exploração do trabalho pelo capital como as primeiras e mais profundas formas de injustiça, a esquerda liberal deixou de imaginar uma alternativa Ă economia de mercado e coloca no centro do seu discurso as injustiças geradas por outras relaçþes de força (entre os sexos, as etnias, os estilos de vida) que a esquerda de antigamente considerava contradiçþes secundĂĄrias. Quem defende o novo partage du sensible pode, em vez disso, sustentar, com bons argumentos, que a luta pela emancipação das mulheres e das minorias age sobre linhas de falha mais profundas, estendidas e duradouras do que aquelas tocadas pelo confronto entre modelos de engenharia social que marcou a polĂtica novecentista.
Nesta nova repartição, o conflito de classe desliza para o fundo e arrisca-se a nĂŁo ser percebido, tambĂŠm porque a cultura liberal aceita as grandes arquiteturas polĂticas e econĂłmicas que saĂram vitoriosas da Guerra Fria, a começar pelo capitalismo. Hoje ĂŠ a direita que recolhe o voto das classes populares.
Quem, pelo contrĂĄrio, olha para a cena polĂtica de hoje tendo ainda em mente as utopias da esquerda oitocentista e novecentista, tem a certeza de que a frente global se deslocou para a direita em relação a cinquenta anos atrĂĄs, quer porque as sociedades ocidentais nĂŁo conhecem alternativas de sistema a nĂŁo ser a degeneração autoritĂĄria da democracia formal ou o desarranjo, quer porque a parte que se coloca Ă esquerda age como se as crĂticas que a cultura marxista e o movimento operĂĄrio moveram Ă injustiça do capitalismo ou Ă hipocrisia da polĂtica liberal nunca tivessem existido, enquanto ainda sĂŁo todas verdadeiras.
Pode-se justificar o liberalismo como o impĂŠrio do mal menor; ĂŠ impossĂvel fazĂŞ-lo passar por uma sociedade onde reina a justiça ou esquecer que a sua ideia de liberdade ĂŠ a antecipação jurĂdica de uma liberdade real inexistente, o fragmento de um projeto inacabado.
Leia mais
- Liberalismo econĂ´mico e democracia
- A genealogia do liberalismo
- Liberalismo econĂ´mico. A crise do capitalismo e a tentativa de resposta teĂłrica: a tese do âmercado totalâ
- Valeu a pena! Artigo de Manfredo de Oliveira
- Nova Dinastia. Artigo de Manfredo de Oliveira
- Francisco e a metafĂsica como ecologia integral: a questĂŁo fundamental do pensamento contemporâneo. Entrevista especial com Manfredo AraĂşjo de Oliveira
- Para compreender o neoliberalismo alĂŠm dos clichĂŞs
- O que Ê a subjetivação neoliberal?
- Neoliberalismo: A âgrande ideiaâ que engoliu o mundo
- Uma nova ideia de economia de mercado. Artigo de Stefano Zamagni
- 'Estamos frente a um sistema de agiotagem que paralisou o paĂs'
- O poder parasitĂĄrio do sistema financeiro, na anĂĄlise de Ladislau Dowbor
- Socialismo do SĂŠculo XXI, um conceito perdido nas brumas. Entrevista especial com Elaine Santos
- âO carĂĄter destruidor do capitalismo ĂŠ um dos problemas mais importantes da luta revolucionĂĄriaâ. Entrevista com Michael LĂśwy
- MĂĄquinas, inteligĂŞncia artificial e o futuro do capitalismo
- Capitalismo no sÊculo XXI e a força cerebral no cerne da cadeia do valor. Entrevista especial com Yann Moulier Boutang
- Revolução 4.0: Quem ficarå com os ganhos de produtividade?