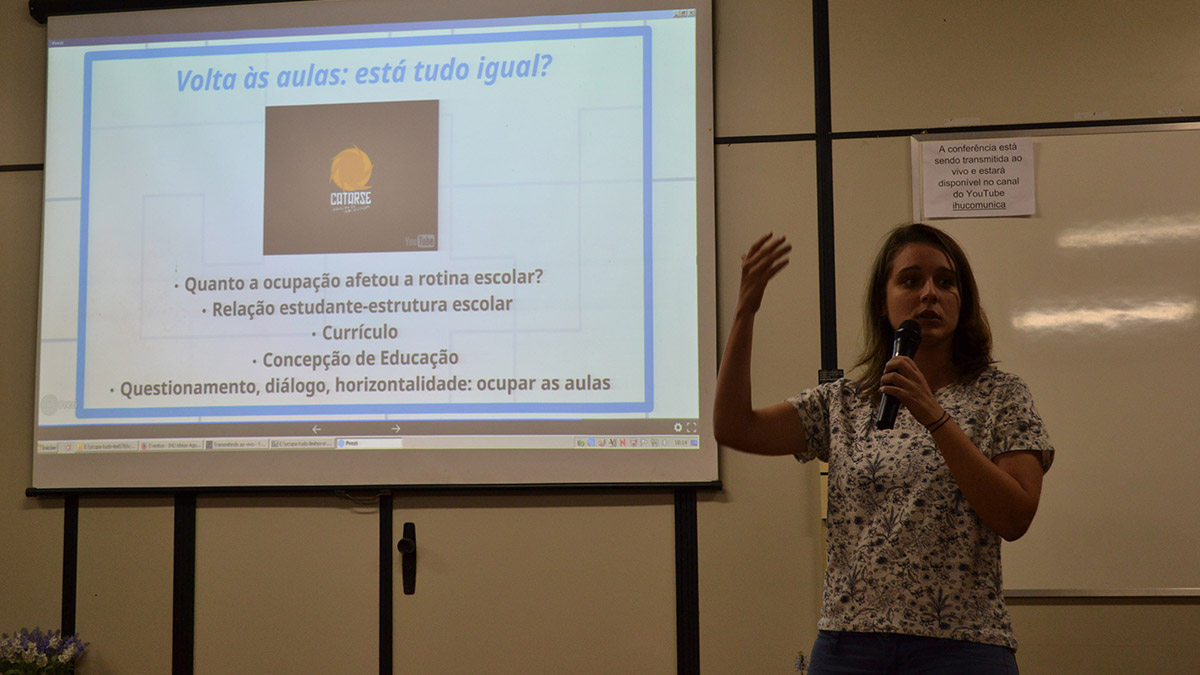18 Junho 2024
“Continuar a projetar pressupondo extrações indiscriminadas para reconstruir nossas cidades nos levará ao mesmo lugar. Nos levará à catástrofe do Rio Grande do Sul. Nos levará novamente à catástrofe de Mariana, à catástrofe de São Sebastião e a tantos outros eventos extremos do último decênio. O paradoxo se impõe, pois não sabemos como projetar de outra forma. Não sabemos como fazer o luto da prática projetual extrativista. Incapacidade que não é própria dos rio-grandenses, mas de todos os brasileiros, uma incapacidade que é global”, escreve Eduardo Augusto Costa, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, em artigo publicado por Jornal da USP, 14-06-2024.
Eis o artigo.
A filósofa Déborah Danowski e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro escreveram, em passagem de um recente livro [Há um mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins], que é preciso fazer o “luto daquilo que já está morto” e que ainda mais terrível do que as catástrofes que vivemos com o antropoceno é a nossa incapacidade de fazer esse luto. Uma incapacidade que é mortal.
A provocação colocada por estes dois incontornáveis intelectuais permite propor a seguinte questão: para além do luto das vítimas, qual o luto necessário diante da catástrofe no Rio Grande do Sul? Para responder a esta pergunta, parece-me importante observar três aspectos, três escalas, e pensar sobre nossas habilidades e limitações para interpretar o problema e projetar soluções.
A primeira escala é imediata: a da urgência. Quase duas centenas de pessoas morreram. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. São milhares de desabrigados. Diversos hospitais públicos foram destruídos. O acesso à alimentação, à energia e outros requisitos básicos para nossa sobrevivência estão inacessíveis e restritos para um grande número pessoas no momento. Há, portanto, uma urgência por ações emergenciais, visando ao reestabelecimento e à garantia de um mínimo à população diretamente impactada com o evento. Trata-se de solucionar aquilo que é inadiável, urgente, mesmo que através de soluções simples, no limite do precário. E diante da urgência, nesta escala, a população brasileira tem se mostrado muito acolhedora e habilidosa.
A segunda escala diz respeito à reconstrução. Como a faremos quando as chuvas passarem e as enchentes acabarem? Com milhares de desabrigados e cidades inteiras destruídas, é fundamental que recorramos a designers, arquitetos, urbanistas e engenheiros. Para além dos mecanismos fiscais para a sua realização, trata-se de pensar em como reconstruiremos infraestruturas, equipamentos, cidades, casas, objetos. Trata-se de pensar em soluções projetuais para mitigar ou bloquear os efeitos das volumosas chuvas que sabemos que virão cada vez mais fortes e com maior frequência. A orientação é mobilizar projetos resilientes. Nesta escala, temos visto um interesse por soluções, que, apesar de poucas, são vistas como importantes para um futuro de eventos extremos, que já é a nossa realidade.
A terceira e última escala é a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais importante: a escala do luto. Quando pensamos em reestabelecer aquilo que foi perdido, tendemos a projetar, elaborar uma reconstrução aos moldes daquilo que existiu num tempo anterior. Trata-se de uma reparação a nossa imagem, aos moldes da abstração projetual que conhecemos. É neste ponto que se encontra o cerne do problema. A abstração moderna, estruturante do nosso pensamento projetual, é justamente aquela que nos levou ao antropoceno. Se a crise climática é consequência da maneira como nos relacionamos com a Terra, projetar a reconstrução pressupõe repensar as responsabilidades que assumimos quando decidimos por extrair outras milhares de toneladas de areia, rochas, cimentos, ferros, barris de petróleo. Continuar a projetar pressupondo extrações indiscriminadas para reconstruir nossas cidades nos levará ao mesmo lugar. Nos levará à catástrofe do Rio Grande do Sul. Nos levará novamente à catástrofe de Mariana, à catástrofe de São Sebastião e a tantos outros eventos extremos do último decênio. O paradoxo se impõe, pois não sabemos como projetar de outra forma. Não sabemos como fazer o luto da prática projetual extrativista. Incapacidade que não é própria dos rio-grandenses, mas de todos os brasileiros, uma incapacidade que é global.
A crise do Rio Grande do Sul é fruto da irresponsabilidade de governos que se omitiram diante de suas responsabilidades. Mas é também resultado da nossa incapacidade de fazer o luto daquilo que já está morto. E o que está morto é o modo como pensamos e projetamos a nossa existência na Terra. A crise do Rio Grande do Sul é a crise de uma concepção de humanidade. O que precisamos é reconhecer esta incapacidade atual, fazer o luto. Somente assim será possível encontrar um outro caminho para a nossa existência. Caso contrário, será mortal para a nossa e para as outras espécies.
Leia mais
- Antropoceno no Pampa. Crise climática e os desastres ambientais no RS. Artigo de Jaqueline Hasan Brizola
- Porto Alegre e o RS como símbolos altermundialistas marcaram o fim de uma era civilizatória e o começo do que nos levou à barbárie climática. Entrevista especial com Luís Augusto Fischer
- Tragédia do Rio Grande do Sul. Um desastre previsto. Entrevista especial com Paulo Artaxo
- “Porto Alegre é uma cidade ambientalmente abandonada”. Entrevista com Rualdo Menegat
- Dos escombros negacionistas podem sair luzes e propósitos. Artigo de Tarso Genro
- Desterrados ambientais: mudanças climáticas afetam milhões de pessoas. Artigo de Roberto Malvezzi
- Do Rio Grande do Sul à Amazônia: como o capitalismo muda os rios. Artigo de Murilo Pajolla
- A urgente necessidade de um estudo sobre a bacia do Guaíba: “Fisionomia do Rio Grande do Sul” – Pe. Balduino Rambo, SJ. Artigo de Felipe de Assunção Soriano
- A natureza dialoga conosco o tempo todo: o que ela está nos dizendo na Tragédia Ambiental do Rio Grande do Sul. Artigo de Vilmar Alves Pereira
- Os desafios da reconstrução das cidades no Rio Grande do Sul. Artigo de Raquel Rolnik