23 Abril 2024
Abaixo, os trechos da entrevista de Luiz Werneck Vianna concedida a Ricardo Musse, por ocasião do lançamento do livro Esquerda brasileira e tradição republicana: estudos de conjuntura sobre a Era FHC-Lula (2006).
Luiz Werneck Vianna (1938-2024) foi professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Autor de A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil (Revan), entre outros.
A entrevista foi publicada originalmente por Caderno Mais! da Folha de S.Paulo, 12-03-2006, e reproduzida por A Terra é Redonda, 16-04-2024.
Eis a entrevista.
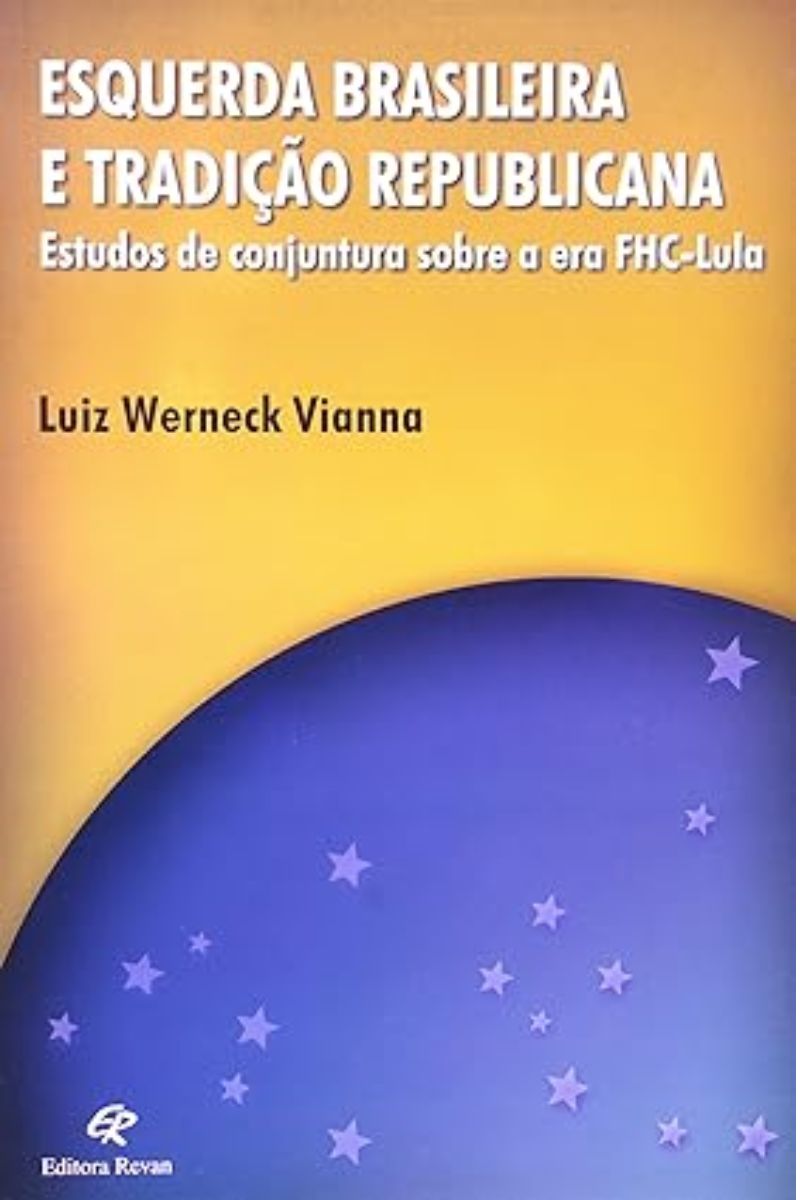
Imagem: Divulgação
Os estudos de conjuntura
Esse gênero deitou raízes entre nós desde o regime militar. Os intelectuais de esquerda fizeram da análise de conjuntura uma atividade recorrente, até mesmo como exercício de sobrevivência. Era imperativo compreender o terreno em que pisávamos. A situação oscilava muito, pois o regime militar assentava-se em uma composição de forças muito heterogêneas. Muitos dos artigos que Fernando Henrique Cardoso publicou nas décadas de 1970 e 1980 tinham essa marca. Sob a ditadura, nos círculos de resistência de que fazia parte, praticávamos esse gênero com bastante assiduidade. A tradição permaneceu, inclusive porque a mídia elegeu os intelectuais como intérpretes privilegiados da conjuntura política, disseminando suas análises.
Interpretações do Brasil
É possível detectar em cada estudo de conjuntura traços das grandes interpretações do Brasil. O eixo dominante na compreensão contemporânea do país é a interpretação de Raymundo Faoro, secundado pela leitura que Simon Schwartzman fez de Os donos do poder. Essa matriz baliza tanto o programa do PSDB como o do PT. Aliás, o discurso de posse de Fernando Collor – redigido por José Guilherme Merquior, segundo consta – também deriva de Raymundo Faoro: a demonização do Estado, a visão fatalista que avalia os 500 anos de nossa história como uma sucessão de desastres, em contraposição às concepções que valorizam a dimensão nacional, a história e a cultura brasileira. Antes da primeira posse, em discurso no Senado, Fernando Henrique também se manifestou em favor de uma ruptura com a “Era Vargas”.
O discurso dos tempos de formação do PT apoiou-se em argumentação semelhante e que contou com larga aceitação: a denúncia do populismo, identificado a uma herança varguista, como fator de desorganização das classes subalternas, em especial, da classe operária.
A avaliação da conjuntura está ancorada nas interpretações do Brasil a partir da seguinte disjuntiva: temos que romper com nossa história – seja em uma direção liberal ou democrático-popular – ou trata-se de uma história que temos que continuar-descontinuando? Essa última, a valorização de uma cultura republicana, é a postura na qual tento me estabelecer.
A tradição republicana
Vejo a tradição republicana brasileira como um permanente processo de incorporação, por meio de uma incessante mobilização das massas populares, sempre sob o controle das elites. Desde o Império, concebemos a civilização como um projeto, um telos. O ideal republicano não surgiu, entre nós, a partir do mundo mercantil, ele nasceu na esfera pública, no Estado. O preço disso foi termos liberdades sempre precárias, sob o controle das elites governantes e das ordens corporativas. Mas a essa tradição devemos uma vida política e uma concepção do público que nunca se restringiram aos mecanismos sistêmicos do mercado.
Apesar do peso da vida econômica nas últimas três décadas, essas marcas institucionais de nossa tradição republicana não foram canceladas, ao contrário, se renovaram, sobretudo, nas instituições vinculadas ao direito, como é o caso do Ministério Público. Não sei até quando isso vai durar. O mundo do mercado não cessa de ganhar terreno, sobretudo depois do predomínio do eixo PSDB-PT. Mas há também razões e personagens para a resistência.
Ibéria e americanização
A Ibéria e a América estão muito enraizadas em nossa sociedade. Podemos sentir a presença da América nas razões da Independência, nas rebeliões liberais do Nordeste, na ação de intelectuais como Tavares Bastos, Teófilo Otoni, Rui Barbosa. No entanto, o avanço do interesse mercantil, do “americanismo”, nunca chegou ao plano da política com um projeto bem estatuído, pois lhes faltou coragem de abordar a questão agrária. Pregavam a reforma política, mas estancaram diante da necessidade de democratizar a propriedade da terra.
Permitiram assim que a tradição ibérica, com a qual nascemos, administrasse o Estado, defendesse o território e o ideal de unidade nacional, além de organizar a vida pública. E, mais à frente, com Vargas e JK, conduzisse a modernização da economia e do país com base em um planejamento estratégico, como nos casos da legislação trabalhista, do petróleo e do aço e do avanço, com Brasília, para a ocupação do Oeste. A esfera pública, com isso, ao portar a idéia do moderno, encontrou a sua forma de legitimação na república brasileira. Decerto que com o ranço autoritário de que somente agora começamos a nos desvencilhar.
A transição inacabada
Na última década do regime militar tivemos, no plano social e político, uma movimentação afirmativa fantástica. Foram mobilizadas milhões de pessoas. A ação operária foi generalizada, com greves em categorias que se mantiveram passivas por décadas. De outra parte, foi um momento de fastígio da opinião democrático-liberal – Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro. Tratava-se de um liberalismo muito particular, ancorado em uma tradição republicana que afirmava o público como uma dimensão poderosa. Essa marca perdurou na Constituição de 1988, como uma composição heteróclita entre a vertente republicana brasileira e os novos interesses emergentes.
A composição entre intelligentsia, sindicatos e elite política teve êxito em encurtar a permanência da ditadura. Mas com o avanço da luta, as forças políticas vitoriosas se desorganizam. Fernando Collor tentou, claramente, dar outro desfecho para a transição. Ele aceitou os limites, impostos pelo mercado, para uma intervenção reguladora na ordem econômica. Fernando Henrique também entrou nessa armadilha. Com o governo Lula essa situação se aprofundou.
A ditadura do mercado
Eu imaginei, em 2002-2003, que o governo Lula promoveria um retorno da tradição republicana. Havia indícios nessa direção: o discurso de posse, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – uma organização corporativa à maneira de Getúlio Vargas –, a revalorização do Estado e da questão nacional etc. Havia a esperança de uma releitura do tema ibérico pelas elites “americanas” oriundas do movimento sindical.
A tradição ibérica está exaurida, não tem mais como dirigir o país. Os “americanos”, isoladamente, também encontram dificuldades, como o episódio Collor demonstrou. A solução seria os “americanos” originários dos setores socialmente emergentes virem a conduzir os ibéricos, o moderno dirigindo o atraso. Fernando Henrique errou na mão ao aliar-se com o atraso oligárquico e não com a antiga Ibéria que fez o país. Na verdade, nossos representantes do mundo moderno não só se recusaram a dirigir a Ibéria como capitularam diante dos interesses da burguesia brasileira.
Direita, centro e esquerda
A sociedade brasileira perdeu nitidez. No final dos anos 1980, o espectro político estava definido de forma bem precisa. Havia uma tripartição entre liberais, sob comando de Collor; a tradição republicana, encarnada no PMDB e no centro político; e na esquerda, o PT, com sua gramática do social. Essa subdivisão hoje molda o PT, e de algum modo também o PSDB. Temos o PT neoliberal, de Luiz Gushiken e Antonio Palocci; o da prevalência da questão nacional, de Dilma Rousseff; e a ala esquerda que continua a pensar a questão social fora do âmbito da política.
Os intelectuais de direita que o jornal Folha de S.Paulo destacou em matéria recente foram todos criados pela mídia. Sem ela, não existiriam como intelectuais, pois não expressam, organicamente, os interesses das classes socialmente dominantes. A verdadeira direita no Brasil, e no mundo, resulta da naturalização do estado de coisas existente, de que se aceite que devemos ser governados pelas variáveis do mercado. Os economistas exercem um verdadeiro pontificado sobre a vida política brasileira.
Um outro mundo é possível?
A cena contemporânea é infernal. Não há como desconsiderar o contexto econômico. Outro mundo só será possível se levarmos em conta esse mundo como uma realidade efetiva. É preciso transformá-lo a partir de dentro. Foi isso que o regime Palocci abdicou de fazer. Não havia a possibilidade de uma ruptura, mas poderiam ter sido abertas algumas dissidências. O primeiro ano do governo Lula aparentou mostrar que seria factível combinar a ala do BNDES, com Carlos Lessa, e a turma do Antonio Palocci. Um lado não precisava prevalecer sobre o outro de uma maneira tão fulminante como aconteceu.
Na Universidade e na opinião pública, a tradição mais capacitada para pensar o país está sendo desarmada. Temos hoje uma ciência social inteiramente agachada diante do mundo, reverente a uma empiria cega e que se recusa a ver o estado falimentar de nossas principais instituições políticas. Tornou-se um saber inteiramente entregue à naturalidade da nossa sociologia e especular a ela.
Cabe à intelligentsia brasileira hoje, novamente, uma intervenção esclarecedora sobre o estado de coisas que assola o país. O outro lado não tem feito senão avançar em seu projeto de desfazer o que ainda resta de público na sociedade brasileira. O foco da resistência ainda é a Constituição de 1988 que institucionalizou, de algum modo, a tradição republicana brasileira.
Os novos puritanos
Uma das poucas manifestações culturais novas que percebo no Brasil de hoje é a dos pentecostais, com seu processo endógeno de formação de pastores, em geral, oriundos do mundo popular. A face visível desse fenômeno é o empreendedorismo, fruto de uma nova concepção ética do indivíduo e de uma pedagogia voltada para o trabalho. Trata-se de uma ressurgência do puritanismo que se floresceu antes na intelligentsia formada no auge do positivismo – Euclides da Cunha, Luiz Carlos Prestes –, dessa vez se reanima no lado de baixo da escala social. Esse movimento, em vez de ser relegado ao limbo por preconceitos de natureza religiosa, precisa ser mobilizado pelas forças políticas de orientação republicana, ao lado das fundamentais confissões tradicionalmente estabelecidas, para a mudança política e social.
PT e PSDB
PT e PSDB repetem o quadro do Império quando se dizia: nada mais parecido com um saquarema (conservador) do que um luzia (liberal) no poder. Trata-se de partidos nascidos do mundo do interesse paulista, com a tendência de liberar a economia dos constrangimentos políticos. Ambos com uma visão negativa da tradição republicana brasileira, assentada na denúncia do Estado patrimonial; ambos aderentes à teoria que considera o populismo como uma prática que mina a autenticidade da vida social. Tenho destacado essa comunhão interpretativa entre os dois, desde os anos 1980. São as torres gêmeas da ordem burguesa brasileira.
O PT depois da crise
Entre Lula e o PT estabeleceu-se um cisma sem solução, que tende a agravar-se com a reeleição de Lula. Se ganhar, ele irá governar com as razões de Estado, com as cláusulas de exceção, ditadas pelo mercado, que dominam a política brasileira. Não será uma vitória do PT nem dos movimentos sociais. O PT continuará amarrado. Em nenhum momento o presidente mobilizou os quadros do seu partido. As novidades foram esvaziadas, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A própria ideia de orçamento participativo saiu de cena. Enfim, a burocracia ganhou, mais uma vez.
Partido é como clube de futebol – metáfora à moda –, pode perder de sete que não desaparece. No entanto, o PT perdeu o viço e não foi apenas pelo decurso do tempo, mas por obra da política. Esse governo não precisava ter assumido, necessariamente, o caminho que tomou.
O futuro do país
O cenário que temos não é muito animador. Mas, penso que há um horizonte mais longínquo. Vejo sinais promissores na juventude, na cultura e, especialmente, na energia da vida popular brasileira. O brasileiro pobre não é um indiano agachado. Contamos também com instituições bem desenhadas, como as que regulam as competições eleitorais; e com corporações sólidas, como é o caso da magistratura e do Ministério Público. A Constituição de 1988, como baliza da vida social, cada vez mais penetra na consciência das pessoas comuns.
Leia mais
- Luiz Jorge Werneck Vianna (1938-2024)
- Uma difícil democracia: diálogos sobre a obra de Luiz Werneck Vianna. Uma homenagem
- A sociologia brasileira perde Luiz Werneck Vianna
- Morre o sociólogo Luiz Werneck Vianna
- Eleições municipais não trataram do fundamental: renda básica e emergência climática. “É muito atraso. É preciso um novo despertar”. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- A sociedade adoeceu. Diante da ameaça do fascismo, Brasil precisa de um artista, um político que seja senhor da arte de tecer algo comum. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Brasil vive uma guerra de posições: “Estamos num momento de empate; não de impasse”. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Bolsonaro e a proposta radical de criar uma sociedade compatível com o capitalismo neoliberal. Um modelo que “não tem futuro aqui”. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- 'O texto constitucional está em risco'. Para onde a balança do novo governo vai pender? Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- O terremoto de Junho de 2013 foi sufocado e não oxigenou a política brasileira. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- "O Judiciário usurpou o papel que era da política". Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- "A Carta de 88 e a democracia brasileira estão em risco. Ou aparece uma política de moderação, ou vamos ladeira abaixo". Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- É preciso coragem, paciência e ética de responsabilidade para interromper a modernização autoritária. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- A combinação explosiva do judiciário e a mídia, a poderosa energia da sociedade e o grande déficit de pensamento. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- O moderno pactuou com o atraso e a civilidade pactuou com a cordialidade. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- O nevoeiro persiste e as bolas de ferro nos pés nos mantêm no mesmo lugar. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Brasil vive uma mudança epocal ao se despedir da política dos últimos 80 anos. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- A sociedade tradicional brasileira estrebucha com a intervenção cirúrgica no mundo da política. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Luz amarela: chegou a hora de interpretar o Brasil com uma chave nova. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Social-democracia é a única via para a política brasileira. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- A patologia brasileira e seus remédios. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- Concretizar democraticamente o nacional-desenvolvimentismo. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- Uma travessia difícil. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- A hora é agora. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- Rumo a um bom entendimento da democracia. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- A senha do 11 de agosto. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- O que ainda nos falta. Artigo de Luiz Werneck Vianna
- Lendo e interpretando os sinais. Artigo de Luiz Werneck Vianna







