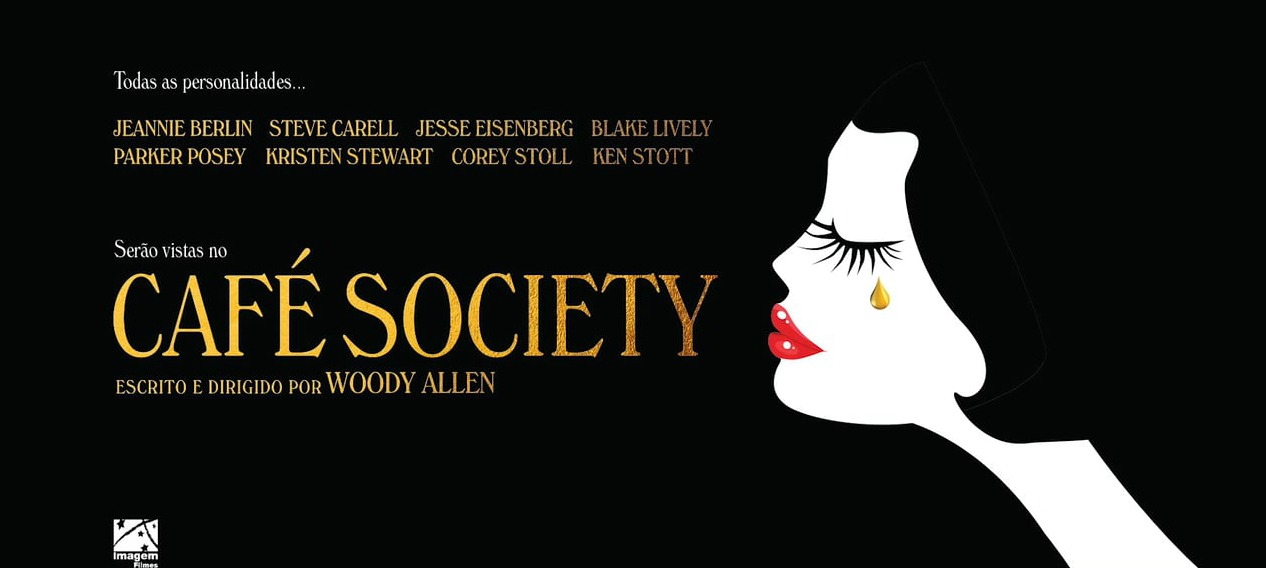11 Janeiro 2017
É compreensível que “Eu, Daniel Blake”, filme de Ken Loach em cartaz no Brasil desde a semana passada, tenha rendido aplausos, além de uma Palma de Ouro, em Cannes, e saudações como “joia humanista” por parte da crítica. O comentário é de Matheus Pichonelli, cientista social, publicado por CartaCapital, 10-01-2017.
O filme tem como proposta denunciar a precarização da classe trabalhadora britânica diante de um Estado burocratizado, mecanizado, insensível – e, no limite, assassino.
Para isso, acompanha a rotina de Daniel Blake, um carpinteiro de Newcastle que sofre um infarto, fica impedido de voltar ao trabalho e entra numa espiral surreal para obter seu auxilio-desemprego junto ao governo, além de enfrentar o estigma de quem associa o benefício, um direito, a uma certa indisposição ao trabalho.
Não precisamos mover um músculo para tomar um partido entre aquele Estado insensível, cheio de burocratas incompetentes, e portanto autoritário, e o do trabalhador injustiçado.
Jamais morei na Europa e, por mais que acompanhe as notícias e converse com amigos que estão ou estiveram no Velho Continente recentemente, não poderia avaliar a proximidade do retrato pintado por Loach da realidade local. Mas imagino, e só imagino, que um eleitor pró-Brexit, a saída do Reino Unido aprovada pelos ingleses em referendo em junho, exatamente um mês após a cerimônia em Cannes, repetiria tranquilamente algumas das premissas, ainda que justas, levantadas pelo filme.
Daniel Blake é o cidadão impotente diante de um Estado que falha em garantir sua dignidade quando ele mais precisa. Mais que isso, assiste inconformado à forma como os governos tratam, em suas baias, cartilhas decoradas e atendentes eletrônicos, cidadãos honestos como ele.
Blake não é só um sujeito das antigas, que viu o mundo mudar à sua volta e não conseguiu se adaptar (numa das cenas, ele vê pela primeira vez um mouse e tenta deslizar o equipamento sobre a tela do computador); é alguém ainda capaz de produzir e cultivar vínculos, de se sensibilizar e oferecer ajuda diante de injustiças, de lembrar aos mortos-vivos engolidos por um sistema desmoralizado e desmoralizante que ainda está vivo.
Tudo isso fica claro quando ele abre as portas da solidariedade a uma mãe abandonada por dois ex-maridos obrigada a buscar abrigo no interior com dois filhos porque o governo não ofereceu a ela nenhuma outra opção de moradia em Londres. Ela é o exemplo de um grupo social que, desamparado, não tem emprego nem tempo para se dedicar aos estudos para procurar empregos melhores.
O encontro entre a mãe solteira e o viúvo abandonado pelo governo é quase uma tentativa de restabelecimento de uma ordem familiar também sob risco, como se as peças faltantes em cada parte pudessem juntar forças e se reunir sob uma autoridade paterna até então ausente – uma autoridade que cuida, vigia, ensina, tudo o que, em tese, o governo peca em fazer.
Em entrevista ao El Pais, o cineasta afirmou: “As grandes corporações dominam a economia e isso cria uma grande leva de pessoas pobres. O Estado deve apoiá-las, mas não quer ou não tem recursos. Por isso cria a ilusão de que, se você é pobre, a culpa é sua. Porque você não preencheu seu currículo direito ou chegou tarde a uma entrevista”.
Até aqui, a crítica a este mundo desumanizado é justa, embora previsível – já na primeira cena podemos desconfiar que em algum momento esta mãe em desespero será tentada a aceitar algum atalho para sair da situação. Isso acontece a partir do convite de um homem de nome (ou cidadania, não me ficou claro) russa.
As cenas em que a mulher, cansada e faminta, tenta segurar o choro, e a forma como nos afeiçoamos a Daniel Blake, o sujeito fechado e durão que mais à frente descobriremos ter um grande coração, são uma tentativa de aproximação entre público e personagens, mas que a certa altura parece forçar a mão para nos criar empatia.
Mas a exposição ao sofrimento dos personagens não me parece o problema principal do filme. O problema principal é o recado de fundo. É como se Daniel Blake, o homem correto que luta para preservar a humanidade num período de mudanças, representasse uma integridade em perigo naquele país globalizado e conectado onde o vizinho, jovem e negro, usa seu endereço para receber e revender produtos chineses (à custa da indústria nacional, diria um cabo eleitoral conservador que se apropriaria, como se apropriou, daquela revolta para outros fins) e ninguém mais se importa em levar o cachorro para defecar no nosso quintal.
Blake, é verdade, chega a demonstrar simpatia pelo vizinho que deu um jeito de driblar o mercado local (há entre eles, aliás, uma amizade sincera), mas o pano de fundo está criado: o risco a essa “integridade” diante de governos supostamente maleáveis com os estrangeiros e suas portas de entrada mas que não reconhecem os direitos de seus cidadãos – trabalhadores, honestos e solícitos – foi determinante para que eleitores britânicos fossem seduzidos por discursos nacionalistas, anti-gobalização e, no limite, anti-imigração.
No filme, Loach parece se antecipar a um colapso prestes a ocorrer em seu quintal e se espalhar pelo mundo com uma crítica social correta, mas aparentemente insuficiente, como o foram as tentativas de compreender como a revolta contra cortes de direito, injustiças e governos despreparados resultaram em fenômenos como o Brexit, na Inglaterra, e Donald Trump, nos EUA, para não citar o impeachment em terras brasileiras.
Em sua obra, Loach se notabilizou por dar voz e protagonismo aos sujeitos injustiçados, os pequenos cidadãos que sofrem, absorvem, reagem e influenciam os grandes eventos da história. Estranha que, ao comentar o próprio filme, tenha dito que “se os pobres não aceitassem que a pobreza é sua culpa, poderia haver um movimento para desafiar o sistema econômico”. O movimento havia, mas ele acertou em outra ponta. O que não havia, talvez, era essa passividade projetada pelo diretor.
Em outras palavras, e lembrando que o filme é anterior ao referendo, em que momento trabalhadores similares a Daniel Blake foram seduzidos, na sequência, por respostas a esse colapso baseadas em propostas extemporâneas como o nacionalismo, o ódio ao estrangeiro, o fechamento de entradas e saídas em um mundo de fluxos, velocidades, conexões, compartilhamentos e diversidade. As explicações para isso, imagino, já não cabem no velho conflito entre trabalhadores e patrões, governos e cidadãos, burocratas insensíveis e humanidade surrada.
Não se pode dizer que esses conflitos que o filme tenta apontar em um modelo esquemático, quase maniqueísta, foram superados, mas sim emaranhados num mundo de fronteiras confusas e identidades (o título do filme, afinal, é a afirmação do eu, sujeito) e integridade em xeque. Daí a necessidade de buscar respostas onde as narrativas tradicionais, das quais o filme acaba fazendo parte, já não alcança.
Leia mais
- Ken Loach: “O Estado cria a ilusão de que, se você é pobre, a culpa é sua”
- As cloacas do capitalismo: quando ter trabalho não significa sair da pobreza
- "Os refugiados são responsabilidade de todos. Também é nossa culpa se ele fogem dos seus países." Entrevista com Ken Loach
- A voz dos mais fracos: o cinema político de Ken Loach
- A política do precariado no mundo do trabalho. Entrevista especial com Ruy Braga
- A organização do mundo do trabalho e a modelagem de novas subjetividades. Revista IHU On-Line N°. 416
- Terceirização: porta de entrada para a precarização. Entrevista especial com Ricardo Antunes
- Trump e Brexit: 5 fatores em comum
- Voto no Brexit revela os limites da democracia direta
- O Brexit e a globalização